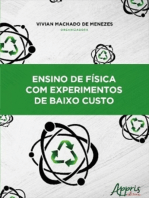Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
v23 n5 Rekovvsky
v23 n5 Rekovvsky
Enviado por
Lucas MaiaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
v23 n5 Rekovvsky
v23 n5 Rekovvsky
Enviado por
Lucas MaiaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
v.24 n.
6 2012
Programa de Ps-Graduao em Ensino de Fsica
UFRGS
Fsica na cozinha
Lairane Rekovvsky
Textos de Apoio ao Professor de Fsica, v.23 n.6, 2012.
Instituto de Fsica UFRGS
Programa de Ps Graduao em Ensino de Fsica
Mestrado Profissional em Ensino de Fsica
Editores: Marco Antonio Moreira
Eliane Angela Veit
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Setor de Processamento Tcnico
Biblioteca Professora Ruth de Souza Schneider
Instituto de Fsica/UFRGS
Impresso: Waldomiro da Silva Olivo
Intercalao: J oo Batista C. da Silva
R381f Rekovvsky, Lairane
Fsica na cozinha / Lairane Rekovvky Porto Alegre:
UFRGS, Instituto de Fsica, 2012.
63 p.; il. (Textos de apoio ao professor de fsica / Marco
Antonio Moreira, Eliane Angela Veit, ISSN 1807-2763; v. 24 , n.
6)
1. Ensino de Fsica 2. Educao de jovens e adultos 3.
Termodinmica 4. Eletromagnetismo I.Ttulo II. Srie.
PACS: 01.40.E
Produto educacional da dissertao de Mestrado Profissional em
Ensino de Fsica realizada por Lairane Rekovvsky, sob orientao do
Prof. Dr. Marco Antonio Moreira, junto ao Programa de Ps-
Graduao em Ensino de Fsica/UFRGS.
PPGEnFs/UFRGS
2
0
1
2
F
s
i
c
a
n
a
c
o
z
i
n
h
a
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
3
Sumrio
Introduo .............................................................................................................................. 5
Unidade 1 Dilatao trmica na cozinha.............................................................................. 7
Unidade 2 Transferncia de calor na cozinha .................................................................... 17
Unidade 3 Estudando presso na cozinha ........................................................................ 31
Unidade 4 - Experincias com microondas na cozinha......................................................... 43
Unidade 5 - A conta de luz: despertando para a economia domstica ................................. 51
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
5
Introduo
O ensino de Fsica em nvel tcnico integrado ao Ensino Mdio na modalidade PROEJA
(Programa Nacional de Integrao da Educao Profissional com a Educao Bsica na Modalidade
de Educao de Jovens e Adultos), cujo oferecimento obrigatrio nos IFs (Institutos Federais de
Educao, Cincia e Tecnologia), no deve ser um currculo de EJA, tampouco um currculo de
Educao Profissional. Tal currculo deve ser voltado para pessoas que trabalham ou que querem
trabalhar, e que no tm possibilidade de acesso e permanncia escolar na idade dita regular por
vrias razes. No entanto, diante dessa demanda, percebe-se uma restrio de carga horria
importante, que tambm observada em currculos de EJA oferecidos pela rede pblica estadual.
Devido ao pouco tempo destinado Fsica na grade curricular e forma como ela normalmente
desvinculada da realidade dos alunos, torna-se um desafio ao professor apresentar uma abordagem
mais contextualizada.
Partindo disso, foi elaborada e aplicada uma proposta denominada Fsica na Cozinha durante o
semestre 2012/1 com uma turma de 29 alunos do 3 semestre do Curso Tcnico em Administrao,
em nvel de PROEJA, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense/campus Sapucaia do Sul/RS. O
objetivo foi proporcionar uma aprendizagem de Fsica relacionada a conceitos de Termodinmica e
Eletromagnetismo a partir de situaes do cotidiano, em especial a partir da explorao de tcnicas,
receitas e equipamentos culinrios e de experincias que podem ser feitas em qualquer cozinha.
Desta proposta surgiu o trabalho de dissertao de Mestrado Profissional em Ensino de Fsica, sob
orientao do Prof. Dr. Marco Antnio Moreira, junto ao Programa de Ps Graduao em Ensino de
Fsica da UFRGS. De algumas experincias de sucesso e do aperfeioamento posterior de outras,
gerou-se o atual produto educacional, que se trata de um Texto de Apoio ao Professor de Fsica
composto de cinco unidades, contendo experincias que exploram conceitos fsicos no ambiente
culinrio.
A proposta aplicada, bem como este produto educacional tiveram como referencial terico a Teoria
dos Campos Conceituais de Grard Vergnaud (Moreira, 2002). Esta teoria parte de que o
conhecimento humano est organizado/estruturado em campos conceituais que so dominados ao
longo do tempo atravs de experincia, maturidade e aprendizagem. Outra ideia fundamental, de
acordo com Moreira (2002), alm de que a conceitualizao o ncleo do desenvolvimento cognitivo,
a de que so as situaes que do sentido aos conceitos. Como para Vergnaud no se aprende um
conceito em uma nica situao, so propostas diferentes situaes que proporcionam evidenciar,
ilustrar um mesmo conceito fsico, procurando apresent-las num grau crescente de complexidade.
A seguir descrita a estrutura desse produto educacional, que est dividido em cinco unidades
didticas:
Unidade 1 Dilatao trmica na cozinha
Unidade 2 Transferncia de calor na cozinha
Unidade 3 Estudando presso na cozinha
Unidade 4 - Experincias com microondas na cozinha
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
6
Unidade 5 - A conta de luz: despertando para a economia domstica
Cada uma das unidades contm experincias relacionadas ao seu ttulo. Tanto as unidades como as
experincias podem ser abordadas de forma independente. As experincias esto divididas em
Ttulo, Objetivo, Conceitos Fsicos abordados, Materiais necessrios para experincia, o
Desenvolvimento propriamente dito e Notas, onde so apresentadas observaes, curiosidades e a
mediao entre o desenvolvimento da experincia e os conceitos fsicos envolvidos.
As experincias sugeridas podem ser feitas em uma cozinha domstica ou no refeitrio de uma
escola. Elas se justificam pelo fato de muitas escolas pblicas no disporem de um laboratrio de
Fsica, mas ainda que bastante precrio, possuem um refeitrio onde so preparadas e realizadas as
refeies; tambm por ser a cozinha um ambiente comum ao cotidiano de todos.
Vale ressaltar que este produto educacional no tem carter de servir de livro texto, tampouco aborda
os conhecimentos prvios necessrios para interpretar as experincias, cabendo ao professor dar
este suporte e se necessrio adaptar cada experincia ao seu contexto, elaborando seu prprio plano
de aula. Ainda que no seja oferecido um contedo de substncia conceitual, so recomendados
livros, outros produtos educacionais, artigos, vdeos e simulaes.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
7
Unidade 1 Dilatao trmica na cozinha
Nesta unidade so sugeridas experincias na cozinha envolvendo o conceito de dilatao trmica.
Como texto de apoio recomenda-se os textos e simulaes do site desenvolvido por Gonalves
(2004)
1
.
Experincia 1: desamassando uma bolinha de tnis de mesa
2
Objetivos: utilizar a propriedade de dilatao volumtrica do ar para desamassar uma bolinha de
tnis de mesa.
Conceitos fsicos: dilatao trmica e temperatura.
Materiais
- bolinha de tnis de mesa pouco amassada
- panela com gua fervente
Desenvolvimento
Coloque a bolinha de tnis de mesa amassada (Figura 1) dentro de uma panela com gua fervente.
Verifique que em menos de um minuto a bolinha volta ao formato original (Figura 2).
Figura 1. Bolinha de tnis de mesa amassada. Figura 2. Bolinha depois de ser colocada em
gua fervente.
Notas
Quando se coloca a bolinha em contato com a gua quente, o ar no seu interior aquecido, fazendo
com que a presso sobre as paredes internas aumente. A diferena entre a presso interna e externa
empurra as paredes da bolinha para fora, desamassando-a.
1
Fsica trmica est disponvel em: < http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/>. Acesso em: 14 out. 2012.
2
Um vdeo desta experincia est disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=pWmVdTiE1mc>. Acesso em: 12 out. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
8
Se o amassado for muito profundo ela volta forma original com mudana de cor no local do
amassado, pela deformao irreversvel do plstico. Tambm se observa na foto que a cor da tinta da
caneta desbotou com a gua quente.
O tnis de mesa tambm conhecido como ping-pong ou pingue-pongue, em portugus.
Experincia 2: bales no freezer
3
Objetivos: verificar a dilatao volumtrica do ar em bales.
Conceitos fsicos: dilatao trmica e temperatura.
Materiais
- balo
- fita mtrica
- caneta hidrocor
Desenvolvimento
Encha o balo com ar e risque uma circunferncia com caneta hidrocor. Em seguida mea o
comprimento da linha e anote. Leve o balo ao congelador da geladeira ou a um freezer (Figura 3) e
deixe durante um intervalo de tempo de pelo menos uma hora. Retire o balo do freezer e mea
novamente o comprimento da linha.
Discuta com os alunos o que aconteceu.
Figura 3. Balo no congelador.4
Notas:
Quanto mais tempo o balo ficar no congelador do refrigerador, maior ser a diferena no
comprimento da linha. O ideal que o balo seja colocado no freezer no primeiro perodo de aula do
dia e retirado no ltimo.
3
Adaptado do texto de Schroeder, C. disponvel em:
<http://www.if.ufrgs.br/tapf/v16n1_Schroeder.pdf>. Acesso em: 13 out. 2012.
4
Imagem disponvel em: <http://www.if.ufrgs.br/tapf/v16n1_Schroeder.pdf>. Acesso em: 10 nov.
2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
9
Pode-se questionar o que aconteceria com a circunferncia do balo se ele voltasse temperatura
inicial (se possvel, aguardem at que isso acontea).
Experincia 3: lminas bimetlicas no forno domstico
Objetivos: compreender que lminas bimetlicas esto presentes em eletrodomsticos como o forno
eltrico.
Conceitos fsicos: dilatao trmica e temperatura.
Material
Papel metlico retirado do interior de carteiras de cigarros.
Fsforos
Desenvolvimento
Explique com uma simulao ou exemplos o que so lminas bimetlicas e comente sua aplicao
no controle de temperatura de ferros de passar, fornos eltricos, etc.
No interior de carteiras de cigarros comum se encontrar uma folha com um lado de papel branco e
o outro metlico, colados entre si. possvel verificar o comportamento de uma lmina bimetlica
cortando uma tira deste papel e aproximando-a de uma chama, mantendo-a a certa distncia para
evitar que o papel queime, conforme a Figura 4.
Figura 4. Lmina bimetlica feita com papel da carteira de cigarros.5
Observa-se que a lmina se enrola para cima quando a parte metlica est voltada para a chama e
se enrola para baixo quando a face de papel est prxima da chama. Isso ocorre porque o metal se
dilata mais do que o papel.
Notas
O controle de temperatura do ferro de passar roupas ou do forno eltrico feito por um termostato
constitudo por uma lmina bimetlica que se dilata e se curva, formando um arco, quando aquecida,
5
Fonte da imagem: Luz (2005), p. 66.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
10
interrompendo o circuito eltrico. Quando resfriada, a lmina permanece plana e torna a fazer o
contato no circuito eltrico, conforme Figura 5.
Figura 5. Simulao de lmina bimetlica6
Para a experincia com o papel metlico da carteira de cigarros, leve as tiras cortadas e no solicite
nem estimule que alunos entrem em contado com cigarros.
Experincia 4: abrindo um vidro de conserva
Objetivos: verificar que diferentes materiais se dilatam de maneira diferente.
Conceitos fsicos: dilatao trmica e temperatura.
Materiais
- recipiente com gua quente
- vidro de conserva
Desenvolvimento
O professor apresenta um recipiente de vidro com compota ou conserva
7
fechado com tampa
metlica e desafia os alunos a usar a propriedade de dilatao trmica para abr-lo.
Notas
Ao se colocar o vidro invertido com a tampa metlica mergulhada na gua, torna-se fcil abrir o
recipiente depois de alguns instantes (Figura 6).
6
Simulao disponvel em: <http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/>. Acesso em: 24 jul. 2012.
7
O termo compota ser utilizado para doces e conserva para salgados.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
11
Figura 6. Vidro de conserva abre facilmente depois de se mergulhar a tampa em gua quente.
O metal dilata-se mais do que o vidro deixando uma folga entre eles, isso de deve ao metal possuir
coeficiente de dilatao trmica maior do que vidro e, portanto, dilatar-se mais para uma mesma
variao de temperatura.
Mesmo sem aquecer a tampa, mais fcil abrir um vidro temperatura ambiente do que gelado. Da
mesma forma como o metal dilata-se mais quando a temperatura aumenta, contrai-se mais quando
ela diminui, prendendo-se firmemente ao vidro.
Na charge da Figura 7 feita uma experincia semelhante proposta aqui. Pois, se aquecendo a
tampa metlica da garrafa, apenas ela se dilata (o gargalo pouco aquecido), soltando-a facilmente.
Figura 7. Aquecendo-se a tampa metlica de uma garrafa fica mais fcil abri-la.8
Experincia 5: fazendo conservas ou compotas
9
Objetivos: discutir conceitos de termodinmica na elaborao de compotas ou conservas caseiras.
Conceitos fsicos: dilatao trmica, temperatura e presso.
Materiais
8
Fonte da imagem: Luz (2005), pg. 55.
9
O termo compota ser utilizado para doces e conserva para salgados.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
12
- frutas da poca
- acar
- gua
- legumes
- sal
- vinagre
- temperos
Desenvolvimento
Nesta experincia se prope executar uma receita
10
de um site ou livro discutindo os cuidados
necessrios durante o preparo, como a necessidade de ferver vidros totalmente cobertos de gua, de
envasar ainda quente, ferver aps o envase e resfriar o recipiente na posio invertida.
Notas
Como exemplo, sugerida a apresentao de um vdeo
11
intitulado Envase de compotas e a
discusso de alguns trechos.
De 2:50 3:30: sugerido que os vidros vazios sejam fervidos totalmente cobertos de gua. Isto
feito para evitar que rachem por diferena de dilatao entre a parte submersa e a fora dgua.
Tambm que seja colocado um pano em volta dos vidros, isso evita que eles se choquem. Ainda,
solicitado que a tampa metlica deva ser apenas mergulhada na gua. Diferente dos vidros, que
fervem por bastante tempo, o revestimento de borracha da tampa resseca se mantido por muito
tempo na gua quente e pode prejudicar o vedante da tampa.
De 4:43 5:22: Se solicita que no se envase o vidro at a borda, deixando um espao para
formao de vcuo (vazio). Quando se fecha o vidro ainda quente, o resfriamento produz uma
diminuio do volume do contedo do recipiente interno.
De acordo com o Teorema de Pascal, essa diminuio de presso se transmite pela gua e pela
bolha de ar. Como o ar mais compressvel que a gua, a diminuio de presso acaba por refletir
na bolha de ar. O resultado final que a presso interna do conjunto ligeiramente menor do que a
presso atmosfrica. s vezes possvel ver a tampa levemente afundada, como na Figura 8. Na
hora de abrir, comum se introduzir uma faca, por exemplo, entre a tampa e o vidro, abrindo
passagem para o ar e equilibrando a presso interna e externa, no entanto isso pode estragar a
vedao definitivamente.
10
Sugere-se oblogue Mistura fina. Disponvel em:
<http://conservas-misturafina.blogspot.com.br/2011/05/higiene-e-pasteurizacao-no.html>.
Acesso em 15 out. 2012
11
Envase de compotas Coleo Unio. Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=RrJJ7n8ygpI&feature=related>. Acesso em: 10 jun. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
13
Figura 8. Aviso em recipiente de conserva de palmito: "Compre somente se o boto estiver abaixado".
De 5:316:36: Para realizar o processo que o vdeo chama de pasteurizao, os vidros so cobertos
de gua fervente pela metade, pois agora cheios no h mais risco de racharem. Embora o termo
pasteurizao seja utilizado em culinria como ferver para eliminar bactrias, o termo correto
esterilizao por banho-maria, pois a pasteurizao prev um choque trmico. O que se fez neste
caso foi esterilizar o ar que ficou no vidro quando foi despejada a conserva. Em seguida os vidros so
colocados invertidos sobre uma mesa, com a tampa para baixo, impedindo que o ar entre.
Experincia 6: cortando vidro
Objetivos: utilizar a dilatao trmica do vidro para cort-lo.
Conceitos fsicos: dilatao trmica e temperatura.
Materiais
- garrafa de vidro sem rtulo
- luvas de borracha
- culos de proteo
- barbante
- lcool etlico 96GL (ou querosene)
- balde com gua fria
Desenvolvimento
Importante: Para fazer esta experincia use luvas de borracha e culos de proteo.
Encha um balde de gua pela metade. Mergulhe o barbante no lcool 96GL ou querosene (evapora
mais lentamente), conforme Figura 9. Preencha a garrafa com gua at a altura em que ser
amarrado o barbante. Enrole o barbante na garrafa na linha da gua e amarre com um n tipo volta
do fiel, como nas figuras 10 e 11. O n duplo cria um caroo que faz com que a chama seja mais alta
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
14
naquele ponto, consequentemente, o vidro rompe-se numa altura maior, deixando o corte sem
uniformidade.
Figura 9. Barbante no lcool. Figura 10. N volta do fiel12.
Neste momento, afaste o lcool ou querosene do ambiente e certifique-se de que suas mos no
esto molhadas com o combustvel. Coloque fogo no barbante que est amarrado na garrafa, assim
que apagar mergulhe a garrafa no balde com gua. Tente torcer a garrafa, voc ouvir um estalo de
quebra. A garrafa ser cortada como na figura 12.
Para dar um acabamento melhor lixe ou leve a garrafa numa vidraaria para ser lixada. Cuidado
para no se cortar.
Figura 11. Barbante amarrado na garrafa. Figura 12. Garrafa cortada.
Notas
O vidro um material que leva um tempo desconhecido para se decompor. Por isso, melhor que
jog-lo na lixeira comum separar uma boa quantidade e destinar a locais de coleta seletiva. Alm
disso, voc pode reaproveitar as garrafas na decorao de sua casa, como na Figura 13.
12
Imagem disponvel em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Volta_Fiel>. Acesso em: 11 ago. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
15
Figura 13. Luminrias feitas com garrafas cortadas13
No site de onde foram extradas as imagens acima h sugesto de um vdeo
14
que ensina a cortar
garrafas vertendo-se um fio de gua quente com uma chaleira e em seguida aplicando um choque
trmico com gua fria. No obteve-se sucesso com esta tcnica, porm, a partir deste vdeo se teve
acesso a vrios outros
15
que permitiram aperfeioar a tcnica at se chegar a apresentada acima.
possvel observar pela Figura 12 que a ruptura da garrafa ocorre acima da altura onde amarrado
o barbante, pois a chama sobe por conveco. O corte tambm no uniforme pela conveco ser
irregular, sendo necessrio lixar a garrafa para se obter o acabamento como mostrado na Figura 13.
Foram feitas duas tentativas de se aquecer a garrafa na posio horizontal. A primeira tentativa foi
feita com barbante e a segunda com uma trilha de lcool gel em vez do barbante. Em ambos os
casos o vidro no atingiu a temperatura suficiente para rachar quando mergulhado na gua.
No vdeo
16
do blog Coisas feitas com coisas mostrado um cortador de vidro feito com resistncia
eltrica. Embora o mtodo seja pouco seguro para fazer com alunos, por risco de choque eltrico,
bastante eficiente e produziu um corte uniforme. A resistncia usada do tipo utilizado em avirios,
normalmente vendida enrolada em um cone de porcelana.
apropriado comentar a diferena da resistncia a variaes de temperatura entre o vidro comum e
o vidro refratrio, conhecido popularmente por Pirex, Figura 14.
13
Imagens disponveis em: <: http://vinhosweb.com.br/dica.php?Id=94>. Acesso em: 23 out. 2012.
14
Vdeo Cutting a Wine Bottle with Hot Water . Disponvel em: <
http://www.youtube.com/watch?v=PMTYjn_Knt8&feature=player_embedded>. Acesso em: 12 out.
2012.
15
Video How to cut a bottle using household items! Disponvel em:
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=yHWYjMlYH50&NR=1. Aceso em: 15 out. 2012.
16
Disponvel: < em: http://coisasfeitascomcoisas.blogspot.com.br/>. Aceso em out. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
16
Figura 14. Refratrio de vidro pirex.17
Um prato ou copo de vidro grosso comum estala e pode se quebrar quando colocamos gua muito
quente, pois as paredes internas se dilatam antes das externas. Este efeito no visto to facilmente
nos pratos de vidro mais finos, porm pode acorrer se enchermos, mesmo que fino, um copo pela
metade, pois haver uma maior dilatao na parte que contm gua quente. O mesmo no ocorre
com pratos e copos feitos com vidros especiais como o Pirex que possuem coeficiente de dilatao
18
menor do que o vidro comum, resistindo a grandes variaes de temperatura sem ruptura.
Tambm se pode comparar o comportamento do vidro com o de um recipiente metlico, por exemplo,
que sofresse o mesmo choque trmico. O metal, ao contrrio do vidro, malevel, mesmo
temperatura muito abaixo do ponto de fuso.
17
Imagem disponvel em: < http://www.cheftvshop.com.br/home-16-produtos/travessa-refrataria-em-
vidro-18-x-33-5cm-pyrex.html>. Acesso em: 10 nov. 2012.
18
Coeficiente de dilatao linear 20C: vidro comum= 9x10
-6 o
C
-1
; vidro pirex =1,2x10
-6 o
C
-1
. Gaspar
(2003)
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
17
Referncias
CHEF TV Shopping. Travessa refratria em vidro 18 x 33,5cm Pyrex. Disponvel em: <
http://www.cheftvshop.com.br/home-16-produtos/travessa-refrataria-em-vidro-18-x-33-5cm-
pyrex.html>. Acesso em: 10 nov. 2012. (Imagem)
COISAS feitas com coisas. Disponvel: em:< http://coisasfeitascomcoisas.blogspot.com.br/>. Acesso
em: 10 out. 2012. (Blog)
CUTTING a Wine Bottle with Hot Water. Disponvel
em: <http://www.youtube.com/watch?v=PMTYjn_Knt8&feature=player_embedded>. Acesso em: 01
out. 2012. (Vdeo)
ENVASE de compotas. (Coleo Unio). Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=RrJJ7n8ygpI&feature=related>. Acesso em: 27 jun. 2012. (Vdeo)
GASPAR, A. Fsica: volume nico. So Paulo: tica, 2003.
GONALVES, L. J. Fsica trmica. Disponvel em: <http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/>. Acesso em: 02
out. 2012.
FIXING a dented ping pong Ball. Disponvel em: <http://www.youtube.com/watch?v=pWmVdTiE1mc>.
Acesso em: 01 out. 2012. (Vdeo)
HOW to cut a bottle using household items! Disponvel em:
http://www.youtube.com/watch?v=yHWYjMlYH50>. Acesso em: 10 out. 2012. (Vdeo)
LUZ, A. M.R. da; lvares, B.A. ALVARENGA, B. Fsica. So Paulo: Scipione, 2005, v.2.
MISTURA fina. Disponvel em: <http://conservas-misturafina.blogspot.com.br/2011/05/higiene-e-
pasteurizacao-no.html>. Acesso em: 10 out. 2012. (Blog)
MOREIRA, M. A. Teoria dos campos conceituais de Vergnaud, o ensino de cincias e a pesquisa
nesta rea. Investigaes em Ensino de Cincias, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 7-29, jan./abr. 2002.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
18
Disponvel em: < http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol7/n1/v7_n1_a1.html>. Acesso em: 02 out.
2012.
SCHROEDER, C. Atividades experimentais de fsica para crianas de 07 a 10 anos. Porto
Alegre: Instituto de Fsica, Mestrado Profissionalizante em Ensino de Fsica - UFRGS, 2005. (Textos
de apoio ao professor de fsica, v. 16). Disponvel em:
<http://www.if.ufrgs.br/tapf/v16n1_Schroeder.pdf>. Acesso em: 10 out. 2012.
VOLTA do Fiel. Wikipedia, a enciclopdia livre. Disponvel em:
< http://pt.wikipedia.org/wiki/Volta_Fiel>. Acesso em: 11 ago. 2012. (Imagem)
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
19
Unidade 2 Transferncia de calor na cozinha
Esta atividade prope experincias, que podem ser feitas independentemente, sobre formas de
transferncia de energia na forma de calor na cozinha. Para auxiliar o docente so recomendados os
seguintes Textos de Apoio ao Professor de Fsica: de Marques (2009)
19
; Michelena (2008)
20
, das
pginas 39 a 50; Gonalves (2004)
21
e do site Gonalves (2004)
22
; e GREF (1998)
23
, das pginas 29
40, O vdeo
24
do Telecurso 2000 de Cincias do Ensino Fundamental Qumica na cozinha,
embora antigo, aborda de forma contextualizada os conceitos de bons e maus condutores de calor e
formas de transferncia de energia na forma de calor (conduo, conveco e irradiao) na cozinha.
Nas experincias sugeridas abaixo, a de nmero 1 sobre conduo; a de nmero 2 sobre
conveco; as de nmero 3 e 4 sobre radiao e a de nmero 5 envolve os trs processos.
Experincia 1: conduo de calor na cozinha
Objetivos: compreender a transferncia de energia na forma de calor por conduo; diferenciar
condutores e isolantes e demonstrar que os metais so bons condutores de calor.
Conceitos fsicos: conduo de calor, condutores e isolantes e temperatura.
Materiais
- Barra metlica (pode ser um arame ou um espeto de churrasco)
- vela
- fsforo
- percevejos metlicos
Desenvolvimento
Pingue cera de vela (parafina) na barra metlica (pode ser um arame ou espeto de churrasco, como
utilizado) e enquanto a cera estiver lquida, grude um percevejo em cada gota, conforme figura 15.
Depois que a cera esfriar, acenda a vela e, segurando a barra pela extremidade ou fixando-a, por
19
Disponvel em:< http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v20n5_marques_araujo.pdf>. Acesso em: 10 out.
2012.
20
Disponvel em:< http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v19n5_Michelena_Mors.pdf>. Acesso em: 11 out.
2012.
21
Disponvel em:< http://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/5.zip>. Acesso em: 10 nov. 2012.
22
Disponvel em:< http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/>. Acesso em: 10 nov. 2012.
23
Disponvel em:< http://www.if.usp.br/gref/termo/termo2.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2012.
24
Disponvel em:<
http://www.youtube.com/watch?v=9BRYAEmwNeI&playnext=1&list=PLCF4C0F11DE632B01&feature
=results_video.>. Acesso em:14 out. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
20
exemplo, sob um livro, aquea a outra extremidade. Verifica-se que os percevejos caem em ordem,
medida que a barra se aquece, Figura 16.
Figura 15. Espeto com percevejos presos com parafina. Figura 16. Chama da vela derretendo parafina.
Notas
Esta experincia tambm pode ser realizada atravs de uma simulao computacional, Figura 17.
Figura 17. Simulao do experimento com percevejos.25
A partir desta experincia sugerido levar os alunos at uma cozinha ou refeitrio para que
identifiquem materiais isolantes e condutores.
As panelas e chaleiras usadas em uma cozinha devem ser feitas de metal para que aqueam
rapidamente. Mas seus cabos geralmente so feitos de madeira ou de plstico (assim como o cabo
do espeto utilizado na experincia), maus condutores de calor, conforme Figura 18, a fim de dificultar
o aquecimento da mo de quem segura o utenslio.
25
Disponvel em: < http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/conducao1.htm>. Acesso em: out. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
21
Figura 18. Panelas e chaleiras devem ter cabo isolante para seu manuseio.
Tambm interessante ressaltar a eficincia de panelas de ao inox com fundo triplo, Figura 18. Elas
so feitas com duas camadas de ao inox, envolvendo uma camada de alumnio que por se melhor
condutor que o ao inox distribui o calor da chama de maneira mais uniforme, facilitando o cozimento
dos alimentos. Se o alumnio for substitudo por cobre, o aquecimento ainda mais homogneo e
rpido em toda sua superfcie interna.
Figura 19. Panela de ao inox com fundo triplo. 26
Para evitar aquecimento da mesa por conduo usamos esteiras de algum material isolante,
geralmente madeira, entre a mesa e a panela. E para evitar que o alimento resfrie rapidamente se
substitui o recipiente de metal por cermico para lev-lo mesa.
As paredes das geladeiras, assim como do forno, so forradas com l de vidro para evitar trocas de
calor.
Sempre que se quer um bom isolamento trmico para a conduo de calor, procuram-se materiais
que tenham a propriedade de manter uma camada de ar estacionria no seu interior, impedindo desta
forma tambm a transmisso do calor por conveco. A l, Figura 20, um excelente isolante trmico
26
Disponvel em:< http://www.tramontina.com.br/pergunta-frequente/9-como-funciona-o-fundo-triplo-
das-panelas-de-aco-inox-tramont>. Acesso em: 12 out. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
22
por armazenar ar entre as suas fibras. Isso tambm justifica o motivo pelo qual a l de vidro melhor
isolante que o vidro que lhe deu origem. Tambm, para obter esse efeito, que pssaros eriam suas
penas em dias frios de modo a manter entre elas camadas de ar.
Figura 20. - Tecido de l ampliado 20 vezes.27
Uma geladeira com m vedao na porta pode permitir a entrada de ar. Para isso sugere-se um teste
para verificar a sua vedao. Consiste em colocar uma folha de papel entre a porta e a borracha da
geladeira e fech-la. Espera-se que a folha no deslize, Figura 21.
Figura 21. Teste de vedao da porta da geladeira.
Experincia 2: conveco na cozinha
Objetivos: compreender a transferncia de energia na forma de calor por conveco.
Conceitos fsicos: conveco e temperatura.
Materiais
27
Imagem extrada de: < www.if.ufrgs.br/public/tapf/v20n5_marques_araujo.pdf >. Acesso em: 12 out.
2012
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
23
- panela ou leiteira de vidro
- serragem
Desenvolvimento
Quando se aquece gua em uma vasilha, h formao de bolhas de ar que sobem, enquanto outras
descem. Se voc colocar serragem na gua, esse fenmeno fica mais evidente. Ao aquecer a gua,
a serragem ajuda a evidenciar as correntes de conveco, Figura 22.
Figura 22. Correntes de conveco em uma jarra.28
A camada inferior de gua aquecida por conduo, pelo alumnio ou vidro da panela. A gua
aquecida se dilata e sobe, sendo que a gua da camada superior (mais fria), desce, ocupando o lugar
da que subiu. Por diferena de densidade, a gua aquecida sobe e a gua fria desce.
Notas
Um simulao deste experimento est disponvel no site de Gonalves (2004), Figura 23.
Figura 23. Simulao de correntes de conveco.29
Em um refrigerador ocorre a formao de correntes de conveco, figura 24. O congelador recebe
energia por conduo das camadas de ar em contato com o ele. O ar dessa regio resfria e torna-se
mais denso, deslocando-se para a parte de baixo do refrigerador. Enquanto que as camadas de ar
28
Imagem da extrada pg. 31 de: < http://www.if.usp.br/gref/termo/termo2.pdf>. Acesso em: 13 out.
2012.
29
Disponvel em: http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/conveccao.htm. Acesso em: 15 out. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
24
que esto na parte de baixo, pelo fato de o ar quente ser menos denso, deslocam-se para cima. um
movimento exatamente contrrio ao descrito na vasilha com gua quando aquecida. Essa circulao
de ar, chamada conveco, faz com que a temperatura seja aproximadamente a mesma em todos os
pontos do refrigerador, com exceo da parte interna do congelador. por isso que os refrigeradores
possuem o congelador na parte superior. Os refrigeradores chamados duplex que possuem o
congelador separado, tanto na parte superior como inferior, nas geladeiras mais modernas, possuem
duas unidades de refrigerao; uma para o congelador e outra para a geladeira.
Figura 24. Congelador na parte superior proporciona correntes de conveco.30
necessrio que as prateleiras da geladeira sejam vazadas para facilitar a conveco do ar.
Refrigeradores que possuem prateleiras inteiras, de acrlico ou vidro, possuem ventilador que provoca
uma conveco forada tornando a temperatura uniforme. Este ventilador, naturalmente, aumenta o
consumo de energia do equipamento.
A temperatura mais elevada dos armrios superiores da cozinha tambm uma consequncia da
conveco do ar. O ar quente sobe, e permanece em contato com eles.
No h problema em aproveitar a energia liberada na parte traseira da geladeira para, por exemplo,
secar roupas. O problema est em esquecer uma pea grande, como uma toalha de banho, que ir
bloquear a sada de ar quente.
Em outra experincia o ar aquecido ao redor de uma lmpada incandescente sobe e faz girar um
helicide de papel, Figura 25.
30
Imagens extrada de: < www.if.ufrgs.br/public/tapf/v20n5_marques_araujo.pdf >. Acesso em:12 out.
2012
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
25
Figura 25. Correntes de conveco do ar giram helicide.
Um ventilador de teto, fixado acima de uma lmpada incandescente, apesar de desligado, por
receber correntes de conveco, gira lentamente algum tempo aps a lmpada estar acesa.
Percebe-se que roupas agitam-se suavemente, pela conveco, quando so estendidas em varal
sobre fogo lenha.
Experincia 3: radiao na cozinha
31
Objetivos: compreender a transferncia de energia na forma de calor por radiao.
Conceitos fsicos: radiao, ondas eletromagnticas e temperatura.
Recursos
- dois termmetros
- duas garrafas pet de refrigerante 500ml vazias
- papel alumnio
- tinta preta
- uma lmpada de 100W
Desenvolvimento
Embrulhe uma das garrafas com papel alumnio e pinte a outra garrafa de preto. Encha as garrafas
com gua at uma altura de aproximadamente dois dedos, mea a temperatura da gua nos dois
casos e tampe as garrafas. Coloque as garrafas sob a lmpada acesa e aguarde aproximadamente
10 minutos, Figura 26. Mea novamente a temperatura da gua nas duas garrafas.
31
Adaptado de: < http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v19n5_Michelena_Mors.pdf> . Acesso em: 12 out.
2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
26
Figura 26.Garrafas com gua, uma enrolada com papel alumnio e a outra pintada de preto, sendo aquecidas
pela lmpada32
Notas
Os corpos de cor escura absorvem boa parte da radiao visvel e infravermelha incidente sobre eles.
J corpos de cores claras refletem grande parte da radiao visvel e infravermelha que incide sobre
eles. Esse o motivo de se recomendar a utilizao de roupas claras em dias quentes.
As ondas eletromagnticas que so mais facilmente absorvidas so as ondas da regio do
infravermelho. A partir da experincia de aquecimento de garrafas de cores diferentes possvel
observar o fenmeno da transferncia de calor por irradiao. Constata-se que ao final dos 10
minutos a garrafa preta apresenta temperatura superior da garrafa embrulhada em papel alumnio.
Enquanto a conduo e a conveco somente ocorrem em meios materiais, a irradiao acontece
tanto em alguns meios materiais como no vcuo (ausncia de matria). E a energia transmitida pelas
ondas eletromagnticas, ao serem absorvidas por um corpo, aumenta sua energia interna,
aquecendo-o. A energia radiante no aquece o meio em que se propaga, s aquece quando
absorvida por ele.
Qualquer corpo cuja temperatura superior do zero absoluto emite energia radiante. Em maior ou
menor grau, todos os corpos emitem energia radiante proporcional temperatura; quanto maior a
temperatura, mais ele irradia. No entanto, um corpo s emite radiao visvel em quantidade
suficiente para impressionar o olho humano quando a sua temperatura est acima de 500C.
Durante esta experincia o professor pode mostrar o espectro eletromagntico e explicar que a
radiao infravermelha se comporta como a luz visvel, no precisando de um meio para se propagar
e que a energia emitida pelo Sol chega at ns atravs de ondas eletromagnticas.
Experincia 4 Aquecendo alimentos embrulhados em papel alumnio
Objetivo: compreender a transferncia de energia na forma de calor por radiao.
32
Imagem de: < http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v19n5_Michelena_Mors.pdf> . Acesso em:12 out.
2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
27
Conceitos fsicos: radiao, ondas eletromagnticas, reflexo e temperatura.
Recursos
- dois copos com 100ml de gua cada
- duas folhas de mesmo tamanho de papel alumnio (tamanho suficiente para embrulhar cada copo)
- 2 termmetros
- forno eltrico
Desenvolvimento
Embrulhe cada um dos copos com um pedao de papel alumnio. Um copo deve ser embrulhado com
a parte brilhante voltada para fora, o outro com a parte fosca para fora. Aquea o forno eltrico a
200C por 10 minutos e desligue-o. Imediatamente introduza os dois recipientes por 5 minutos no
forno e retire-os. Com os termmetros mea a temperatura da gua em cada recipiente.
Notas
Ao final, a gua do copo com cobertura fosca estabilizou temperatura em 36.9C e a gua com
cobertura brilhante estabilizou em 35C, conforme Figuras 27 e 28.
Figura 27. Copos envoltos em papel alumnio. Figura 28. Temperaturas medidas para a gua.
A experincia foi repetida com batatas, em vez de copos com gua. Para isso se cortou uma batata
pequena ao meio e se embrulhou cada metade com o mesmo tamanho de papel alumnio, porm
uma com a face do papel brilhante voltada para fora e a outra, com a face fosca voltada para fora,
Figura 29. Colocou-se as batatas sobre um prato e se levou ao forno desligado, com temperatura
inicial de 200C por 5 mim. Depois de retiradas do forno, se introduziu um termmetro no centro de
cada batata mesma profundidade. A temperatura para a batata envolta com o papel alumnio com a
face fosca voltada para fora foi de 37.2C e a face brilhante de 36.1C, Figura 30.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
28
Figura 29. Batatas embrulhadas em papel alumnio. Figura 30. Temperatura de cada batata
Observe a escala do termmetro utilizado. A quantidade de gua e o tempo sugerido so para um
termmetro digital de uso hospitalar com escala entre 32C e 42C. Independente da escala do
termmetro no deixe tempo suficiente para a gua entrar em equilbrio trmico com o forno, ou que
seja atingida sua temperatura de ebulio.
De acordo com Wolke (2003, p. 92), e com HowStuffWorks
33
(2012) no faz diferena que lado do
papel alumnio se usa, seja qual for a finalidade. Segundo os autores, o fato de o papel alumnio ter
uma face fosca e a outra brilhante puramente em funo de seu processo de fabricao. Eles
explicam que nos estgios finais de produo duas folhas so enroladas juntas, como um sanduche,
para economizar tempo. A face que tiver contato com o rolo polido sai brilhante, a outra fosca. J
outros autores dizem que melhor deixar o lado brilhante para dentro, simplesmente porque gruda
menos no alimento. Isto est em desacordo com as duas experincias feitas.
A concluso que se chega, diferente do autor de O que Einstein disse a seu cozinheiro, Wolke (2003),
que a velocidade de aquecimento muda dependendo da face escolhida. No difcil perceber que
a luz reflete melhor incidindo sobre uma superfcie brilhante. Assim, se o uso culinrio do papel
alumnio for para assar, o lado brilhante deve ficar virado para dentro para agilizar o processo. Mas se
o papel alumnio for usado para conservar algo fresco como uma fruta ou sorvete, a face brilhante
dever ficar virada para o lado de fora para refletir as ondas.
A experincia tambm pode ser feita embrulhando-se dois alimentos quentes a mesma temperatura.
Depois de um tempo espera-se que aquele que foi embrulhado com a parte brilhante para fora estar
mais prximo da temperatura ambiente. J embrulhando dois objetos frios a mesma temperatura,
espera-se que depois de um tempo aquele que foi embrulhado com a parte fosca para fora estar
com a temperatura mais prxima da ambiente.
H sugesto de uma experincia mais sofisticada, que tambm no foi realizada. Colocando-se duas
aves com apito que indica quando est pronto, embrulhadas, uma com a face brilhante para fora e
outra com a face fosca, se espera que o peru embrulhado com a face opaca para fora apite primeiro.
33
Disponvel em: <http://ciencia.hsw.uol.com.br/ciencia-na-cozinha4.htm>. Acesso em:12 out. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
29
Experincia 5: a garrafa trmica
Objetivos: compreender a transferncia de energia na forma de calor por conduo, conveco e
radiao.
Conceitos fsicos: condutor, isolante, conduo, conveco, radiao, ondas eletromagnticas e
temperatura.
Recurso
- garrafa trmica
Desenvolvimento
Desmonte uma garrafa trmica, conforme Figura 31, e explore este dispositivo cuja finalidade
principal manter praticamente constante a temperatura do seu contedo pelo maior tempo possvel.
Para isso, evitam-se perdas tanto quanto possvel, por conduo, conveco e radiao.
Figura 31. Garrafa trmica34
Notas
A funo da garrafa trmica dificultar as trocas de calor de seu contedo com o ambiente externo
da seguinte maneira:
As paredes internas so feitas de vidro que, por ser mau condutor trmico, atenua as trocas de calor
por conduo de calor.
As paredes internas tambm so duplas e separadas por uma regio de vcuo, cuja funo tentar
evitar a conduo e a conveco do calor que passa pelas paredes de vidro.
O vidro de que so feitas as paredes internas da garrafa espelhado para que as ondas
infravermelhas sejam refletidas, atenuando dessa forma as trocas por radiao.
A tampa isolante dificulta tambm a conduo.
34
Imagem extrada de: < www.if.ufrgs.br/public/tapf/v20n5_marques_araujo.pdf >. Acesso em: 12 out.
2012
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
30
preciso ressaltar que no existe isolamento trmico perfeito. Mesmo com cuidados citados, aps
certo tempo o contedo da garrafa trmica acaba atingindo o equilbrio trmico com o ambiente.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
31
Referncias
A QUMICA na cozinha. Telecurso 2000. Aula 48 Cincias Ensino Fundamental. Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=9BRYAEmwNeI&playnext=1&list=PLCF4C0F11DE632B01&featur
e=results_video>. Acesso em: 10 out. 2012.
GONALVES, L. J. Fsica trmica. Disponvel em: <http://www.if.ufrgs.br/cref/leila/>. Acesso em: 24
jul. 2012
GONALVES, L. J. Fsica trmica. Produto Educacional. Disponvel em: <
http://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/18.zip>. Acesso em: 10 nov. 2012.
GREF. Leituras de Fsica: Fsica Trmica. Instituto de Fsica USP. 1998. Disponvel em:
<http://www.if.usp.br/gref/termo/termo2.pdf>. Acesso em: 16 out. 2011.
HOW Stuff Works. Como funcionam as coisas. Disponvel em:< http://ciencia.hsw.uol.com.br/ciencia-
na-cozinha4.htm>. Acesso em: 16 out. 2012.
MARQUES, N. L. R.; Araujo, I. S. Fsica trmica Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Fsica, 2009.
(Textos de apoio ao professor de fsica). Disponvele em:<
www.if.ufrgs.br/public/tapf/v20n5_marques_araujo.pdf >. Acesso em: 12 out. 2012
MICHELENA, J. B.; MORS, P.M. (2008). Fsica trmica: uma abordagem histrica e experimental .
Textos de Apoio ao Professor de Fsica - IF-UFRGS. V.19n.5 Disponvel em: <
http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/v19n5_Michelena_Mors.pdf >. Acesso em: 17 out. 2012.
TRAMONTINA. Como funciona o fundo triplo das panelas de ao inox Tramontina?
Disponvel em:< http://www.tramontina.com.br/pergunta-frequente/9-como-funciona-o-fundo-triplo-
das-panelas-de-aco-inox-tramont>. Acesso em: 10 out. 2012.
WOLKE, R.L. O que Einstein disse a seu cozinheiro. (trad. Helena Londres). Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2002.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
32
Unidade 3 Estudando presso na cozinha
Nesta unidade so sugeridas experincias que exploram o conceito de presso na cozinha. As
experincias 2, 3 e 4 foram transcritas, com modificaes, do artigo de Pimentel (2004)
35
.
Experincia 1: separando a gema da clara do ovo por diferena de presso
Objetivos: utilizar a diferena de presso para separar a gema da clara do ovo.
Conceito fsico: presso
Recursos
- prato fundo ou tigela
- ovo
- garrafa pet
Desenvolvimento
Coloque o ovo em um prato fundo e pressione as laterais da garrafa pet. Aproxime a garrafa
da gema e solte as laterais. Conforme Figuras 32 e 33.
Figura 32.Gema e da clara do ovo. Figura 33. Separao da gema do ovo por diferena de presso.
Notas
A gema do ovo, comportando-se como um fludo tende a ir para a regio de menor presso.
A experincia pode ser vista em um vdeo
36
.
35
PIMENTEL, J.R.; Yamamura , P. A fsica na cozinha: explorando recipientes com tampa abre-
fcil. Disponvel em: < http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol5/Num2/v5n1a07.pdf>. Acesso em: 22 set.
2012
36
Como separar a gema da clara facilmente. Sem baguna e sem sujar os dedos. Disponvel
em:<http://www.youtube.com/watch?v=p5MR_yll1Y0>. Acesso em: 12 out. 2012
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
33
Experincia 2: produzindo jato de gua com tampa abre fcil
37
Objetivo: utilizar recipientes de vidro dotados de tampa do tipo abre fcil, que so empregados
para acondicionar, por exemplo, pats, geleias e requeijo, para um experimento envolvendo o
Teorema de Pascal.
Conceitos fsicos: presso e fora.
Recursos
-recipiente vazio (aprox. 150ml)
- tampa metlica
-anel de vedao
- o lacre plstico que se remove para abrir o recipiente.
Desenvolvimento
Encha completamente o recipiente com gua. Em seguida, coloque cuidadosamente a tampa e
pressione-a rpida e firmemente com os polegares, conforme Figura 33, observe que um comprido
jato de gua sai pelo orifcio.
Figura 34. Jato produzido pela rpida compresso na tampa38.
Notas
O professor pode propor uma competio para ver quem consegue fazer o jato atingir maior
altura e tambm pode discutir quais fatores determinam esta altura. Os autores do artigo
citam como fatores a intensidade da fora aplicada pelos polegares sobre a tampa e, por
consequncia, da presso que exercida sobre a gua no recipiente, alm da rapidez com que esta
presso exercida.
37
Adaptado do artigo A fsica na cozinha: explorando recipientes com tampa abre-fcil. Disponvel
em: < http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol5/Num2/v5n1a07.pdf>. Acesso e, 22 set. 2012
38
Foto extrada do artigo A fsica na cozinha: explorando recipientes com tampa abre-fcil.
Disponvel em: < http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol5/Num2/v5n1a07.pdf>. Acesso em: 22 set. 2012
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
34
Como a tampa est em contato com a superfcie do lquido, o Teorema de Pascal garante que a
presso adicional (P) aplicada na tampa transmitida para a gua que deveria diminuir o seu
volume, deformar-se ou romper o recipiente. Nenhuma destas hipteses ocorre, principalmente em
virtude da existncia do orifcio aberto na tampa por onde a gua escoa para fora do recipiente, que
a regio de menor presso.
Os autores demonstram, a partir do teorema do Trabalho-Energia, que se na tampa for aplicada uma
diferena de presso de um centsimo do valor da presso atmosfrica (P = 0,01 x 10
5
Pa), o jato
poder atingir um metro de altura.
Experincia 3: Segurando gua com tampa abre fcil
39
Objetivos: Utilizar um recipiente de vidro dotado de tampa do tipo abre fcil, que empregado
para acondicionar, por exemplo, pats, geleias e requeijo, para um experimento que verifica a
atuao da presso atmosfrica.
Conceito fsico: presso atmosfrica
Recursos
- recipiente vazio (aprox. 150ml)
- tampa metlica
- anel de vedao
- o lacre plstico que se remove para abr-la.
Desenvolvimento
Preencha o recipiente completamente com gua e tampe mantendo a tampa pressionada, o lacre
plstico deve ser colocado corretamente na regio cncava da tampa, para vedar o orifcio. Feito isto,
a tampa pode deixar de ser pressionada. Em seguida, o conjunto pode ser disposto com a tampa
voltada para os lados e mesmo para baixo (Figura 35), sem que a gua caia. Ou ainda movimentada,
desde que no vigorosamente.
39
A adaptado do artigo A fsica na cozinha: explorando recipientes com tampa abre-fcil.
Disponvel em: < http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol5/Num2/v5n1a07.pdf>. Acesso em: 22 set. 2012
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
35
Figura 35. Conjunto com a tampa voltada para baixo.
Notas
Se o recipiente estiver cheio de gua quando a tampa for colocada, um pouco de gua ir sair pelo
orifcio. Mantenha a tampa pressionada e retire o excesso de gua antes de posicionar o lacre.
Ao se colocar o lacre plstico e deixar de pression-lo, ele tende a voltar ao formato inicial por ser
deformvel. Isso diminui a presso interna no recipiente que, de acordo com o Teorema de Pascal, se
transmite pela gua e pelo ar da bolha de ar, que mais compressvel. A bolha se expande e facilita
o retorno da tampa ao formato original. O resultado final que a presso interna do conjunto
ligeiramente menor do que a presso atmosfrica. A tampa metlica deformvel atua como uma
ventosa.
Considerando o valor da presso atmosfrica, ao nvel do mar, como aproximadamente igual a 10
5
N/m
2
ou 10 N/cm
2
, pode-se avaliar o valor da fora necessria para retirar a tampa do conjunto. A
tampa do recipiente tem rea aproximada de 38 cm
2
. Se a presso interna for diminuda de 1 atm, a
fora necessria para vencer a diferena de presso atuante, e retirar a tampa, seria de 380 N.
Supondo, de acordo com o raciocnio dos autores, que a presso interna tenha diminudo somente
1/200 da presso atmosfrica, a fora necessria para retirar a tampa seria de 1,9 N. Uma vez que o
volume aproximado do recipiente de 150 cm
3
, quando ele estiver cheio de gua, e totalmente
voltado para baixo, sobre a tampa atuar uma fora peso de 1,5 N (desprezando-se o peso da prpria
tampa), valor insuficiente para vencer a diferena de presso. Dessa anlise, verifica-se que mesmo
uma diminuio pequena na presso interna implica num valor razovel da fora necessria para
retirar a tampa, o que explica o resultado observado.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
36
Experincia 4: Verificando a atuao da presso atmosfrica com tampa abre fcil
40
Objetivo: utilizar um recipiente de vidro dotado de tampa do tipo abre fcil, que empregado para
acondicionar, por exemplo, pats, geleias e requeijo, para verificar a existncia de presso
atmosfrica.
Conceitos Fsicos: presso e transformao isovolumtrica.
Recursos
-recipiente vazio (aprox. 150ml)
- tampa metlica
- anel de vedao
- o lacre plstico que se remove para abr-la.
Desenvolvimento
Aquea um volume de gua suficiente para colocar no recipiente. Encha o recipiente quase
completamente, de modo que fique um pequeno volume de ar. Encaixe corretamente o lacre de
vedao na tampa. Coloque a tampa e deixe o conjunto esfriar (para que o anel de vedao assente
corretamente enquanto estiver esfriando, pode-se colocar um objeto pesado sobre a tampa, como,
por exemplo, um livro). Quando o recipiente estiver frio, tente retirar a tampa, puxando-a com a mo.
Verifique que ela no se solta.
Notas
O resfriamento do conjunto faz com que a gua, a bolha de ar e o vidro estejam sujeitos a uma
contrao volumtrica (V), em conformidade com a conhecida expresso: V=V
0
T, onde
representa o coeficiente de dilatao volumtrica do material, V
0
seu volume inicial e T a variao
de temperatura. Como os coeficientes de dilatao volumtrica do vidro e da gua so pequenos em
relao ao do ar, a variao de volume no muito elevada;
Como o recipiente se encontra fechado, o volume da massa de ar mantido praticamente constante
e o processo pode ser aproximado como sendo uma transformao isovolumtrica. Ento, admitindo
que o ar obedea a equao de estado de um gs ideal, dela se deduz que a presso final da bolha
de ar deve diminuir durante o resfriamento. Alm disso, medida que o conjunto resfria, o vapor de
gua presente na bolha de ar se condensa. De acordo com o diagrama de fase para a gua, essa
mudana em seu estado fsico diminui a presso da bolha. Quanto mais quente estiver a gua
utilizada, maior a temperatura do vapor e maior ser a diminuio de presso experimentada pela
bolha de ar.
40
A adaptado do artigo A fsica na cozinha: explorando recipientes com tampa abre-fcil.
Disponvel em: < http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol5/Num2/v5n1a07.pdf>. Acesso e, 22 set. 2012
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
37
O que faz a presso diminuir o efeito combinado de uma transformao isovolumtrica e da
condensao de vapor de gua em seu interior, que provoca a diferena de presso e torna difcil
retirar a tampa do recipiente.
Outra variao do experimento, sugerida pelos autores, e que permite constatar a importncia da
diminuio de presso ocasionada pela condensao do vapor de gua, consiste em colocar gua
bem quente no recipiente e, em seguida, jog-la fora. Na sequncia, colocar a tampa com o lacre e
sobre ela um objeto pesado, para mant-la na posio correta enquanto o conjunto esfria. Nessa
situao, a temperatura do vapor de gua aprisionado no recipiente ser alta. A diminuio da
presso interna, provocada por seu resfriamento e condensao ser significativa. Quando o conjunto
estiver frio, a diferena de presso atuante ser suficiente para comprimir a tampa para baixo,
impedindo que seja retirada com facilidade.
Na linha de produo industrial de conservas, a tampa colocada depois da parte superior da
embalagem ter sido aquecida (geralmente usando vapor temperatura prxima de 80 C). Aps seu
resfriamento, se obtm o valor mnimo de presso interna exigida pela legislao e se consegue uma
diferena de presso suficiente para manter a tampa presa por longo tempo, conforme Figura 36.
Figura 36. Aviso em recipiente de conserva de palmito: "Compre somente se o boto estiver abaixado"
Experincia 5: fervendo gua temperatura ambiente
41
Objetivos: Utilizar uma seringa para observar que a gua pode ser fervida temperatura ambiente.
Conceito fsico: presso atmosfrica
41
Seara da Fsica Fervendo gua na seringa. Disponvel em:
<http://www.seara.ufc.br/sugestoes/quimica/quimica026.htm> . Acesso em: 15 jul. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
38
Recursos
-Seringa descartvel
- gua
- Panela pequena
- Fonte de calor (fogo)
Desenvolvimento
Coloque um pouco de gua na panela e aquea entre 40 e 50C, ou at quando comearem a surgir
as primeiras bolhas de ar no fundo da panela. Puxe um pouco de gua, cerca de um quinto do
volume da seringa, tomando o cuidado de no deixar entrar nenhuma bolha de ar. Caso voc tenha
algumas bolhas de ar, coloque a seringa na vertical com o bico para cima, bata levemente nas
paredes e aperte o mbolo da seringa at que ela saia completamente. Imediatamente aps tampe a
ponta da seringa com o dedo e puxe o mbolo para trs, com fora, mas sem retir-lo
completamente. Observe e repita o procedimento algumas vezes.
Notas
Quando se puxa o mbolo da seringa fechada a presso diminui no interior seu interior, tornando a
ebulio da gua mais fcil.
Quando se aquece a gua a uma temperatura inferior sua temperatura de ebulio, as bolhas de
vapor no conseguem se formar, pois so esmagadas pela presso atmosfrica. Ao se atingir a
temperatura de ebulio, a presso das bolhas de vapor se torna igual presso externa e
conseguem sair do lquido. Em locais elevados, onde a presso externa menor do que 1 atmosfera,
a gua entra em ebulio a uma temperatura menor que 100C. Quanto maior a altitude, menor ser
a presso atmosfrica, e mais fcil ser fazer a gua entrar em ebulio, como na experincia.
Experincia 6: A panela de presso
Objetivo: Demonstrar o funcionamento da panela de presso.
Conceito Fsico: presso.
Recurso
- uma panela de presso.
Desenvolvimento
Demonstre como funciona a panela de presso.
Notas
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
39
O vdeo da aula 26
42
de Fsica do Telecurso 2000 mostra uma animao de como funciona a panela
de presso (intervalo de 3:00 a 3:52).
Cozinhar transferir energia para os alimentos atravs da gua. A gua ferve normalmente a 100C,
ao nvel do mar e num recipiente aberto. A cada quilmetro acima do nvel do mar, a temperatura de
ebulio diminui 3C. O Monte Everest, por exemplo, est h pelo menos 8,5 km de altitude. Como
8,5x3 = 25,5; 100-25,5= 74,5C. Isso implica que a gua ferve a 74,5C no Everest.
Quando colocamos a panela de presso no fogo fornecemos energia, na forma de calor, e
as molculas aumentam sua agitao aumentando a temperatura. Com maior nmero de
choques, aumenta a presso no interior da panela. O aumento da presso faz a gua entrar em
ebulio a uma temperatura acima de 100C. medida que fornecemos calor a presso
aumenta at a medida que suficiente para levantar a vlvula com pino (Figura 37). Dessa
forma o vapor comea a escapar pela vlvula e a presso do vapor se estabiliza, assim como a
temperatura do interior da panela (esse o momento de baixar o fogo).
Figura 37. Panela de presso.43
Se a sada de vapor pela vlvula com pino for impedida, a vlvula de segurana, mostrada na
Figura 36, expulsa.
Recomenda-se no encher muito a panela nem ferver leite condensado enlatado com o
rtulo, pois o mesmo se solta e pode obstruir a sada de vapor da vlvula com pino.
Cuidado ao abrir a panela, pois muito mais grave se queimar com vapor do que com gua mesma
temperatura. Pois alm da energia absorvida para baixar a temperatura da gua at a de
42
Telecurso 2000 2 Grau - Fsica - Aula 26 (1 de 2). Disponvel em: <
http://www.youtube.com/watch?v=qLlXXNqKlK4>. Acesso em: 12 out. 2012.
43
Imagem disponvel em: < http://www.vocesabia.net/wp-content/uploads/2008/03/panela22.gif>.
Acesso em: 15 nov. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
40
nosso corpo se absorve a quantidade de energia para liquefazer o vapor, que de acordo
com o grfico da Figura 38 considervel.
Figura 38. Grfico de energia absorvida durante aquecimento para uma massa de 0,2kg de gua44
Ao contrrio da panela de presso que se deseja cozinhar a grandes temperaturas, existem alimentos
que devem ser cozidos de forma lenta a uma temperatura controlada. A tcnica de banho-maria
45
,
utilizada para fazer pudins (Figura 39), por exemplo, permite que o alimento nunca passe da
temperatura de 100C a nvel do mar, desde que haja gua no recipiente em que ele est imerso.
Figura 39. Pudim em banho-maria.
Da mesma forma que a presso de um recipiente fechado aumenta quando a temperatura aumenta o
contrrio tambm verdadeiro. Ao fechar a porta da geladeira o ar temperatura ambiente que entra
resfria e contrai, selando a porta, que ento no precisa de trinco.
Referncias
44
Fonte. Gaspar (2003)
45
Processo de aquecer, cozinhar, derreter ou evaporar uma substncia mergulhando parcialmente o
recipiente que a contm em gua fervente.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
41
COMO separar a gema da clara facilmente. Sem baguna e sem sujar os dedos. Disponvel
em:<http://www.youtube.com/watch?v=p5MR_yll1Y0>. Acesso em: 14 out. 2012. (vdeo)
GASPAR, A. Fsica, Volume nico. So Paulo/SP: Editora tica, 2003.
HOJE a torcida est "esquentada"! Telecurso 2000. Aula 26 (1 de 2) Fsica. Disponvel em: <
http://www.youtube.com/watch?v=qLlXXNqKlK4>. Acesso em: 10 out. 2012. (vdeo)
PIMENTEL, J. R.; Yamamura , P. A fsica na cozinha: explorando recipientes com tampa abre-fcil.
Fsica na Escola, v. 5, n. 2. p. 26-28. 2004. Disponvel em:
< http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol5/Num2/v5n1a07.pdf>. Acesso em: 22 set. 2012
SEARA da Fsica. Fervendo gua na seringa. Disponvel em:
<http://www.seara.ufc.br/sugestoes/quimica/quimica026.htm> . Acesso em: 15 jul. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
43
Unidade 4 - Experincias com microondas na cozinha
O microondas gera muitos mitos na cozinha. frequente alunos acreditarem que as microondas
podem contaminar os alimentos ou ento que podem tirar o seu valor nutritivo, ou ainda, que fazem
mal sade. No h facilidade em encontrar bons textos sobre microondas, no entanto se sugere
como texto de apoio elaborado por Mai; Balzaretti; Schmidt (2008)
46
. Tambm possvel fazer
download de um arquivo completo compactado
47
, do mesmo autor, incluindo animaes e figuras
sobre o funcionamento e o processo de aquecimento do aparelho.
Experincia 1: Estourando ovos no microondas
Objetivos: Compreender como so aquecidos os alimentos no microondas.
Conceito fsico: ondas eletromagnticas.
Recursos
- 1 ovo
- forno de microondas
Desenvolvimento
Coloque o ovo dentro do microondas, ligue-o e observe que o ovo estourar.
Notas
Esta experincia, ainda que produza um tanto de sujeira, feita como demonstrao. Evitando que
muitos repitam em suas casas. recomendvel colocar sobre o ovo um pote plstico transparente,
assim o ovo s vai sujar o pote e o prato do microondas.
O aquecimento no microondas ocorre de forma rpida e somente a parte lquida do ovo aquecida
pelas microondas. A casca se aquece lentamente, apenas por conduo. A casca do ovo forma uma
'panela de presso' sem vlvula de segurana, fazendo com que ele estoure, semelhante ao que
ocorre com a pipoca. importante furar alimentos lquidos que estejam envoltos por membrana
impermevel como gema, bacon, tomate.
Experincia 2: Encontrando a velocidade da luz com chocolate no microondas48
Objetivo: determinar a velocidade da luz utilizando um microondas e uma barra de chocolate.
46
Disponvel em: <http://www.if.ufrgs.br/tapf/v18n6_Mai_Balzaretti_Schmidt.pdf> Acesso em: 12 out.
2012.
47
Disponvel em: <http://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/18.zip>. Acesso em: 13 out. 2012
48
STAUFFER, R. H. Finding the speed of light with marshmallows. The Physics Teacher, Stony
Brook, v. 35, n. 4, p. 231, Apr. 1997.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
44
Conceitos fsicos: ondas eletromagnticas e aquecimento.
Recursos
- Forno de microondas
- Rgua
- Barra de chocolate
- Suporte para apoiar o prato giratrio impedindo que ele gire (pode ser uma tigela de sobremesa de
vidro).
Desenvolvimento
49
1. Mantenha a base do prato do microondas esttica, colocando o prato sobre a tigela de sobremesa
invertida, por exemplo.
2. Coloque a barra de chocolate sobre o prato.
3. Aquea em potncia mnima. As microondas no aquecero o chocolate uniformemente e haver
derretimento apenas em alguns pontos.
4. Retire o prato do microondas e observe estes pontos derretidos. Com uma rgua mea a distncia
(D) entre os pontos derretidos. Mea a distncia centro-a-centro entre quaisquer dois vizinhos mais
prximos e preencha a tabela. Faa uma mdia.
D
mdia
(cm) =
__________
D
mdia
(m) = __________
5. Voc vai descobrir que estas distncias se repetem mais e mais. Esta distncia, cerca de 6 cm,
corresponde metade do comprimento de onda do microondas. O comprimento de onda obtido
multiplicando-se D por 2.
mdio
(m) = __________
6. Agora gire o forno e olhe o valor da frequncia de microondas. Microondas comerciais operam em
geral em 2450 MHz.
7. Calcule a velocidade da luz(v): Velocidade= Frequncia (f) x Comprimento de onda()
V= f= _____________
8. Calcule o erro encontrado em relao ao valor esperado (3x10
8
m/s)
Notas:
49
Roteiro adaptado. Texto disponvel em:
<http://nhscience.lonestar.edu/physics/stinnett/docs/phys1402/EC%20Finding%20the%20speed%20o
f%20Light%20with%20Marshmallows.doc>. Acesso em: 15 out. 2012
D (cm) D (cm)
1 4
2 5
3 6
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
45
Um forno de microondas produz ondas eletromagnticas que tm comprimentos de onda da ordem
de alguns centmetros. Estas microondas so refletidas nas paredes internas do forno e interferem
umas com as outras produzindo regies de amplitude mxima e regies de amplitude mnima, Figura
40. O resultado que o forno de microondas no cozinha uniformemente e apenas alguns pontos
quentes so formados. Esta a razo porque o prato deve girar para possibilitar o aquecimento
uniforme.
Figura 40. Ondas estacionrias no interior de um forno de microondas.50
A partir de um vdeo
51
utilizando chocolate, a experincia foi realizada (Figuras 42 44). Com a
distncia mdia de 6 cm entre os pontos (medido no sentido perpendicular ao mostrado na Figura
43), se encontrou o valor esperado para a velocidade da luz. No entanto se observa que a distncia
medida na Figura 43 de 9,5 cm.
Figura 41. Chocolate a ser derretido. Figura 42. Chocolate no microondas.
50
Imagem disponvel em: <http://www.if.ufrgs.br/tapf/v18n6_Mai_Balzaretti_Schmidt.pdf> Acesso em:
12 out. 2012.
51
Measure the Speed of Light - With Chocolate! Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=7WXW2bBWBEg>. Acesso em: 17 jul. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
46
Figura 43. Medio dos pontos de derretimento (9,5 cm ). Figura 44. Frequncia do equipamento (2450MHz)
Tambm se realizou a experincia com outro tipo de chocolate (Figuras 45 e 46), porm os pontos
variam um pouco suas distncias.
Figura 45. Outra tentativa Figura 46. Dificuldade de visualizar os pontos
E por fim, a experincia foi feita espalhando chocolate derretido numa superfcie maior, conforme
Figura 47, para obter mais pontos. O centro dos pontos de derretimento foi marcado com botes,
Figura 48. A distncia entre os nove pontos que aparecem na figura so 9cm, 6,5cm, 6cm, 10cm,
6cm, 9cm, 6cm, 11cm, 5,5cm, o que d uma mdia de 7,6cm. Descartando-se o quarto e o oitavo
ponto, pois so praticamente o dobro do esperado, sugerindo que devia haver um outro ponto entre
eles, a mdia fica em 6,8cm; 14% acima do valor esperado.
Figura 47. Chocolate sendo vertido em recipiente. Figura 48. Pontos de derretimento marcados com botes.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
47
Tambm foi testada a experincia Encontrando a velocidade da luz com marshmallows
52
(STAUFFER, 1997). De acordo com a Figura 49, disponvel no artigo, os pontos de derretimento so
bem definidos.
Figura 49. Estudante medindo a distncia entre pontos derretidos (Foto: Ashley Miller)53
No entanto, com marshmallows os resultados foram piores do que com chocolate, com pontos de
derretimento pouco definidos (Figuras 50 a 53), diferente do artigo e do vdeo
54
vistos. Seria
necessrio adaptar a potncia e/ou tempo de aquecimento, porm, optou-se por no seguir as
experincias com marshmallows devido ao seu custo e dificuldade de limpeza dos utenslios.
Figura 50. Marshmallows. Figura 51. Marshmallows no microondas.
52
Finding the speed of light with marshmallows. Disponvel em: <
http://www.physics.umd.edu/ripe/icpe/newsletters/n34/marshmal.htm>. Acesso em: 17 jul. 2012.
53
Imagem disponvel em Staufer (1997).
54
Marshmallow speed of light Expt.. Disponvel em: <http://www.youtube.com/watch?v=SRzVZyFUP-
A&feature=player_embedded>. Acesso em: 17 jul. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
48
Figura 52. Marshmallows aquecidos. Figura 53. Pontos de derretimento.
.
Outra tentativa, a partir de experincia disponvel no Youtube, foi com clara de ovo
55
(Figuras 54 a
57). Usando um forno de microondas, clara de ovos e um prato para medir a velocidade da luz. Nesta
experincia foi medida a distncia entre os pontos que se tornaram esbranquiados. O resultado foi
semelhante ao encontrado para o chocolate.
Figura 54. Ovos Figura 55. Claras separadas das gemas
Figura 56. Claras de ovo sendo espalhadas Figura 57. Marcao de pontos esbranquiados.
55.
Measurring the speed of light. Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=zOyTYRY7XwQ&feature=related>. Acesso em: 17 jul. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
49
LABUR et al (2000)
56
sugereM que a experincia seja realizada com papel trmico para fax, como
na Figura 58. O autor relata que quando realizado o experimento sugerido por Stauffer (1997), os
padres encontrados no correspondem medida esperada para a velocidade da luz. Da mesma
forma, quando se faz com papel de fax. Tambm, sugere desconsiderar o procedimento de medida
dos comprimentos de onda, utilizando a experincia apenas para constatar as ondas
eletromagnticas formadas no interior do forno de microondas.
Figura 58. Padro de ondas estacionrias do forno de microondas no papel trmico de fax.
56
Artigo disponvel em:
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Ciencias/Artigos/visualiza
ndo_ondas_eletromagneticas.pdf>. Acesso em: 11 ago.2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
50
Referncias
AUTOR FINDING the speed of light with marshmallows. Disponvel em:
< http://www.physics.umd.edu/ripe/icpe/newsletters/n34/marshmal.htm>. Acesso em: Jul. 2012.
(Vdeo)
LABUR, C. E. et al. Visualizando ondas eletromagnticas
Estacionrias (um experimento na cozinha de
casa). Departamento de Fsica UEL Londrina PR. Disponvel em:
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Ciencias/Artigos/visualiza
ndo_ondas_eletromagneticas.pdf>. Acesso em: 11. Ago.2012
MAI, I.; BALZARETTI, N. M.; SCHMIDT, J. E. Utilizando um forno de microondas e um disco rgido
de um computador como laboratrio de fsica. IF-UFRGS. 2008. (Textos de Apoio ao Professor de
Fsica v.18 n.6). Disponvel em: < http://www.if.ufrgs.br/tapf/v18n6_Mai_Balzaretti_Schmidt.pdf>.
Acesso em: 12 out. 2012.
MAI, I.; BALZARETTI, N. M.; SCHMIDT, J. E. Utilizando um forno de microondas e um disco rgido
de um computador como laboratrio de fsica. IF-UFRGS. 2008. Produto Educacional. Disponvel em:
< http://lief.if.ufrgs.br/pub/cref/18.zip>. Acesso em: 12 nov. 2012.
MARSHMALLOW speed of light expt.. Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=SRzVZyFUP-A&feature=player_embedded>. Acesso em: 12 jul.
2012. (vdeo)
MEASURE the speed of light - with chocolate! Disponvel em:
<http://www.youtube.com/watch?v=7WXW2bBWBEg>. Acesso em: 12 jul. 2012. (vdeo)
STAUFFER, R. H. Finding the speed of light with marshmallows. The Physics Teacher, Stony Brook,
v. 35, n. 4, p. 231, Apr. 1997.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
51
Unidade 5 - A conta de luz: despertando para a economia domstica
Nesta atividade, embora no inclua exatamente processos e equipamentos na cozinha, importante
para despertar os alunos para o consumo domstico de energia. Na cozinha so utilizados muitos
eletrodomsticos e, em geral, no temos noo de seu consumo. So apresentadas trs sugestes
de experincias, com nvel crescente de complexidade.
Experincia 1: Verificando o consumo de equipamentos.
Objetivos: verificar o consumo de equipamentos domsticos e diferenciar potencia e
energia eltrica.
Conceitos fsicos: potncia, energia e consumo.
Desenvolvimento:
- Discutir com os alunos que a energia consumida depende da potncia e do tempo de uso do
equipamento.
- Orientar aos alunos a verificarem que existe uma plaqueta afixada nos eletrodomsticos indicando a
potncia em Watt (W).
- Explicar os alunos como feita a leitura do relgio que indica o consumo mensal de energia eltrica
residencial.
Notas
Existem outras unidades como cv e HP, respectivamente, cavalo vapor e horse-power. A traduo
no foi precisa nem no idioma nem no valor. Em unidades do Sistema Internacional 1cv= 736W e um
HP=746W.
A unidade de potncia eltrica do ar-condicionado BTU/h, mas mal utilizada comercialmente
como BTU, simplesmente. O BTU (British Thermal Unit ou Unidade trmica Britnica) uma unidade
de energia, equivalente a quantidade necessria para elevar a temperatura de uma massa de
uma libra de gua de 59,5F a 60,5F, sob presso constante de 1 atmosfera. Esta quantidade
equivale a aproximadamente 1000 J.
A energia eltrica que est sendo consumida proporcional velocidade de rotao do disco
horizontal que aparece no centro do aparelho medidor de consumo (Figura 59).
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
52
Figura 59. Aparelho medidor de consumo de energia eltrica.
Existem tanto medidores analgicos (Figura 59), como digitais. Este dois tipos de mostradores so
vistos na Figura 60. Nesta figura, a leitura no medidor tipo relgio deve ser feita da esquerda para
direita, estando o milhar mais esquerda, ao lado a centena, a dezena e, bem direita, a unidade.
Figura 60. Tipos de medidores57.
Na Figura 61 o consumo da residncia foi calculado da seguinte forma: em determinado dia do ms,
um funcionrio da companhia de energia eltrica efetuou a leitura do aparelho medidor (relgio). Ele
anotou os valores que cada um dos relgios marcava (lendo da esquerda para direita) 4, 9, 5, 6, 0, ou
seja, 49560kWh. No ms seguinte, passado o perodo de 30 dias, foi feita uma nova leitura e a
anotao: 49934kWh.
Nesse perodo o consumo foi de 49560 49934=374kWh
57
Imagem disponvel em: < http://www.eletrocar.com.br/?menu=aprendaalerseumedidor >. Acesso
em: 20 out. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
53
Figura 61. Dados de leitura da conta de energia eltrica58
aconselhvel testar regularmente o medidor de consumo desligando todos os equipamentos
eltricos e observando-o. Se o relgio continuar movendo-se voc deve comunicar o fato
companhia, para que seja providenciado o conserto ou troca, para que no se pague pela energia
eltrica no gasta.
O Selo Procel
59
indica a eficincia de eletrodomsticos. Este selo, Figura 62, tem por objetivo orientar
o consumidor no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores nveis de
eficincia energtica dentro de cada categoria. Tambm objetiva estimular a fabricao e a
comercializao de produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento tecnolgico e a
reduo de impactos ambientais. Fonte: Inmetro.
Figura 62. Selo Procel
Uma simulao sobre o consumo de equipamentos pode ser visualizada em Kesselman (2012).
Experincia 1: Verificando o consumo de equipamentos
60
Objetivo: verificar o custo energia gasta por equipamentos domsticos.
Conceitos fsicos: energia, potncia, tempo, consumo e unidades de medida.
58
Imagem adaptada de: < http://www.aessul.com.br/areacliente/servicos/suaconta.asp >. Acesso
em: 10 out. 2012
59
Informaes disponveis em: <http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbeSelo.asp>. Acesso em: 15
jul.2012.
60
Atividade adaptada de GREF (1998).
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
54
Recursos:
- laboratrio de informtica
- quadro negro
- giz
- projetor multimdia
- computador com acesso internet
- eletrodomstico para mostrar plaqueta indicativa da potncia.
Procedimento: Pode-se dividir a experincia em dois encontros. No primeiro, a atividade
apresentada e discutida e ao final os alunos levam a tabela para suas casas; no segundo encontro os
alunos seguem o roteiro proposto.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
55
Consumo de energia de aparelhos eltricos
Voc pode explicar o consumo indicado na sua "conta de luz" fazendo a atividade proposta a
seguir. Para tanto, utilize a tabela abaixo e anote os valores referentes a cada uma das colunas.
O tempo de funcionamento de cada aparelho deve ser o mais preciso possvel. Lembre-se
que a geladeira e o freezer, funcionam, em mdia, 8 horas por dia, pois eles ligam e desligam. Se
voc tiver rdio-relgio, leve em conta apenas o tempo de funcionamento do rdio, pois o relgio tem
consumo muito pequeno.
Traga uma conta de luz recente no prximo encontro
Aparelho Potncia (Watt) Tempo (horas) de
funcionamento na
semana
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
56
61
Toda vez
que um aparelho eltrico entra em funcionamento
ocorre uma transformao de energia em outras
formas de energia como luminosa, sonora, mecnica
de rotao, trmica, dentre outras.
Sem uma fonte de energia eltrica adequada
e em condies de funcionamento, os aparelhos de
nada servem. As pilhas, as baterias e as usinas so
as fontes de energia mais utilizadas no nosso dia-a-
dia.
61
Atividade adaptada de A conta de luz
(GREF,1998), pg. 17. Disponvel em: <
http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf>. Acesso
em: 23 jun. 2012
O acesso e a utilizao de tais fontes representa,
para ns, um custo a pagar, seja na hora da compra
de pilhas e baterias no mercado, seja na hora de
pagar a conta de energia eltrica, comumente
chamada de conta de luz.
A partir desse momento, passaremos a
analisar do que se compe e como se calcula o custo
da energia eltrica em nossas casas, que fornecida
pelas usinas geradoras de eletricidade atravs das
companhias distribuidoras (No Rio Grande do Sul
tem-se a AES Sul, CEEE, RGE, etc).
Observe sua conta de luz, que semelhante ao
modelo a seguir.
F
o
n
t
e
i
m
a
g
e
n
s
d
e
s
t
a
p
g
i
n
a
:
G
E
R
F
/
U
S
P
2
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
57
Fonte da figura:
http://www.aessul.com.br/areacliente/servicos/suaconta.asp
O consumo representa a quantidade de energia
consumida ou utilizada por sua residncia. Ela medida
de kWh que significa quilo Watt-hora. O quilo o mesmo
do quilograma, quilometro, e significa 1.000 vezes. J
Watt-hora representa a medida da energia eltrica.
Embora possa lhe parecer estranho que Watt-hora seja
uma medida de energia (voc se lembra de uma outra?)
recorde que Watt uma unidade de potncia e hora uma
unidade de tempo. O produto potncia x tempo resulta
na energia.
Assim, watt-hora representa o produto da
potncia pelo tempo e 1kWh 1000 Watt-hora.
Essa unidade a medida da energia eltrica
utilizada pelas casas porque a potncia dos aparelhos
eltricos medida em Watt e o tempo de funcionamento
dos aparelhos em horas.
A energia eltrica residencial fornecida pela AES
Sul, por exemplo, custa atualmente:
A quantidade de energia que voc utiliza em
casa depende de dois fatores bsicos: a potncia dos
aparelhos e o tempo de funcionamento. Os dois fatores,
ao contrrio do que se imagina, so igualmente
importantes quando se pensa no custo a pagar pela
energia
eltrica utilizada. Um aparelho de baixa potncia, mas
que funciona durante muito tempo diariamente, pode
gastar tanto ou mais energia que outro aparelho de
maior potncia que funciona durante pouco tempo.
O valor indicado na conta como consumo de
energia eltrica representa a somatria do produto da
potncia de cada aparelho eltrico pelo tempo de
funcionamento entre uma medida e outra. Esse valor
obtido a partir de duas leituras realizadas, em geral, no
perodo de trinta dias no relgio de luz de sua casa.
Faa voc mesmo!
A soma de todos os produtos da
potncia pelo tempo de funcionamento medido em horas
indica a energia utilizada em uma semana medida em
watt-hora. Dividindo-se por 1.000, o resultado ser o
valor do consumo medido em kWh. Para saber o
consumo mensal basta multiplicar por quatro, que o
nmero de semanas em um ms. Faa as contas e
compare com o valor impresso em sua conta. Verifique
se eles so prximos ou muito diferentes. Tente explicar
as razes das possveis diferenas. Voc poder ter
ideia de onde vem o consumo indicado na sua conta de
luz e se ela no est fora da realidade (por erro de
leitura).
Bom trabalho!
1kWh= R$ 0,34
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
58
Roteiro de atividades em planilha
eletrnica
1) Represente na planilha eletrnica a tabela acima observando o que representa cada
coluna:
Coluna A: transcreva a lista de aparelhos eltricos que voc anotou.
Coluna B: transcreva a potncia de cada aparelho que voc anotou.
Coluna C: Transcreva o tempo de funcionamento em horas que voc anotou.
Coluna D: esta coluna deve conter a multiplicao da coluna B pela C.
Coluna E: Divida a coluna D por 1000 (1 quilo) para obter a unidade padro kWh
Coluna F: Multiplique a coluna E pelo valor do kWh (1 kWh= R$0,336986) para obter o
custo semanal do aparelho.
Coluna G: Multiplique a coluna 6 por 4 (nmero de semanas no ms) para obter o custo
mensal do aparelho .
2) a) Faa um somatrio da coluna G e represente-o no Total.
b) O valor no Total encontrado semelhante ao do CONSUMO na DESCRIO DE
FATURAMENTO na conta de luz? Explique.
3) a) Faa um grfico (tipo pizza) com os dados das colunas A e G.
b) Qual o equipamento que tem maior gasto em sua casa?
c) A partir da conta de luz faa um grfico (tipo pizza) com os valores, em porcentagem de
DESCRIO em DESCRIO DE FATURAMENTO.
d) Discuta quais valores voc considera que no podem ser diminudos na sua conta e quais valores
podem?
4) Discuta que atitudes voc pode tomar para reduzir o custo da sua conta.
A B C D E F G
Aparelho Potncia
(Watt)
Tempo de
funcionamento na
semana (horas)
Energia
(Potencia X
tempo) (Wh)
Energia
1000
(kWh)
Custo
semanal
(Energia X
Valor kWh)
Custo mensal
(Custo semanal X4)
Total
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
59
Notas
O custo atual da energia em sua cidade pode ser consultado no site da Agncia Nacional de Energia
eltrica (Aneel)
62
. Ou ligando para o atendimento da companhia de energia eltrica.
No site da Eletrobrs
63
(Centrais Eltricas Brasileiras S.A) est disponvel um folder com dicas de
economia de energia e um manual intitulado "Dicas de Conservao de Energia para um Mundo
Melhor". Tambm, no site da AES Sul possvel acessar o texto intitulado Dicas de consumo
AESSul
64
.
Deve-se observar que este tipo de atividade pode ressaltar desigualdades sociais at ento
desconhecidas. Em decorrncia do comportamento observado na turma em que esta atividade foi
aplicada, recomenda-se que o professor tenha certo tato ao solicitar tal levantamento, de modo a
evitar constrangimentos.
62
Disponvel em: < http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=493&idPerfil=4>. Acesso em: 14 out.
2012.
63
Disponvel em: <http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7B6751E537-0EC0-
4B83-BE03-82831A153042%7D>. Acesso em: 13 out. 2012.
64
Disponvel em: < http://www.aessul.com.br/site/dicas/ConsumoResidencial.aspx>. Acesso em: 12
out. 2012.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
60
Referncias
AESUL. Dicas de consumo residencial. Disponvel em:
< http://www.aessul.com.br/site/dicas/ConsumoResidencial.aspx>. Acesso em: 10 out. 2012
AES Sul. Entenda sua conta. Disponvel em:
< http://www.aessul.com.br/areacliente/servicos/suaconta.asp >. Acesso em: 10 out. 2012. (imagem)
ANEEL. Conhea as Tarifas da Classe de Consumo Residencial de uma Concessionaria. Disponvel
em: < http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=493&idPerfil=4>. Acesso em: 10 out. 2012.
ELETROBRS. Dicas. Disponvel em:
<http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID=%7B6751E537-0EC0-4B83-BE03-
82831A153042%7D>. Acesso em: 10 out. 2012. (imagem)
ELETROCAR. Centrais eltricas de carazinho. Aprenda a ler seu consumidor. Disponvel em: <
http://www.eletrocar.com.br/?menu=aprendaalerseumedidor >. Acesso: em out. 2012. (imagem)
GREF. Leituras de Fsica: Eletromagnetismo. Instituto de Fsica USP. 1998. Disponvel em:
<http://www.if.usp.br/gref/eletro/eletro1.pdf>. Acesso em: 16 out. 2011.
INMETRO. Selos de eficincia energtica. Disponvel em:
<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbeSelo.asp>. Acesso em: 15 jul. 2012. (imagem)
KESSELMAN (2012). Labvirt. Laboratrio Didtico Virtual - Escola do Futuro - USP
Compra de eletrodomsticos.. Disponvel em:
<http://www.labvirt.fe.usp.br/simulacoes/fisica/sim_energia_compra_eletro.htm >. Acesso em: 10 nov.
2012. (simulao)
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
61
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA
n. 1 Um Programa de Atividades sobreTpicos de Fsica para a 8 Srie do 1 Grau
Rolando Axt, Maria Helena Steffani e Vitor Hugo Guimares, 1990.
n. 2 Radioatividade
Magale Elisa Brckmann e Susana Gomes Fries, 1991.
n. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Fsica
Marco Antonio Moreira, 1992.
n. 4 Um Laboratrio de Fsica para Ensino Mdio
Rolando Axt e Magale Elisa Brckmann, 1993.
n. 5 Fsica para Secundaristas Fenmenos Mecnicos e Trmicos
Rolando Axt e Virgnia Mello Alves, 1994.
n. 6 Fsica para Secundaristas Eletromagnetismo e ptica
Rolando Axt e Virgnia Mello Alves, 1995.
n. 7 Diagramas V no Ensino de Fsica
Marco Antonio Moreira, 1996.
n. 8 Supercondutividade Uma proposta de insero no Ensino Mdio
Fernanda Ostermann, Letcie Mendona Ferreira, Claudio de Hollanda Cavalcanti, 1997.
n. 9 Energia, entropia e irreversibilidade
Marco Antonio Moreira, 1998.
n. 10 Teorias construtivistas
Marco Antonio Moreira e Fernanda Ostermann, 1999.
n. 11 Teoria da relatividade especial
Trieste Freire Ricci, 2000.
n. 12 Partculas elementares e interaes fundamentais
Fernanda Ostermann, 2001.
n. 13 Introduo Mecnica Quntica. Notas de curso
Ileana Maria Greca e Victoria Elnecave Herscovitz, 2002.
n. 14 Uma introduo conceitual Mecnica Quntica para professores do ensino mdio
Trieste Freire Ricci e Fernanda Ostermann, 2003.
n. 15 O quarto estado da matria
Luiz Fernando Ziebell, 2004.
v.16, n.1 Atividades experimentais de Fsica para crianas de 7 a 10 anos de idade
Carlos Schroeder, 2005.
v.16, n.2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratrio didtico de Fsica
Lucia Forgiarini da Silva e Eliane Angela Veit, 2005.
v.16, n.3
Epistemologias do Sculo XX
Neusa Teresinha Massoni, 2005.
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
62
v.16, n.4 Atividades de Cincias para a 8a srie do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e
cores
Alberto Antonio Mees, Cludia Teresinha Jraige de Andrade e Maria Helena Steffani,
2005.
v.16, n.5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a viso de Einstein
Jeferson Fernando Wolff e Paulo Machado Mors, 2005.
v.16, n.6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Fsica
Luiz Andr Mtzenberg, 2005.
v.17, n.1 Circuitos eltricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma
aprendizagem significativa no nvel mdio
Maria Beatriz dos Santos Almeida Moraes e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2006.
v.17, n.2 A estratgia dos projetos didticos no ensino de fsica na educao de jovens e
adultos (EJA)
Karen Espindola e Marco Antonio Moreira, 2006.
v.17, n.3 Introduo ao conceito de energia
Alessandro Bucussi, 2006.
v.17, n.4 Roteiros para atividades experimentais de Fsica para crianas de seis anos de idade
Rita Margarete Grala, 2006.
v.17, n.5 Insero de Mecnica Quntica no Ensino Mdio: uma proposta para professores
Mrcia Cndida Montano Webber e Trieste Freire Ricci, 2006.
v.17, n.6 Unidades didticas para a formao de docentes das sries iniciais do ensino
fundamental
Marcelo Arajo Machado e Fernanda Ostermann, 2006.
v.18, n.1 A Fsica na audio humana
Laura Rita Rui, 2007.
v.18, n.2 Concepes alternativas em ptica
Voltaire de Oliveira Almeida, Carolina Abs da Cruz e Paulo Azevedo Soave, 2007.
v.18, n.3 A insero de tpicos de Astronomia no estudo da Mecnica em uma abordagem
epistemolgica
rico Kemper, 2007.
v.18, n.4 O Sistema Solar Um Programa de Astronomia para o Ensino Mdio
Andria Pessi Uhr, 2007.
v.18 n.5 Material de apoio didtico para o primeiro contato formal com Fsica; Fluidos
Felipe Damasio e Maria Helena Steffani, 2007.
v.18 n.6 Utilizando um forno de microondas e um disco rgido de um computador como
laboratrio de Fsica
Ivo Mai, Naira Maria Balzaretti e Joo Edgar Schmidt, 2007.
v.19 n.1 Ensino de Fsica Trmica na escola de nvel mdio: aquisio automtica de dados
como elemento motivador de discusses conceituais
Denise Borges Sias e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2008.
v.19 n.2 Uma introduo ao processo da medio no Ensino Mdio
Csar Augusto Steffens, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2008.
v.19 n.3 Um curso introdutrio Astronomia para a formao inicial de professores de Ensino
Fundamental, em nvel mdio
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FSICA IF-UFRGS REKOVVSKY, L.; MOREIRA, M.A. v.22 n.1
63
Snia Elisa Marchi Gonzatti, Trieste Freire Ricci e Maria de Ftima Oliveira Saraiva,
2008.
v.19 n.4
Sugestes ao professor de Fsica para abordar tpicos de Mecnica Quntica no
Ensino Mdio
Sabrina Soares, Iramaia Cabral de Paulo e Marco Antonio Moreira, 2008.
v.19 n.5 Fsica Trmica: uma abordagem histrica e experimental
Juleana Boeira Michelena e Paulo Machado Mors, 2008.
v.19 n.6 Uma alternativa para o ensino da Dinmica no Ensino Mdio a partir da resoluo
qualitativa de problemas
Carla Simone Facchinello e Marco Antonio Moreira, 2008.
v.20 n.1 Uma viso histrica da Filosofia da Cincia com nfase na Fsica
Eduardo Alcides Peter e Paulo Machado Mors, 2009.
v.20 n.2 Relatividade de Einstein em uma abordagem histrico-fenomenolgica
Felipe Damasio e Trieste Freire Ricci, 2009.
v.20 n.3 Mecnica dos fluidos: uma abordagem histrica
Luciano Dernadin de Oliveira e Paulo Machado Mors, 2009.
v.20 n.4 Fsica no Ensino Fundamental: atividades ldicas e jogos computadorizados
Zilk M. Herzog e Maria Helena Steffani, 2009.
v.20 n.5 Fsica Trmica
Nelson R. L. Marques e Ives Solano Araujo, 2009.
v.20 n.6 Breve introduo Fisica e ao Eletromagnetismo
Marco Antonio Moreira, 2009.
v.21 n.1 Atividades experimentais de Fsica luz da epistemologia de Laudan: ondas
mecnicas no ensino mdio
Lizandra Botton Marion Morini, Eliane Angela Veit, Fernando Lang da Silveira, 2010.
v.21 n.2 Aplicaes do Eletromagnetismo, ptica, Ondas, da Fsica Moderna e
Contempornea na Medicina (1 Parte)
Mara Fernanda Parisoto e Jos Tlio Moro, 2010.
v.21 n.3 Aplicaes do Eletromagnetismo, ptica, Ondas, da Fsica Moderna e
Contempornea na Medicina (2 Parte)
Mara Fernanda Parisoto e Jos Tlio Moro, 2010.
Você também pode gostar
- POP Entrega À DomicilioDocumento16 páginasPOP Entrega À DomicilioVivian Ferreira71% (14)
- 038SiteBySite BRS70H BRS80ADocumento87 páginas038SiteBySite BRS70H BRS80ARicardo Oliveira100% (4)
- Ensino de Física com Experimentos de Baixo CustoNo EverandEnsino de Física com Experimentos de Baixo CustoNota: 3 de 5 estrelas3/5 (4)
- Secador de Ar Linha SRSDocumento24 páginasSecador de Ar Linha SRSAndré100% (3)
- Manual Serviço Refrigerador BrastempDocumento50 páginasManual Serviço Refrigerador Brastempschumacher1100% (6)
- Integrando as Ciências: sequências didáticas interdisciplinares de Ciências da Natureza à luz do letramento científicoNo EverandIntegrando as Ciências: sequências didáticas interdisciplinares de Ciências da Natureza à luz do letramento científicoAinda não há avaliações
- BRM47 e BRM49 Guia RápidoDocumento2 páginasBRM47 e BRM49 Guia Rápidofuckface0% (1)
- Choque Termico Na CozinhaDocumento65 páginasChoque Termico Na CozinhaGeisamaycon GeisamayconAinda não há avaliações
- Física Térmica Uma Abordagem Histórica e ExperimentalDocumento59 páginasFísica Térmica Uma Abordagem Histórica e ExperimentalPedro MateusAinda não há avaliações
- Produto Educacional Sala de AulaInvertidaDocumento21 páginasProduto Educacional Sala de AulaInvertidaBeraldo PereiraAinda não há avaliações
- Projeto PedagógicoDocumento37 páginasProjeto PedagógicoCloudeAinda não há avaliações
- 2011 TCC FmacavalcanteDocumento51 páginas2011 TCC FmacavalcanteAnderson Cleyton LimaAinda não há avaliações
- Relatório de Fisica IDocumento12 páginasRelatório de Fisica IDanielle Seixas ConstantinoAinda não há avaliações
- Janete Francisca Klein KohnleinDocumento83 páginasJanete Francisca Klein KohnleinAbednego ZanoAinda não há avaliações
- Sequência Didática Caloria Dos Alimentos: Uma Abordagem Temática E Lúdica para O Ensino de TermoquímicaDocumento20 páginasSequência Didática Caloria Dos Alimentos: Uma Abordagem Temática E Lúdica para O Ensino de TermoquímicaNilza LopesAinda não há avaliações
- LABDEFDocumento6 páginasLABDEFxavier.unespAinda não há avaliações
- Mie Trabalho1Documento15 páginasMie Trabalho1Dolinick VontadeAinda não há avaliações
- O Saber Da Física Prática - Metodologia de Um Ensino ProfícuoDocumento19 páginasO Saber Da Física Prática - Metodologia de Um Ensino ProfícuoMarques Da DeolindaAinda não há avaliações
- A Importância Dos Experimentos No Ensino de FísicaDocumento2 páginasA Importância Dos Experimentos No Ensino de FísicaSamara CarvalhoAinda não há avaliações
- POSTAGEM - 2 - PEOP Leonardo1Documento11 páginasPOSTAGEM - 2 - PEOP Leonardo1Leonardo LacerdaAinda não há avaliações
- QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL A - UfscDocumento4 páginasQUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL A - Ufscrafaeleinecke22Ainda não há avaliações
- Relatório - Fenômenos de TransportesDocumento11 páginasRelatório - Fenômenos de TransportesVigoAinda não há avaliações
- Apostila de Física Experimental I EE082011Documento67 páginasApostila de Física Experimental I EE082011Sidnei FerreiraAinda não há avaliações
- Apostiladefsicaexperimental2 120909154251 Phpapp01 PDFDocumento57 páginasApostiladefsicaexperimental2 120909154251 Phpapp01 PDFGilberto JúniorAinda não há avaliações
- Física - Teoria e PráticaDocumento96 páginasFísica - Teoria e PráticaRICARDOALEXBORGESAinda não há avaliações
- Unidade Físico QuímicaDocumento7 páginasUnidade Físico QuímicaLudimila GabrielaAinda não há avaliações
- PRT 29.677.828.17.2020 Centro Universitário Faveni Relatório de EstágioDocumento17 páginasPRT 29.677.828.17.2020 Centro Universitário Faveni Relatório de EstágioCésar Augusto Venâncio da SilvaAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Física Glauco Salomão Ferreira RibasDocumento86 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Física Glauco Salomão Ferreira RibasTaufique Quimo CassimoAinda não há avaliações
- Die HCTDocumento8 páginasDie HCTCarlitos MafungaAinda não há avaliações
- Projeto de Intervenção Pedagógica Física ElétricaDocumento4 páginasProjeto de Intervenção Pedagógica Física ElétricaBruna Bezerra SilvaAinda não há avaliações
- Produtor Frank Final PublicaçãoDocumento39 páginasProdutor Frank Final PublicaçãovalescanutriAinda não há avaliações
- Dissertacao Geraldo PlauskaDocumento96 páginasDissertacao Geraldo PlauskaFabioAinda não há avaliações
- Fca Reginaria Produto Educacional 21 de DezembroDocumento48 páginasFca Reginaria Produto Educacional 21 de DezembroGustavo Santos BezerraAinda não há avaliações
- Trabalho P VivianeDocumento7 páginasTrabalho P VivianeDava JonasAinda não há avaliações
- Relátorio Química - GRUPO 5Documento13 páginasRelátorio Química - GRUPO 5llenivaldo177Ainda não há avaliações
- Plano de Oficina (Aula 01)Documento2 páginasPlano de Oficina (Aula 01)Felipe BacelarAinda não há avaliações
- Resumo CEG 2023 PIBID FisicaDocumento4 páginasResumo CEG 2023 PIBID Fisicamiguellima18xAinda não há avaliações
- Experimentos de Baixo CustoDocumento23 páginasExperimentos de Baixo CustoVitório TeixeiraAinda não há avaliações
- CadernoDoProfessor 2014 Vol1 Baixa CN Fisica EM 2SDocumento162 páginasCadernoDoProfessor 2014 Vol1 Baixa CN Fisica EM 2SJosidel Almeida PereiraAinda não há avaliações
- Historiasquadrinhosensinotermodinamica ProdutoDocumento52 páginasHistoriasquadrinhosensinotermodinamica Produtoeduardo.silva99742486Ainda não há avaliações
- Sequência Didática Leis Ponderais Revisada - Brenda e ThâniaDocumento8 páginasSequência Didática Leis Ponderais Revisada - Brenda e ThâniaThânia SantosAinda não há avaliações
- PRÁTICAS-PEDAGÓGICAS-pronto EMDocumento10 páginasPRÁTICAS-PEDAGÓGICAS-pronto EMFernanda RibeiroAinda não há avaliações
- PROGRAMA de DISCIPLINA FÍSICO-QUÍMICA 2023.1 PDFDocumento7 páginasPROGRAMA de DISCIPLINA FÍSICO-QUÍMICA 2023.1 PDFPedro GabrielAinda não há avaliações
- Eleva em FGB l5 Qui GabDocumento26 páginasEleva em FGB l5 Qui GabFantasmaAinda não há avaliações
- Relatório Estágio IGOR FinalDocumento32 páginasRelatório Estágio IGOR FinalAlessandra SantosAinda não há avaliações
- A Espontaneidade Das Reações Químicas Uma Proposta Incluindo As Reações Oscilantes Através Do Ensino InvestigativoDocumento105 páginasA Espontaneidade Das Reações Químicas Uma Proposta Incluindo As Reações Oscilantes Através Do Ensino InvestigativoKauãAinda não há avaliações
- Plano de Aula - 03 - Física - 2 Serie - 27082021Documento3 páginasPlano de Aula - 03 - Física - 2 Serie - 27082021Rosangela cristina dos santosAinda não há avaliações
- Contextualização e Fundamentos Da FísicaDocumento79 páginasContextualização e Fundamentos Da FísicaLibério AlvesAinda não há avaliações
- Física Moderna No Ensino Médio Geral W2Documento14 páginasFísica Moderna No Ensino Médio Geral W2Goodfrei Castigo César CabralAinda não há avaliações
- Projecto PESQUISADocumento22 páginasProjecto PESQUISAGuerdath AhfAinda não há avaliações
- Relatorio de EPDocumento23 páginasRelatorio de EPvicente chocancuneneAinda não há avaliações
- Artigo - Lorenna - Cefas - DanielDocumento21 páginasArtigo - Lorenna - Cefas - DanielLorenna AbreuAinda não há avaliações
- Dinamica - Trabalho de Conclusão Da DisciplinaDocumento2 páginasDinamica - Trabalho de Conclusão Da DisciplinaMarcelo junior da silva camargoAinda não há avaliações
- FSC0003 MDocumento57 páginasFSC0003 MAnderson mottaAinda não há avaliações
- Produto - Produto Educacional - Macário C - FinalDocumento54 páginasProduto - Produto Educacional - Macário C - FinalamarilioengenheiroAinda não há avaliações
- 5811-Texto Do Artigo-18607-1-10-20211025Documento15 páginas5811-Texto Do Artigo-18607-1-10-20211025katharineAinda não há avaliações
- Centro Federal de Educação Tecnológica Do Espírito SantoDocumento60 páginasCentro Federal de Educação Tecnológica Do Espírito SantopedrolfbrandaoAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio - Mônica MartinsDocumento17 páginasRelatório de Estágio - Mônica MartinsjonasAinda não há avaliações
- Patologia GeralDocumento5 páginasPatologia GeralEduardo RuasAinda não há avaliações
- Relatório Estágio IiiDocumento20 páginasRelatório Estágio IiiAna Beatriz LanaroAinda não há avaliações
- Uma abordagem da Aprendizagem Significativa no ensino do Eletromagnetismo no Ensino MédioNo EverandUma abordagem da Aprendizagem Significativa no ensino do Eletromagnetismo no Ensino MédioAinda não há avaliações
- Ampliar Também É AtualizarNo EverandAmpliar Também É AtualizarAinda não há avaliações
- Quebrando Paradigmas PessoaisNo EverandQuebrando Paradigmas PessoaisAinda não há avaliações
- Discutindo a Prática como Componente Curricular na Licenciatura em FísicaNo EverandDiscutindo a Prática como Componente Curricular na Licenciatura em FísicaAinda não há avaliações
- O ensino de Força e Movimento através do tema Futebol: uma proposta de sequência didáticaNo EverandO ensino de Força e Movimento através do tema Futebol: uma proposta de sequência didáticaAinda não há avaliações
- Rs 035 19r02 HalexistarDocumento49 páginasRs 035 19r02 HalexistarFelipe DamascenoAinda não há avaliações
- Dupont Vestimenta Nivel ADocumento26 páginasDupont Vestimenta Nivel AEquipaeng ComercioAinda não há avaliações
- Plano 8º AnoDocumento3 páginasPlano 8º AnoLuanna Silva CunhaAinda não há avaliações
- OMelhorAnodeNossasVidas PDFDocumento299 páginasOMelhorAnodeNossasVidas PDFMascio Andrade100% (1)
- Tortas Mousse PDFDocumento21 páginasTortas Mousse PDFshirleimaranhao2015100% (2)
- Abnt NBR 16655-2Documento13 páginasAbnt NBR 16655-2Waldir CremonezAinda não há avaliações
- Catalogo Berta Web04 CompressedDocumento51 páginasCatalogo Berta Web04 CompressedGraziella DombroskiAinda não há avaliações
- Relatorio Completo AtualizadoDocumento27 páginasRelatorio Completo Atualizadoroberio AlvesAinda não há avaliações
- Almoxarifado OutroDocumento21 páginasAlmoxarifado OutroMarco Antonio Oliveira NevesAinda não há avaliações
- Samsung Rb33n341msa 44Documento3 páginasSamsung Rb33n341msa 44David Alexandre Reis FerreiraAinda não há avaliações
- Relatório Agentes Físicos - TEC. 012.039 - 10 de Dezembro de 2021Documento3 páginasRelatório Agentes Físicos - TEC. 012.039 - 10 de Dezembro de 2021Maria CarolinaAinda não há avaliações
- Lista de TermodinamicaDocumento70 páginasLista de TermodinamicaDenis MaxAinda não há avaliações
- Manual KombuchaDocumento21 páginasManual KombuchaPatrícia CorrêaAinda não há avaliações
- 3º Ano Calculo-De-Consumo-De-Energia-EletricaDocumento5 páginas3º Ano Calculo-De-Consumo-De-Energia-EletricaRogério SilvaAinda não há avaliações
- Livro de Receitas Brigadeiros Gourmet: #FazerevenderDocumento39 páginasLivro de Receitas Brigadeiros Gourmet: #FazerevenderSabrina DolciAinda não há avaliações
- (Orgulho de Assassinos) 01 - O Miado Do Gato (RevHM)Documento199 páginas(Orgulho de Assassinos) 01 - O Miado Do Gato (RevHM)Jussara Santana100% (3)
- Boas Práticas de Fabricação para Agroindústria Familiar - Volume II, 2018Documento28 páginasBoas Práticas de Fabricação para Agroindústria Familiar - Volume II, 2018Tatiana Zanella RodriguesAinda não há avaliações
- Fic Frio 84Documento16 páginasFic Frio 84Rafael RochaAinda não há avaliações
- Segunda Lei Da Termodinâmica PDFDocumento4 páginasSegunda Lei Da Termodinâmica PDFRudvan CicottiAinda não há avaliações
- FDR RF6500C 3door DA68-04745F-00 BPTDocumento88 páginasFDR RF6500C 3door DA68-04745F-00 BPTmentecuriosadejimmyAinda não há avaliações
- Catalogo Acessorios Electrolux 2018Documento48 páginasCatalogo Acessorios Electrolux 2018Manutec agendaAinda não há avaliações
- Apostila Cozinha DomesticaDocumento55 páginasApostila Cozinha DomesticaMárcia RibeiroAinda não há avaliações
- PanificaçãoDocumento52 páginasPanificaçãoAna B.Ainda não há avaliações
- Vitrine 05 2014 TupperwareDocumento49 páginasVitrine 05 2014 TupperwareTupperware ShowAinda não há avaliações