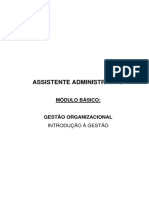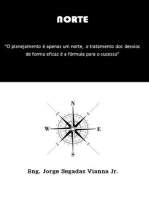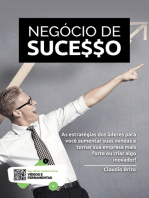Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Plano Negocios Confeitaria
Plano Negocios Confeitaria
Enviado por
Fabio Ferreira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
101 visualizações96 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
101 visualizações96 páginasPlano Negocios Confeitaria
Plano Negocios Confeitaria
Enviado por
Fabio FerreiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 96
0
RENATA GARCIA PROENA
PLANO DE NEGCIOS PARA A PANIFICADORA E CONFEITARIA
BOM GOSTO
Instituto Cenecista Fayal de Ensino Superior
Itaja (SC)
2009
1
RENATA GARCIA PROENA
PLANO DE NEGCIOS PARA A PANIFICADORA E CONFEITARIA
BOM GOSTO
Instituto Cenecista Fayal de Ensino Superior
Itaja (SC)
2009
Trabalho de Concluso de Estgio
desenvolvido para Estgio
Supervisionado do Curso de
Administrao do Instituto Cenecista
Fayal de Ensino Superior IFES 2009/01
como concluso do curso.
Orientadora: Prof. Rosangela Carvalho
da Silva Erpen, Esp.
2
PLANO DE NEGCIOS PARA A PANIFICADORA E CONFEITARIA BOM GOSTO.
Este trabalho de concluso de curso foi julgado aprovado para a obteno do
grau de Bacharel em Administrao do Instituto Cenecista Fayal de Ensino
Superior IFES.
Itaja, 01 de julho de 2009.
____________________________
Leandro Costa
Coordenador de estgios
Banca examinadora
________________________________________
Prof Rosangela Carvalho da Silva Erpen, Esp.
Orientadora
________________________________________
Prof Marlia Soares, M.Sc.
________________________________________
ProfDaniel A. Manfredini
3
EQUIPE TCNICA
Estagiria
Renata Garcia Proena
Coordenador de Estgio
Leandro Costa
Orientadora de Contedo
Rosangela Carvalho da Silva Erpen, Esp.
Orientador de Metodologia
Marcello Soares M.Sc
Supervisor de Campo
Jurandia Conceio dos Santos Machado
4
S h trs atitudes a tomar em
relao ao passado para que
possamos definir o que queremos
do futuro e, assim, dar significado
ao presente: perdoar as pessoas
que nos magoaram, aprender com
os momentos de fracasso e
comemorar com orgulho os
momentos de sucesso.
Agostinho Nunes Neto
5
Dedico este trabalho as pessoas mais
importantes da minha vida. Joaquim e
Helena, meus pais, que sempre
demonstraram seu amor
incondicional, me incentivaram e me
apoiaram em todos os momentos.
6
AGRADECIMENTOS
Agradeo a Deus, fonte de toda a sabedoria por ter me dado foras para chegar at
aqui, pois sem esta fora divina nada conseguiria.
Agradeo ao meu namorado por seu apoio, por seu amor e por sua pacincia pelo
perodo em que foquei meus esforos somente na realizao deste trabalho.
Agradeo a Prof Rosangela Carvalho da Silva Erpen, minha orientadora de estgio
supervisionado, por sua ateno, dedicao, disposio e valiosa pacincia durante
a realizao do fim deste processo.
Por fim, mas no menos importante, agradeo a todas as pessoas que de alguma
forma contriburam para realizao deste estudo, me apoiando, me fortalecendo e
me motivando.
7
RESUMO
No cenrio atual de rpidas mudanas o mundo empresarial e dos negcios
pertence cada vez mais aos empreendedores, pessoas que conseguem identificar
as melhores oportunidades e sabem como aproveit-las. Esses empreendedores
esto sendo convidados a avaliarem bem os vrios fatores que iro envolver o seu
negcio e por isso precisam realizar um planejamento bem detalhado antes de
iniciarem suas atividades. A elaborao de um plano de negcios um meio de
planejamento para a abertura de novas empresas e permite que os empreendedores
iniciem suas atividades com mais segurana. Neste caso, o plano de negcios no
ser utilizado para a criao de um novo negcio, mas sim como ferramenta para a
consolidao do mesmo, que foi o objetivo principal deste trabalho, a consolidao e
um crescimento planejado da Panificadora e Confeitaria Bom Gosto. A metodologia
utilizada foi estudo de caso. Foi realizada a anlise do ambiente com relao s
oportunidades e ameaas, pontos fortes e fracos da empresa, posteriormente foram
identificados e apresentados os concorrentes diretos, os fatores crticos de sucesso,
e foi realizada a anlise do ponto do equilbrio da empresa. Os resultados obtidos
foram utilizados na pesquisa para a formulao do plano de negcio, onde foram
observados fatores de grande relevncia para a empresa em estudo.
Palavras-chave: Plano de Negcios. Anlise do ambiente. Empreendedorismo.
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 01 A Empresa ....................................................................................... 16
Figura 02 O Processo Administrativo ............................................................... 21
Figura 03 O Planejamento Dentro do Processo Administrativo........................ 27
Figura 04 O Planejamento nos Trs Nveis Organizacionais ........................... 28
Figura 05 A Interligao entre Planejamento Estratgico, Ttico e Operacional..
......................................................................................................................... 30
Figura 06 Ciclo Bsico dos trs tipos de Planejamento ................................... 30
Figura 07 Quem l o Plano de Negcios? ........................................................ 32
Figura 08 Viso geral de um Plano de Negcios ............................................. 35
Figura 09 Tpicos Genricos de um Plano de Negcios ................................. 36
Figura 10 Questionrio de anlise de localizao da empresa ........................ 41
Figura 11 Matriz BCG ....................................................................................... 44
Figura 12 Processo de Planejamento Estratgico do Negcio......................... 46
Figura 13 O processo de Planejamento Financeiro a curto prazo (operacional)..
......................................................................................................................... 48
Figura 14 O Macroambiente e o microambiente da Organizao .................... 51
Figura 15 A anlise do ambiente externo ......................................................... 52
Figura 16 Impacto dos Pontos Fortes e dos Pontos Fracos nas expectativas da
empresa ........................................................................................................... 53
Figura 17 Matriz BCG da Panif. Bom Gosto ..................................................... 67
Figura 18 Mercado Consumidor ....................................................................... 69
Figura 19 rea de Produo ............................................................................ 75
Figura 20 rea de Vendas................................................................................ 76
9
LISTA DE QUADROS
Quadro 01 Formula para o clculo do Ponto de Equilbrio ............................... 48
Quadro 02 Formula para o clculo da Rentabilidade ....................................... 50
Quadro 03 Anlise SWOT da Panif. Bom Gosto .............................................. 60
Quadro 04 Apresentao e identificao dos concorrentes ............................. 60
Quadro 05 Calculo do Ponto de Equilbrio para a Panif. Bom Gosto ............... 64
Quadro 06 Produtos ......................................................................................... 66
Quadro 07 Prazos de vendas, compras e estoques ......................................... 76
Quadro 08 Custos Variveis ............................................................................. 80
Quadro 09 Sazonalidade das Vendas .............................................................. 81
10
LISTA DE TABELAS
Figura 01 Previso de Vendas ......................................................................... 73
Figura 02 Investimento Fixo ............................................................................. 77
Figura 03 Mo de Obra .................................................................................... 78
Figura 04 Custos Fixos Operacionais .............................................................. 79
Figura 05 Oramento de Receitas e Despesas ................................................ 82
Figura 06 Previso Anual de Vendas ............................................................... 84
Figura 07 Avaliao Econmico Financeira ..................................................... 85
Figura 08 Ponto de Equilbrio ........................................................................... 85
Figura 09 Anlise de Sensibilidade .................................................................. 87
11
SUMRIO
1 INTRODUO ....................................................................................................... 14
1.1 A Organizao ................................................................................................. 15
1.2 Questo problema ............................................................................................... 16
1.3 Justificativa da questo problema ....................................................................... 17
2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 18
2.1 Objetivo geral ...................................................................................................... 18
2.2 Objetivos especficos .......................................................................................... 18
3 FUNDAMENTAO TERICA .............................................................................. 19
3.1 Administrao ...................................................................................................... 19
3.2 Empreendedorismo ......................................................................................... 22
3.3 Planejamento ...................................................................................................... 26
3.3.1 Tipos de planejamento ..................................................................................... 28
3.4 Plano de Negcios .............................................................................................. 30
3.4.1 Estrutura do Plano de Negcios. ...................................................................... 34
3.4.1.1 Capa .............................................................................................................. 36
3.4.1.2 Sumrio ......................................................................................................... 37
3.4.1.3 Sumrio Executivo ........................................................................................ 37
3.4.1.4 Descrio da Empresa .................................................................................. 39
3.4.1.5 Produtos e Servios ...................................................................................... 41
3.4.1.6 Mercado e Competidores .............................................................................. 43
3.4.1.7 Marketing e Vendas....................................................................................... 44
3.4.1.8 Anlise Estratgica .................................................................................... 44
3.4.1.9 Plano Financeiro ........................................................................................... 45
3.4.1.9.1 Ponto de equilbrio...................................................................................... 47
3.4.1.9.2 ndices de avaliao de investimento ......................................................... 47
3.5 Analise do Ambiente ........................................................................................ 49
3.5.1 Anlise do Ambiente Externo ........................................................................... 50
3.5.2 Anlise do Ambiente Interno ............................................................................ 51
12
4 METODOLOGIA ..................................................................................................... 53
4.1 Modalidade de Pesquisa ................................................................................. 53
4.1.1 Quanto Natureza dos Dados ......................................................................... 53
4.1.2 Quanto aos Objetivos ....................................................................................... 53
4.2 Campo de Observao .................................................................................... 54
4.3 Instrumento de Coleta de Dados ..................................................................... 55
4.4 Descrio das Etapas de Investigao................................................................ 55
5 RESULTADOS ....................................................................................................... 56
5.1 Anlise do ambiente ponto fortes e pontos fracos, ameaas e oportunidades . 56
5.3 Fatores crticos de sucesso ................................................................................. 61
5.4 Anlise do ponto de equilbrio ............................................................................. 61
5.5 Plano de negcios ............................................................................................... 62
5.5.1 Capa ................................................................................................................. 63
5.5.2 Produtos e servios .......................................................................................... 64
5.5.3 Marketing e comercializao ............................................................................ 66
5.5.4 Mercado consumidor ........................................................................................ 67
5.5.5 Mercado fornecedor ......................................................................................... 68
5.5.6 Mercado concorrente ....................................................................................... 69
5.5.7 Previso de vendas .......................................................................................... 71
5.5.8 Aspectos tcnicos e operacionais .................................................................... 72
5.5.9 Layout ............................................................................................................... 72
5.5.10 Prazos de venda, compra e estoque .............................................................. 74
5.5.11 Investimento fixo ............................................................................................ 75
5.5.12 Mo de obra ................................................................................................... 76
5.5.13 Custos Fixos Operacionais ............................................................................. 77
5.5.15 Sazonalidade .................................................................................................. 79
5.5.16 Oramento de receitas e despesas ................................................................ 80
5.5.17 Previso anual das vendas ............................................................................ 82
5.5.18 Avaliao econmico financeira ..................................................................... 83
5.5.19 Ponto de equilbrio ......................................................................................... 83
5.5.20 Anlise de sensibilidade ................................................................................. 85
5.5.21 Parecer ........................................................................................................... 85
13
6 CONCLUSO ......................................................................................................... 87
REFERNCIAS ......................................................................................................... 89
APNDICE ................................................................................................................ 92
14
1 INTRODUO
Nos ltimos tempos o mundo tem passado por constantes evolues e
modificaes na economia, na poltica, na sociedade em si, que acabou por
provocar transformaes nos negcios: a chamada globalizao. E assim as
organizaes encontraram oportunidades, mas, tambm ameaas com a
globalizao. Estamos em constante evoluo tecnolgica, a comunicao se tornou
extremamente rpida, a concorrncia cada vez mais acirrada, e os consumidores
cada vez mais exigentes.
Neste cenrio, micros e pequenas empresas, face ao seu porte, conseguem
adaptar-se com maior facilidade as rpidas modificaes no mercado, tornando-se
rapidamente competitivas e podendo assim garantir a sua sobrevivncia. Pequenas
empresas mantm o contato direto com o cliente e priorizam atender as
necessidades especificas de cada um rapidamente.
O setor de panificao considerado um dos seis maiores segmentos
industriais do pas, com faturamento anual estimado em R$ 34,9 bilhes, de acordo
com levantamento Associao Brasileira da Indstria da Panificao e Confeitaria
(Abip) /2006. Sua participao no setor industrial de produtos alimentcios de
36,2%, e 7%, na indstria de transformao. Esse segmento gera 600 mil empregos
diretos e cerca de 1,5 milho de indiretos. Quase a totalidade de empresas de
panificao (96,3%) so micro e pequenas empresas. As panificadoras atendem
diariamente cerca de 40 milhes de clientes no Brasil, segundo dados da Abip.
O segmento de panificao um dos que mais cresce na economia brasileira,
segundo dados da Associao Brasileira da Indstria da Alimentao (Abia), as
vendas das padarias cresceram 142%, em 2006, e saltaram de R$ 3,3 bilhes, em
2005, para R$ 8 bilhes.
Nos ltimos anos, as padarias tm sofrido forte concorrncia dos
supermercados, que passaram a produzir e vender pes, e representam a maior
ameaa as panificadoras, pois produzem pes artesanais e os vendem abaixo do
custo para atrair clientes.
15
Por esses e por outros motivos que a empresa precisa conhecer bem o
ambiente em que se encontra: os clientes, os pontos fortes e fracos, as condies e
as necessidades do futuro e viabilidade.
Diante do exposto, torna-se imprescindvel a realizao de um plano de
negcios para a Panificadora e Confeitaria Bom Gosto.
O Plano de Negcios um documento no qual o empreendedor formaliza os
estudos a respeito de suas idias, transformando-as em um negcio. Nesse
documento registrado o conceito do negcio, os riscos, os concorrentes, o perfil
dos clientes, as estratgias de marketing, bem como todo o plano financeiro que
viabilizar o novo negcio. Neste caso o Plano de Negcios no ser utilizado para
a criao de um novo negcio, mais sim como ferramenta para a consolidao do
negcio e um crescimento planejado.
Visto isso, fica clara a importncia da realizao de um Plano de Negcios, a
empresa precisa orientar seus esforos na direo mais correta, estruturando e
planejando as aes necessrias para o melhor resultado futuro.
1.1 A Organizao
A empresa objeto deste estudo a Panificadora e Confeitaria Bom Gosto,
fundada no dia 27 de junho de 2008 por Jurandia Conceio dos Santos Machado e
Pedro Paulo Machado, situada na Avenida Nilo Bittencourt n1005 Bairro So
Vicente.
A idia de montar a panificadora surgiu por intermdio do Sr. Paulo e Sr.
Jurandia Machado ao ver que seu filho Pedro estava encontrando muitas
dificuldades na busca por trabalho, decidiram que a melhor soluo seria a abertura
do prprio negcio.
O ramo de atividade escolhido se deu pelo grande conhecimento da famlia
neste tipo de negcio com mais de dez anos de experincia.
A Bom Gosto caracteriza-se como uma empresa de cunho familiar, que iniciou
sua atividades com apenas os scios trabalhando e hoje conta com a colaborao
16
de seis funcionrios: trs balconistas, um ajudante de padeiro, um padeiro da noite e
um confeiteiro, sendo que este o nico integrante da equipe que no pertence a
famlia.
Desde sua inaugurao a Bom Gosto, com a ajuda de seus colaboradores
vem se aperfeioando e trazendo novidades aos consumidores, buscando sempre a
satisfao de seus clientes, e como resultado do bom trabalho que vem sendo
realizado, a Panificadora e Confeitaria Bom Gosto vem apresentando uma crescente
evoluo nas vendas.
Figura 01. A empresa
1.2 Questo problema
Como desenvolver o Plano de Negcios para a Panificadora e Confeitaria
Bom Gosto objetivando seu crescimento planejado, diminuir riscos e incertezas?
17
1.3 Justificativa da questo problema
A deciso de elaborar um trabalho de concluso de curso sobre plano de
negcios justifica-se pelo fato de as empresas se encontrarem diante de um cenrio
globalizado e altamente competitivo, dominado em grande parte por organizaes
de grande porte, dificultando a sobrevivncia de empresas de micro e pequeno
porte. Pode-se observar atravs dos altos ndices de mortalidade, a falta de
mecanismos que possibilitam uma gesto eficaz capaz de gerar um crescimento
sustentvel, planejado e duradouro diminuindo os riscos e aumentando a viabilidade
de sucesso do empreendimento. Esses ndices esto atrelados na maioria das
vezes, ao baixo poder financeiro, fluxo de caixa deficiente e mal administrado,
ausncia de um estudo de mercado e definio de estratgias, entre outros fatores.
O desenvolvimento deste trabalho na Panificadora e Confeitaria Bom Gosto
ser de grande importncia para a empresa, para ampliar a viso dos scios na
gesto do negcio, como ferramenta para tomada de deciso e para o crescimento
planejado da empresa.
Com esse trabalho de concluso de curso, espera-se oportunizar a
Panificadora e Confeitaria Bom Gosto um modelo de gesto, um caminho de
consolidao e expanso do negcio, ampliando seus horizontes e redefinindo sua
forma de atuao.
Como acadmica do curso de Administrao, desenvolver um trabalho em
uma empresa trar experincias prticas, conhecimentos e informaes que sero
de grande importncia para o futuro, promovendo assim, o desenvolvimento e
amadurecimento tanto pessoal, quanto acadmico.
18
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Desenvolver o Plano de Negcios para a Panificadora e Confeitaria Bom
Gosto.
2.2 Objetivos especficos
Promover a anlise do ambiente com relao s oportunidades e ameaas e
pontos fortes e fracos da empresa,
Identificar e apresentar os concorrentes diretos,
Avaliar os fatores crticos de sucesso,
Anlise do ponto de equilbrio,
Elaborar o plano de negcios.
19
3 FUNDAMENTAO TERICA
Este captulo tem por finalidade apresentar teoricamente idias e conceitos de
alguns autores, com o intuito de estabelecer um referencial terico para o
desenvolvimento de um Plano de Negcios.
3.1 Administrao
O conceito da administrao de forma geral fazer a utilizao mxima de
todos os recursos disponveis na realizao dos objetivos da organizao, mas cada
autor a define de uma forma especfica.
Segundo Chiavenato (1994) a expresso administrao teve sua origem no
latim: ad, direo para, tendncia; minister, comparativo de inferioridade,
subordinao e obedincia. Em sua origem, a palavra administrao se refere a uma
funo que se desenvolve sob o comando de outro, de um servio que se presta a
outro.
Longnecker (1997, p.24) diz que alguns definem a administrao como
sendo a arte de obter as coisas mediante o trabalho de outras pessoas. Para
Longnecker isto distingue o trabalho administrativo do no administrativo, mas diz
pouco sobre o processo real de administrar ou de como se obtm resultado das
pessoas.
A administrao apresentada por Maximiano (2005, p.06) como sendo
importante em qualquer escala de utilizao de recursos para realizarem objetivos
individual, familiar, grupal, organizacional ou social.
Drucker (1989, p.164) comenta ainda que: hoje em dia, sem dvida, h tanta
administrao fora da empresa, quanto na empresa talvez mais.
Administrao uma atividade ativa, dinmica, que envolve tomar decises
sobre recursos utilizados e objetivos definidos. O processo de administrar faz parte
20
de qualquer situao em que haja pessoas utilizando recursos para atingir algum
objetivo, seja ele qual for.
A administrao est presente em qualquer tipo de organizao,
organizaes lucrativas chamadas empresas e organizaes no lucrativas como
igrejas, entidades filantrpicas e organizaes no governamentais. Para
Chiavenato (2000, p.01) a administrao nada mais do que a conduo racional
das atividades de uma organizao seja ela lucrativa ou no. Onde quer que haja
trabalho em conjunto de pessoas com a inteno de alcanar um ou mais objetivos
comuns, o componente fundamental desse conjunto para alcanar esses objetivos
a administrao.
Os administradores alcanam os objetivos das organizaes conseguindo
que outros realizem as tarefas necessrias e no realizando eles prprios
as tarefas. A administrao isso e mais na verdade, ela tantas coisas
que nenhuma definio foi universalmente aceita. Alm disso, as definies
mudam medida que mudam os ambientes das organizaes
(STONER;FREEMAN, 1999, p.5).
Longenecker (1997, p.24) diz que a prtica administrativa correta depende
muito da situao que se tem em mos. O melhor tipo de estrutura organizacional de
liderana e de sistema de controle depende das circunstncias ou de caractersticas
de determinada situao.
Segundo Chiavenato (1994), o processo administrativo divide-se em quatro
etapas para facilitar o alcance dos objetivos organizacionais. Etapas estas
denominadas como: planejamento, organizao, direo e controle. A seguir so
mencionados os conceitos destas etapas segundo Chiavenato (2004), e Daft (2005).
Planejamento: responsvel por estipular os objetivos a serem alcanados
em todos os nveis organizacionais, uma funo em que o administrador deve
definir misso, propsito e valores da organizao, estabelecer objetivos e
determinar a melhor maneira de alcan-los.
Organizao: responsvel por definir de que forma isso ser feito e quem
far o que, esta funo que estabelece a estrutura atravs do qual o trabalho
definido, subdividido e coordenado pela organizao.
Direo: significa direcionar tarefas, ou seja, liderar a equipe para que os
objetivos sejam alcanados. influenciar os funcionrios a envolverem-se com o
21
objetivo da organizao, fazendo com que eles realizem as atividades necessrias
com qualidade e determinao atravs de comunicao, motivao e disciplina.
Controle: que visa analisar e monitorar as atividades realizadas, ou seja, o
monitoramento das atividades realizadas pelos colaboradores, a fim de certificar se
a organizao est caminhando realizao de suas metas.
Tais etapas podem ser observadas na figura 2:
Ambiente Externo
Entradas Sadas
Insumos Resultados
Figura 02. O processo administrativo
Fonte: Chiavenato, 2004, p. 15
A administrao tem como tarefa a interpretao dos objetivos propostos pela
organizao, para ento transformarmos em ao. Esta ao deve ser planejada,
organizada, dirigida e controlada, onde o controle deve ser realizado em todas as
reas da organizao, e em todos os seus nveis.
Hampton (1992) afirma que o que diferencia a administrao dos demais tipos
de trabalhos executados no seio de uma organizao, que o trabalho
administrativo concentra-se em manter a organizao, facilitando atingir seus fins.
A teoria geral da administrao moderna do sculo XX apresenta diversos
conceitos que foram desenvolvidos pelos primeiros administradores. Esses
Planejamento
Organizao
Direo
Controle
22
conceitos evoluram continuamente ao longo dos tempos, influenciados pelas
circunstncias a cada momento histrico.
Para Maximiano (2005, p.19) no limiar do sculo XXI, mudanas em todos os
tipos de ambientes competitivo, tecnolgico, econmico, social levaram ao
surgimento de novos conceitos e tcnicas para administrar as organizaes.
Chiavenato(1983) afirma que profissional que faz uso da administrao como
meio de vida, pode atuar nos diversos nveis de uma organizao, desde o nvel
hierrquico at o nvel de dirigente mximo da organizao. Pode trabalhar nas
diferentes especializaes da Administrao, seja a Administrao da Produo,
Administrao Financeira, Administrao de Recursos Humanos, Administrao
Mercadolgica, ou ainda a Administrao Geral.
Em todas as organizaes e at mesmo no dia a dia das pessoas, de uma
forma ou de outra a administrao est presente, sendo assim deve-se dar mais
ateno ao tema, estud-lo, procurar entend-lo e aplic-lo em suas organizaes e
em suas vidas pessoais.
3.2 Empreendedorismo
Segundo Dornelas (2001, p.27) a palavra empreendedor (entrepreneus) tem
origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e comea algo novo.
Empreendedores so pessoas diferenciadas, possuem motivao, gostam do
que fazem, no querem ser mais um, querem ser reconhecidas, admiradas e
imitadas. Querem fazer parte da histria e do futuro.
Empreendedor aquele que materializa e gerencia um negcio, assumindo
riscos em favor do lucro, j Dolabela (2006, p.25) define o empreendedor como
algum que sonha e busca transformar seu sonho em realidade.
De acordo com Filion (1991) apud Dolabela (2006, p.25) um empreendedor
uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza vises. E segundo Chiavenato
(2007) o empreendedor a energia da economia, a alavanca de recursos, o impulso
de talentos, a dinmica de idias.
23
Empreendedorismo o processo de criar algo novo, com valor, dedicando
o tempo e os esforos necessrios, assumindo os riscos financeiros,
psquicos e sociais correspondentes e recebendo as conseqentes
recompensas da satisfao e independncia econmica e pessoal.
(DOLABELA, 2006, p.29)
Na maioria das definies apresentadas sobre empreendedorismo, existe um
consenso de que se est falando de uma espcie de comportamento que inclui:
tomar iniciativa, organizar e reorganizar mecanismos sociais e econmicos a fim de
transformar recursos e situaes para proveito prtico, e aceitar o risco e o fracasso.
(HISRICHI & PETERS, 2004)
De acordo com Timmons (1994) apud Dolabela (2006, p.26) o
empreendedorismo uma evoluo silenciosa, que ser para o sculo XXI mais do
que a revoluo industrial foi para o sculo XX.
No existe um perfil exato de empreendedor, mas pode-se encontrar pontos
em comum no que diz respeito as principais caractersticas de empreendedores de
sucesso (DOLABELA, 2006):
O empreendedor tem um modelo, uma pessoa de influencia;
Tem iniciativa, autonomia, autoconfiana, otimismo, necessidade de
realizao;
Trabalha sozinho;
Tem perseverana e tenacidade;
Considera o fracasso um resultado como outro qualquer, e aprende
com ele;
Tem grande energia;
Sabe fixar metas e atingi-las;
Luta contra padres impostos;
Tem forte intuio;
Tem sempre alto comprometimento;
Sabe buscar, utilizar e controlar recursos;
um sonhador realista;
lder;
24
orientado para o futuro;
Traduz seus pensamentos emoes;
pr-ativo;
Tem grande capacidade de influenciar as pessoas;
Mantm alto nvel de conscincia do ambiente em que vive;
Tem alta tolerncia a incerteza;
Assume ricos calculados;
Aprende a partir do que faz.
Ser um empreendedor envolve mais do que a abertura de um novo negcio,
ou o desenvolvimento de um novo produto ou servio, envolve a sociedade, e as
conseqncias que este novo produto ou negcio traro a ela.
Dolabela (2006) enfatiza a importncia do empreendedorismo para a
sociedade e enumera alguns pontos que considera pontual, como a dinamizao da
economia, o melhor recurso contra o desemprego e a responsabilidade pelo
desenvolvimento econmico e social, subtraindo desse conceito aqueles que visam
apenas o enriquecimento pessoal, poluem o meio ambiente e cujas empresas
causam doenas ou efeitos que exterminam vidas.
Ainda hoje existe certa confuso entre administrador e empreendedor, porem
existe uma grande diferena entre os dois. De acordo com Dornelas (2001, p.29-37)
o trabalho do administrador ou a arte de administrar concentra-se nos atos de
planejar, organizar, dirigir e controlar. J o empreendedor aquele que detecta
uma oportunidade e cria um negocio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos
calculados, ou seja, o empreendedor um visionrio, que no busca fazer o
mesmo, busca fazer algo novo.
Todo empreendedor necessariamente deve ser um bom administrador para
obter sucesso, no entanto, nem todo bom administrador um
empreendedor. O empreendedor tem algo a mais, algumas caractersticas
e atitudes que o diferenciam do administrador tradicional (DOLABELA,
2001, p.28).
Para ser bem sucedido, o empreendedor no deve apenas saber criar seu
prprio empreendimento, ele deve saber administrar seu negcio, deve saber
25
mant-lo em um ciclo de vida prolongado, para obter assim retornos significativos
dos seus investimentos.
A pessoa empreendedora criativa, possui a capacidade de definir e
conquistar objetivos e matem um nvel elevado de conscincia do ambiente em que
vivem, utilizando isto para detectar oportunidades de negcios. O empreendedor
um insatisfeito que transforma seu inconformismo em descobertas e propostas
positivas para si mesmo e para os outros. (DOLABELA, 2006, p.26).
Um empreendedor que continua a buscar por possveis oportunidades de
negcios, e a optar por decises arriscadas, buscando a inovao, ir manter-se
desempenhando um papel empreendedor.
O esprito empreendedor envolve fatores emocionais e racionais, conforme
podemos observar:
O esprito empreendedor envolve sentimento como emoo, paixo, impulso,
inovao, risco e intuio, mas no pode deixar de lado a racionalidade, o equilibrio
entre estes aspectos indispensvel. Saber estabelecer metas e objetivos globais e
encontrar os meios adequados para alcanar seu objetivos da melhor maneira
possvel. O empreendedor deve saber definir seu negcio, conhecer seu cliente e
suas necessidades, determinar a misso e a viso do futuro, formular objetivos e
estabelecer estratgias para alcan-los, desenvolver e estabilizar sua equipe, lidar
com assunto de produo, marketing e finanas, inovar e competir em um contexto
repleto de ameaas e oportunidades. (CHIAVENATO, 2007).
O empreendedorismo tem um papel fundamental no desenvolvimento
econmico, de uma sociedade, atravs dos empreendedores diversas barreiras
esto sendo eliminadas, o empreendedor a essncia da inovao no mundo, a
pessoa que abala a ordem econmica existente graas a introduo de novos
produtos ou servios no mercado.
O papel do empreendedorismo no desenvolvimento econmico envolve
mais do que apenas o aumento de produo e renda per capta; envolve
iniciar e construir mudanas na estrutura do negcio e da sociedade. Tal
mudana acompanhada pelo crescimento e por maior produo, o que
permite que mais riqueza seja dividida pelos vrios participantes. (HISRICH
; PETERS; 2004, p.33)
No Brasil o empreendedorismo comeou a tomar forma na dcada de 1990,
durante a abertura da economia e desde ento vem recebendo ateno de
26
entidades e do governo. Esta ateno se deve ao fato da taxa de mortalidade de
novas empresas ser muito alta, 56% delas no chegam a completar o terceiro ano
de vida. Vrios so os fatores que contribuem para essa taxa de mortalidade, mas o
principal deles a falta de planejamento antes de iniciar o novo negcio. Por este
motivo, torna-se to importante a capacitao de candidatos a empreendedores.
Sendo assim, para que o empreendedor possa ser bem sucedido, torna-se
necessria a utilizao do planejamento, tema este que ser apresentado a seguir.
3.3 Planejamento
Planejamento significa estabelecer um conjunto de providncias para a
realizao de objetivos organizacionais de modo mais eficiente, eficaz e efetivo,
envolvendo a escolha de um curso de ao e quando e como deve ser realizado. De
todas as funes administrativas, o planejamento a mais importante pois afeta
todas as demais. Para Maximiano (1981, p.154) planejar tomar no presente,
decises que afetam o futuro.
De acordo com Steiner (1969) apud Oliveira (2007) o planejamento apresenta
cinco dimenses, cujos aspectos so apresentados a seguir:
A primeira dimenso do planejamento corresponde ao assunto
abordado, que pode ser produo, novos produtos, marketing, finanas
entre outros.
A segunda dimenso corresponde aos elementos do planejamento, dos
quais, podemos citar objetivos, estratgias, propsitos, polticas, entre
outros.
A terceira dimenso diz respeito dimenso do tempo do
planejamento, que pode ser de longo, mdio e curto prazo.
A quarta dimenso corresponde as unidades organizacionais, onde
elaborado o planejamento, e nesse caso pode haver planejamento
corporativo, de negcios, de departamentos, entre outros.
27
A quinta dimenso diz respeito as caractersticas do planejamento, que
podem ser complexas ou simples, qualidade ou quantidade,
confidencial ou publico, planejamento estratgico ou ttico, formal ou
informal, econmico ou caro.
Estas cinco dimenses permitem a visualizao da amplitude do assunto
planejamento.
Planejamento determinar os objetivos certos e em seguida escolher os
meios corretos para alcanar esses objetivos (STONER; FREEMAN, 1991).
O propsito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de
processos, tcnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma
situao vivel de avaliar as implicaes futuras de decises presentes em
funo dos objetivos empresariais que facilitaro a tomada de deciso no
futuro, de modo mais rpido, coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste
raciocnio, pode-se afirmar que o exerccio sistemtico do planejamento
tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisrio e
conseqentemente, provocar o aumento da probabilidade de alcance dos
objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa (OLIVEIRA,
2007, p.05).
Planejar uma das quatro funes interativas da administrao, poderia se
considerar como funo bsica e inicial das aes de planejar, organizar, liderar e
controlar, como pode ser observado na figura 03.
Figura 03. O planejamento dentro do processo administrativo.
Fonte: Chiavenato, 2004, p.190
O planejamento deve ser visto como uma esplendorosa rvore, com razes
profundas, da qual saem os ramos da organizao, da liderana e do controle.
Planejamento
-Definir a misso, objetivos e prioridades
-Determinar onde as coisas esto agora
-Desenvolver premissas sobre as
condies futuras
Identificar os meios para alcanar os
objetivos
-Implementar os planos de ao e avaliar
os resultados
Organizao
Direo
Controle
28
Sem planos, os administradores no podem saber como devem organizar
as pessoas e os recursos, podem at mesmo no ter uma idia clara sobre
o que precisam organizar. Sem um plano, no podem liderar com confiana
ou esperar que os outros os sigam. E sem um plano, os administradores e
seus seguidores tem pouca chance de alcanar seus objetivo ou de saber
quando e onde saram do caminho. Frequentemente planos falhos afetam
a sade de toda a organizao. (STONER, FREEMAN; 1999, p.137)
por isso que muitas organizaes dedicam tanta ateno s estratgias e
planos desenvolvidos para cumprir os grandes objetivos das organizaes.
A seguir sero apresentados os tipos de planejamento existentes nas
organizaes.
3.3.1 Tipos de planejamento
Existem trs tipos de planejamento: planejamento estratgico, planejamento
ttico e planejamento operacional. Estes podem ser de longo, mdio e curto prazo,
envolver a organizao inteira, como tambm um nico departamento. O
planejamento se distribui em todos os nveis organizacionais, e em cada nvel
apresenta caractersticas diferentes, o que pode ser observado na figura 04.
Figura 04. O planejamento nos trs nveis organizacionais.
Fonte: Chiavenato, 2004, p.202
Planejamento estratgico definido como um processo gerencial que possibilita ao
administrador estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com intuito de obter
Nvel
Organizacional
Institucional
Intermedirio
Operacional
Estratgico
Ttico
Operacional
Contedo
Genrico
e
Sinttico
Menos
genrico e
mais detalhado
Detalhado
e
Analtico
Tempo
Longo prazo
Mdio prazo
Curto prazo
Amplitude
Macroorientado
Aborda a
organizao
como um todo
Aborda cada
unidade
organizacional
em separado
Microorientado
Aborda cada
operao em
separado
Nvel de
Planejamento
29
um nvel de otimizao entre a empresa e o ambiente onde est inserida. De
acordo com Fischmann; Almeida (1991) planejamento estratgico uma tcnica
administrativa, que utiliza da analise do ambiente da organizao para criar
conhecimento das suas ameaas e oportunidades, pontos fortes e fracos para que
possa ser cumprida a sua misso. Atravs desse conhecimento, estabelecido
ento a direo que a organizao dever seguir para evitar os riscos, e aproveitar
as oportunidades.
Planejamento ttico tem como funo principal traduzir as decises estratgicas
em aes a serem empreendidas pelos diversos setores da organizao, portanto
o planejamento ttico tem seu foco mais restrito. Nesse nvel, enfrenta-se um nvel
menos de incerteza, , uma vez que a interpretao das demandas do ambiente
efetuada basicamente no nvel estratgico. Segundo Chiavenato (2004) o
planejamento ttico focado no mdio prazo, e utilizado para delinear o que as
vrias partes da organizao, devem fazer para que a organizao alcance
sucesso no decorrer do perodo de um ano.
Planejamento operacional o planejamento dos meios e recursos a serem
utilizados para a realizao de objetivos. O planejamento operacional a
formalizao das metodologias de desenvolvimento e implantao estabelecidos
nos nveis acima.
O planejamento operacional focado para o curto prazo e abrange
cada uma das operaes ou tarefas individualmente. Preocupa-se com o
que fazer e com o como fazer as atividades quotidianas da organizao
(CHIAVENATO, 2004, p.207)
Figura 05. A interligao entre planejamento Estratgico, Ttico e Operacional.
Fonte: Chiavenato, 2004, p. 205
Planejamento
Estratgico
Planejamento
Ttico
Mapeamento ambiental,
avaliao das foras e
limitaes da organizao,
incerteza e imprevisibilidade.
Nvel
Institucional
Planejamento
Operacional
Nvel Intermedirio
Traduo e interpretao das
decises estratgicas em
planos concretos ao nvel
departamental.
Desdobramento dos planos
tticos da cada departamento em
planos operacionais para cada
tarefa ou atividade. Certeza e
previsibilidade.
Nvel
Operacional
30
Basicamente, no planejamento estratgico so definidos os objetivos de longo
prazo e aes para alcan-los. No planejamento ttico so definidos quais recursos
devero ser utilizados para que os objetivos definidos no planejamento estratgico
sejam alcanados, e no planejamento operacional so definidas as metodologias de
desenvolvimento e implantao estabelecidas no planejamento estratgico e ttico.
Figura 06. Ciclo bsico dos trs tipos de planejamento.
Fonte: Oliveira, 2007, p.17
3.4 Plano de Negcios
O Plano de Negcios pode ser considerado um passo importante para a
abertura ou expanso de um empreendimento. O empreendedor, muitas vezes, tem
um plano em mente, mas para que esse empreendimento prospere, faz-se
necessria a transformao dessas idias em um documento formal.
Segundo Salim (et.al.,2005, p.3) Plano de Negcios um documento que
contem a caracterizao do negocio, sua forma de operar, suas estratgias, seu
plano para conquistar uma fatia do mercado e as projees de despesas, receita e
resultados financeiros.
Planejamento
estratgico da
empresa
Consolidao e
interligao de
resultados
Anlise e controle
de resultados
Planejamentos
operacionais das
unidades
organizacionais
Anlise e controle de
resultados
Planejamentos
tticos da empresa
Anlise e controle de
resultados
31
Hisrich e Peters (2004) afirmam que o Plano de Negcios um documento
onde so descritos todos os elementos externos e internos importantes envolvidos
no inicio de um novo empreendimento, e com freqncia uma reunio de planos
funcionais como os de finanas, marketing, recursos humanos e produo. Dolabela
(2006, p. 77) diz que o plano de negcios uma linguagem para descrever de
forma completa o que ou o que pretende ser uma empresa.
Longnecker, Moore e Petty (1997) definem plano de negcios como um
documento que contem a idia bsica e todas as consideraes relacionadas ao
inicio de um novo negocio. Sendo assim, pode-se definir o plano de negcios como
um instrumento de planejamento, no qual so apresentadas organizadamente as
principais variveis envolvidas em um empreendimento.
Diversos autores afirmam que o principal usurio do plano de negcios o
empreendedor. O plano de negcios faz com que o empreendedor mergulhe
profundamente na analise de seu negocio, diminuindo sua taxa de risco e auxiliando
nas decises. As decises podem ser positivas ou no para a abertura de um novo
negcio ou lanamento de um novo produto. Com a anlise profunda do negcio o
empreendedor pode reduzir os riscos futuros, pois o plano apresenta ao idealizador
as possveis mudanas no ambiente externo, o que pode levar no s a
oportunidades, mas tambm a ameaas.
O plano de negcios no destinado unicamente ao empreendedor, entre o
publico alvo do plano de negcios esto as incubadoras, parceiros, bancos,
investidores, fornecedores, a empresa internamente, os clientes e scios.
Figura 07. Quem l o Plano de Negcios?
Fonte: Salim et.al., 2005, p.29
Quem l o Plano de Negcios?
Scios
Parceiros
Empregados
Investidores
PLANO DE
NEGCIOS
Sociedade Mercado
32
O plano de negcios a base para operar um negcio, e atravs deste, o
empreendedor tem a possibilidade de demarcar o curso para sua nova empresa.
Segundo Hisrici e Peters (2004, p.208) o plano de negcios : seguramente o
documento mais importante para o empreendedor do estgio inicial. provvel que
potenciais investidores no pensem em investir em um novo empreendimento
enquanto o plano de negcios no estiver completado Sendo assim, o plano de
negcios deve ser elaborado adequadamente, apresentando a idia principal, bem
como todas as consideraes operacionais, financeiras, gerenciais e
mercadolgicas, fornecendo dados para o conhecimento do empreendedor.
Um plano de negcios essencial para o sucesso do negcio e deve ser
utilizado para qualquer tipo de empreendimento, podendo ser desenvolvidos planos
de marketing, planos financeiros, planos de produo e planos de vendas. Os planos
podem ser de curto ou de longo prazo, estratgico ou operacional, tendo como foco
oferecer direcionamento e estrutura para a administrao em um mercado de
rpidas mudanas.
Dornelas (2001) classifica os planos de negcios da seguinte forma quanto ao
seu tamanho e aplicao:
Plano de Negcios Completo: utilizado para obter recursos. Quando se deseja
captar grande quantidade de dinheiro ou quando necessrio apresentar uma viso
completa do empreendimento. O seu tamanho pode variar entre quinze e quarenta
pginas, mais o material anexo.
Plano de Negcios Resumido: apresenta informaes bsicas sobre o negcio
como objetivos principais, investimentos, mercado e o retorno sobre investimento
alem de outras informaes pertinentes de forma que desperte a ateno de um
possvel investidor para que posteriormente ele pea um plano mais detalhado do
empreendimento. Normalmente este tipo de plano apresentado em dez a quinze
paginas.
Plano de Negcios Operacional: para empresas j em funcionamento, utilizado
internamente com a finalidade de auxiliar no gerenciamento para alcanar objetivos
dentro da empresa. Seus leitores podem ser diretores, gerentes e/ou funcionrios, e
o seu tamanho depender da quantidade de informao que ser necessrio
repassar ao pblico alvo do plano.
33
Percebe-se que o tamanho do plano de negcios depende da quantidade de
informaes necessrias direcionadas a um determinado tipo de leitor (investidor,
fornecedor, banco, governo).
A anlise do macro e micro ambiente merece uma maior ateno, uma vez
que onde so avaliados os riscos inerentes ao negocio, onde o empreendedor
identifica os pontos fortes e fracos do seu empreendimento. O plano de negcios
mostra ao empreendedor as modificaes no ambiente, e leva a empresa a ter
discernimento sobre as oportunidades e ameaar do empreendimento, e tambm
seu pontos fortes e fracos, orientando assim as aes estratgicas da organizao.
Atravs do plano de negcios possvel:
Entender e estabelecer diretrizes para o seu negcio.
Gerenciar de forma mais eficaz a empresa e tomar decises acertadas.
Monitorar o dia-a-dia da empresa e tomar aes corretivas quando
necessrio.
Conseguir financiamentos e recursos junto a bancos, governo, SEBRAE,
investidores, capitalistas de risco etc.
Identificar oportunidades e transform-las em diferencial competitivo para
a empresa.(DORNELAS, 2001, p.97)
Essa ferramenta de gesto pode e deve ser usada por todo e qualquer
empreendedor que queira transformar seu sonho em realidade, seguindo o caminho
lgico e racional que se espera de um bom administrador.(DORNELAS; 2001, p.95)
O empreendedor precisa de orientao para a elaborao do Plano de
Negcios, existem muitas semelhanas entre estruturas gerais propostas nos planos
de negcios, e o futuro empreendedor poder fazer uso de qualquer modelo
disponvel nas literaturas para desenvolver o plano de negocio para o seu
empreendimento ou futuro empreendimento. Degen (1989, p.186) afirma que: o
contedo do plano de negcio depende do seu objetivo que pode ser operacional
ou de obteno de recursos -, da originalidade e, sobretudo, do tipo do negcio[...]
por isso, o plano de negcio acaba sendo e deve ser um documento extremamente
personalizado.
No prximo item sero apresentados modelos de estruturas para a
elaborao do plano de negcios.
34
3.4.1 Estrutura do Plano de Negcios
Uma indstria diferente de uma empresa de prestao de servios que por
sua vez diferente de um comrcio varejista, no existe uma estrutura rgida e
especifica para se escrever um plano de negcios, pois cada negcio tem
particularidades e semelhanas, sendo impossvel definir um modelo padro de
plano de negcios que seja universal e aplicado a qualquer negcio.(DORNELAS,
2001, p.99) contudo, em qualquer plano de negcios deve haver um mnimo de
sees, que proporcionaro um entendimento completo do negcio.
O plano de negcios pode levar mais de 200 horas para ser preparado,
dependendo da experincia e do conhecimento do empreendedor, bem
como o propsito a que o plano se destina. Deve ser abrangente o
suficiente para dar ao investidor em potencial um panorama completo e
compreenso do novo empreendimento a ajudar o empreendedor a
esclarecer suas idias sobre o negcio.( HISRICH; PETERS, 2004, p.217).
Para Dornelas (2001, p.118), a estrutura do plano de negcios deve abordar
os seguintes tpicos: Capa, Sumrio, Sumrio Executivo, Descrio da empresa,
Produtos e Servios, Mercado e Competidores, Marketing e Vendas, Anlise
Estratgica, Plano Financeiro, Anexos.
Os autores Longnecker, Moore e Petty (1997) citam como componentes de
um plano de negcios o: resumo executivo, descrio geral da empresa, plano de
servios e produtos, plano de marketing, plano gerencial, plano operacional, plano
jurdico, plano financeiro e apndice. Pode-se observar na figura 07, de maneira
simplificada os componentes de um plano de negcios formal:
Figura 08. Viso geral de um plano de negcios.
Fonte: Longnecker, Moore e Petty, 1997, p.170
Resumo Executivo: Uma viso geral de uma a trs paginas do plano total de negcios. Escrito depois que as outras sees
foram completadas, enfatiza seus pontos importantes e, idealmente, cria interesse suficiente para motivar o leitor a l-lo.
Descrio Geral da Empresa: Descreve o tipo de empresa e fornece sua historia, se ela j existir. Diz se um negcio de
manufatura, varejo, servios ou outro tipo de negcio.
Plano de Servios e Produtos: Descreve o produto e/ou servios e aponta quaisquer aspectos singulares. Explica por que
as pessoas compraro os produtos ou servios.
Plano de Marketing: Mostra quem sero seus clientes e que tipo de competio voc enfrentara. Esboa sua estratgia de
marketing e especifica o que lhe dar vantagem competitiva.
Plano Gerencial: Identifica os participantes-chave os investidores ativos, a equipe gerencial e os diretores. Cita a
experincia e competncia que possuem.
Plano Operacional: Explica o tipo de manufatura ou sistema operacional que voc usar. Apresenta projees de receitas,
custos e lucro.
Plano Jurdico: Mostra o tipo proposto de constituio jurdica da empresa por exemplo, empresa individual, sociedade por
quotas ou sociedade annima. Aponta consideraes jurdicas especiais, relevantes.
Apndices: Fornece materiais suplementares ao plano.
35
Degen (1989, p.188) apresenta uma lista genrica de tpicos que devem ser
considerados na elaborao de um plano de negcios, conforme pode ser
observado na figura 08.
Figura 09. Tpicos genricos do plano de negcios.
Fonte: Degen, 1898, p.188
Servio Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas Paran
(SEBRAE - PR) (2006), desenvolveu um modelo simplificado de plano de negcios
que realizado atravs de uma planilha do Excel, com uma linguagem simples e
pratica para sua elaborao. Este plano de negcios e composto pelas seguintes
etapas:
1. Capa 13. Investimento fixo
2. O que um Plano de Negcios 14. Mo de obra
3. Produtos e Servios 15. Custos Fixos Operacionais
4. Marketing e Comercializao 16. Custos Variveis
5. Mercado Consumidor 17. Sazonalidade de vendas
CAPA DO PLANO
SUMRIO
NDICE
I. DESCRIO DO NEGCIO
Oportunidade do negocio
Conceito do negocio
Produto e suas caractersticas
Mercado potencial e projeo de vendas
Anlise da concorrncia
Estratgia competitiva
Localizao do negocio
Descrio da operao
Equipe gerencial
Descrio da administrao
Necessidade de pessoal
Necessidade e fontes de recursos dos empreendedores e de terceiros
Estrutura da sociedade
Resultados operados sob formar de pay-bay e taxa interna de retorno
II. ANLISE FINANCEIRA Oportunidade do negocio
Custos e receitas operacionais
Anlise do ponto de equilbrio
Necessidades financeiras e seus custos
Investimentos em ativos, pr-operacional, e em capital de giro
Fluxo de caixa, pay-back e taxa interna de retorno
Anlise da sensibilidade ao nvel de vendas e custos financeiros
III. ANLISE DOS RISCOS
Possveis riscos
Medidas para reduzi-los
DOCUMENTOS ANEXOS
36
6. Mercado Fornecedor 18. Oramento de receitas e despesas
7. Mercado Concorrente 19. Previso anual
8. Previso de vendas e custos 20. Avaliao Econmico Financeira
9. Aspectos tcnicos e operacionais 21. Ponto de Equilbrio
10. Layout 22. Grfico do ponto de equilbrio
11. Aspectos Legais e Tributrios 23. Anlise de Sensibilidade
12. Prazos de vendas/compras/estoque 24. Parecer
Este modelo de plano foi utilizado para auxiliar na elaborao do Plano de
negcios para a Panificadora e Confeitaria Bom Gosto, que ser apresentado nos
resultados.
Comenta-se a seguir a estrutura do plano de negcios mais detalhadamente,
seguindo a sugesto de estrutura apresentada por Dornelas (2001) abordado
anteriormente.
3.4.1.1 Capa
Segundo Dornelas (2001, p.119) a capa a primeira pgina do plano de
negcios, ela serve como a pgina de ttulo, que deve conter as seguintes
informaes:
Nome da empresa
Endereo da empresa
Telefone da empresa (incluindo DDD)
Endereo eletrnico do site e e-mail da empresa
Logotipo (se a empresa tiver um)
Nomes, cargos, endereos e telefones dos proprietrios da empresa (dados
do diretor presidente e principais pessoas-chave da empresa)
Ms e ano em que o plano foi feito
Nmero da cpia
37
Nome de quem fez o plano de negcios
3.4.1.2 Sumrio
O sumrio de um plano de negcios muito importante, nele devem aparecer
todos os ttulos e subttulos do plano, e suas respectivas pginas. Segundo Dornelas
(2001, p. 121) comum o leitor de um plano de negcios se interessar mais por
uma seo especifica do plano. Portanto, quanto mais fcil for a tarefa de se
localizar a seo desejada, mais propenso ficar o leitos a ler com ateno o seu
plano de negcios.
3.4.1.3 Sumrio executivo
O Sumrio Executivo surge no incio do plano de negcios, e resume os
pontos mais importantes de todos os assuntos abordados no plano. O sumrio
Executivo a principal seco de seu plano de negcios e deve expressar uma
sntese do que apresentado na seqncia, preparando o leitor e atraindo o mesmo
para uma leitura com mais ateno e interesse (DORNELAS, 2001, p. 121).
O sumrio executivo um extrato competente e motivante do plano de
negcios. Qual a rea de negcios, qual o produto ou servio, qual o
mercado e a fatia desse mercado queremos obter? Qual o investimento
necessrio, em quanto tempo vamos recuperar o dinheiro investido e qual
o rendimento que vamos ter de nosso investimento em um prazo
estabelecido? Tudo isso, sem explicar detalhes, mas dito de maneira clara,
objetiva e sucinta. Isso o que deve conter o Sumrio Executivo (SALIM,
et. al., 2005, p.41).
Para Dornelas (2001) o sumrio executivo deve responder as seguintes
perguntas:
Qual o propsito do seu plano?
O que voc esta apresentando?
38
O que a sua empresa?
Qual seu produto/servio?
Onde sua empresa est localizada?
Onde esta seu mercado/cliente?
Porque voc precisa do dinheiro requisitado?
Como voc empregar o dinheiro na sua empresa?
Como est a sade financeira de seu negcio?
Como est crescendo sua empresa (faturamento dos ltimos trs
anos)?
De quanto dinheiro voc necessita?
Como se dar o retorno sobre o investimento?
Quando seu negcio foi criado?
Quando voc precisar dispor do capital requisitado?
Quando ocorrer o pagamento do emprstimo obtido?
Embora seja difcil determinar o que importante em um resumo executivo,
uma vez que cada plano diferente, h uma srie de questes significativas que
devem ser abordadas.(HISRICH, PETERS; 2004, p.219)
O empreendedor deve descrever brevemente o conceito do negcio.
Quaisquer dados que sustentam a oportunidade desse
empreendimento devem ser brevemente declarados.
Como essa oportunidade ser buscada.
Qual a estratgia de marketing que ser implementada.
E como a empresa se difere das outras no mercado.
Principais resultados financeiros que podem ser alcanados a partir da
estratgia de marketing implementada.
Deve ser mencionado experincias importantes do empreendedor,
como contratos significativos, ou outros documentos oportunos.
Como o Sumrio Executivo limitado, ento importante que o
empreendedor identifique o que relevante para o publico a quem o plano
direcionado.
39
Para Salim, et. al. (2005) o Sumrio Executivo deve apresentar os seguintes
aspectos:
1. Objetivo do Plano de Negcios: o objetivo do PN retratar a empresa e o
negcio que se pretende empreender.
2. A empresa ou o produto: apresentar a oportunidade que foi identificada, e sua
transformao em um negcio (empresa ou unidade de negcio).
3. O que ser oferecido ao mercado, produto ou servio, e como ser feita a
abordagem a esse mercado?
4. Viso do empreendedor e misso da empresa, a imagem que pretende
projetar dela, e os fatores crticos de sucesso?
5. Com o produto ou servio ser vendido, como se manter atualizado, e como
sero cumpridos os objetivos da empresa.
6. Quais so os scios e qual a estrutura de propriedade da empresa.
7. Quais sero os investimento necessrios, para que a empresa se estabelea
no mercado?
8. Quanto ser necessrio mensalmente para que a empresa mantenha-se em
funcionamento?
9. Qual ser a receita prevista e como se dar sua evoluo?
10. Em que ponto a empresa passara a ter receitas capazes para cobrir suas
despesas?
11. Quando os investidores iro recuperar os investimento, e quais sero as
perspectivas futuras do negcio?
Para se ter bem claras essas informaes que devero ser apresentadas no
Sumrio Executivo, necessrio, primeiramente, desenvolver todo o Plano de
Negcios, de modo a retirar dele todos esses dados resumidos.
3.4.1.4 Descrio da empresa
A descrio da empresa deve ser elaborada atravs de um breve resumo
sobre a organizao da empresa em geral. Deve conter informaes como o motivo
40
pelo qual a empresa ser ou foi criada, seu propsito, qual a natureza de seus
produtos e servios, algo sobre seu desenvolvimento, qual o modelo de negocio e
qual diferencial pretende oferecer com relao a seus concorrentes. A descrio
deve conter tambm a razo social e o nome fantasia da empresa, qual seu porte, e
como se enquadrada na legislao.
Equipe Gerencial: esta seo dever mostrar as qualificaes de seu pessoal.
Dornelas (2001, p.127) os investidores normalmente investem em pessoas, que so
o principal ativo das empresas nascentes. E quanto mais capacitadas em tcnicas
de gesto e experientes essas pessoas so, melhores as chances de a empresa
conseguir o capital solicitado.
Estrutura Legal: segundo Dornelas (2001) nesta seo devem constar
informaes como envolvimento dos scios na empresa, a participao de cada um,
como ser realizada a diviso dos lucros e de quem sero as responsabilidades
financeiras, devem constar informaes referentes a natureza da empresa: se ela
micro, pequena ou mdia empresa, benefcios fiscais e outros dados relacionados.
Nos anexos deve ser includa uma cpia do contrato social da empresa.
Localizao e Infra-estrutura: aqui apresentada uma breve descrio sobre
a localizao do empreendimento e a infra-estrutura disponvel, fazendo um
levantamento de suas condies e benefcios. Dornelas (2001, p.129) sugere um
questionrio para auxilio na hora de escolher a localizao por meio da anlise de
alguns fatores crticos, que pode ser observado na figura 09.
Figura 10. Questionrio de anlise de localizao da empresa.
Fonte: Dornelas, 2001, p.129
Questionrio de anlise de localizao da empresa
1. O valor do aluguel competitivo? (Cuidado: nem sempre o menor valor de aluguel significa um melhor
custo/beneficio)
2. A rea adequada para as necessidades de ocupao da empresa? (Anlise do nmero atual de
funcionrios e as perspectivas de crescimento da empresa, estacionamento etc)
3. No caso de empresa comercial/varejo: o local fica em uma regio de grande trfego de pedestres?
4. Existe estacionamento para os clientes?
5. As instalaes telefnicas e de Internet so de fcil disponibilidade no local? E como a qualidade das
instalaes eltricas e hidrulicas?
6. O tipo de negcio que voc quer montar pode ser instalado nessa regio da cidade?
7. O local de fcil acesso para os fornecedores e para o escoamento de produo? (No caso de empresas de
manufatura, distribuio e atacado)
8. O local e de fcil acesso para os funcionrios?
9. O imvel novo e de boa aparncia?
10. O imvel seguro e bem protegido?
41
Manuteno de Registros: nesta parte so descritos detalhes sobre a
contabilidade da empresa, quais profissionais so responsveis, como avaliado o
servio e por quem. Para Dornelas (2001) o bom contador deve auxiliar o
empresrio no s com informaes sobre datas e valores dos desembolsos, mas
tambm no gerenciamento do caixa da empresa.
Seguro: nesta seo, de acordo com Dornelas (2001) devem ser descritos
quais bens da empresa so assegurados, deixando informaes de valores para as
planilhas financeiras.
Segurana: deve se fazer uma antecipao dos problemas de segurana que
possam ocorrer dentro da empresa, ressaltando medidas a serem tomadas, e o
motivo da escolha dessas medidas, (DORNELAS, 2001).
Terceiros: nesta seo devem constar informaes sobre os terceiros que
sero contratados pela empresa, e os motivos pelos quais foram escolhidos, e os
benefcios que oferecem, (DORNELAS, 2001).
Parceiros Estratgicos: pode ser um fornecedor, terceiro contratado ou ate
mesmo um cliente. Parcerias estratgicas podem beneficiar a empresa com
negociaes ou outros assuntos, proporcionando uma vantagem em relao a
concorrncia, (DORNELAS, 2001).
3.4.1.5 Produtos e servios
Segundo Dornelas (2001) nesta fase devem ser descritos quais os produtos
ou servios que a empresa ir oferecer, porque ela capaz de fornec-los e como
eles sero fornecidos, quais as caractersticas da equipe de produo, e em quais
aspectos o produto ou servio difere dos oferecidos pela concorrncia.
42
De acordo com Salim, et. al. (2005) os pontos importantes que devem constar
na descrio dos produtos ou servios so:
1. Descrio clara de cada um dos produtos ou servios oferecidos pela
empresa.
2. Seu mercado, e as principais necessidades deste.
3. Apresentao dos competidores, comparao dos servios e produtos com os
oferecidos pela concorrncia e apresentar quais os benefcios que fazem os
produtos/servios serem mais vantajosos que os da concorrncia.
4. Material usado para apoiar a venda de seus produtos e servios.
5. Custos para o fornecimento dos produtos e servios, e os preos que podem
ser praticados no mercado.
6. Margens que podem ser praticadas nas vendas dos produtos ou servios.
7. Questes tecnolgicas envolvidas com os produtos ou servios.
8. Viso futura dos servios e produtos, como devem se desenvolver, qual a
evoluo das necessidades do mercado, dos concorrentes, da demanda, de
segmentos especficos do mercado e da tecnologia adotada.
A descrio do produto no plano de negcios deve ressaltar suas
caractersticas e benefcios. Deve ficar claro para o empreendedor quais
so as diferenas entre dois atributos: Caractersticas esto relacionadas
geralmente a aspectos fsicos (tamanho, peso, formato, cor) e
funcionalidades (feito de, usado para, aplicado como), enquanto os
benefcios esto relacionados satisfao do cliente e o que o produto lhe
proporciona (convenincia, segurana, garantia, facilidade de uso,
felicidade). Se possvel, faa uma comparao com os atributos dos
produtos da concorrncia (DONELAS, 2001, p.134).
importante que se faa uma anlise da situao atual da carteira de
produtos da empresa, esta anlise pode ser feita atravs da matriz BCG (Boston
Consulting Goup), atravs da matriz BCG pode ser feita a anlise do portflio
organizacional. A seguir sero apresentados os quadrantes da matriz BCG:
- Produto estrela, segundo Maximiano (2005, p. 364): so os produtos ou
unidades de negcios que tem participao elevada em mercados com altas taxas
de crescimento e que, portanto, tm alto potencial de lucratividade. Por causa disso,
as estrelas so unidades de negcio ou produtos ganhadores de dinheiro.
43
- Produto ponto de interrogao: so os produtos ou unidades de negcios
que tm pequena participao em mercados com altas taxas de crescimento.
Portanto, so pontos de interrogao porque precisam de dinheiro para um
investimento cujo retorno incerto (MAXIMIANO, 2005, p.364).
- Produto vaca leiteira: so produtos e negcios que tem alta participao em
mercados estabilizados, com pequenas taxas de crescimento. Por causa disso, as
vacas leiteiras ganham dinheiro, mas no precisam de grandes investimentos
(MAXIMIANO, 2005, p.364).
- Produtos Vira-latas: so produtos e negcios que tem pequena participao
em mercados com pequenas taxas de crescimento. Precisam de dinheiro para
sobreviver e no ganham o suficiente para tanto. Portanto, no representam boas
oportunidades de investimento (MAXIMIANO, 2005, p.364).
Figura 11. Matriz BCG.
Fonte: Maximiano, 2005, p. 363
3.4.1.6 Mercado e competidores
Nesta etapa sero avaliadas as condies do mercado do tipo de produto ou
servio que se deseja oferecer. Dornelas (2001, p.139) afirma que: importante
que a empresa conhea muito bem o mercado onde atua ou pretende atuar, pois s
assim conseguir estabelecer uma estratgia de marketing vencedora.
PARTICIPAO DO MERCADO
Grande Pequena
Grande
CRESCIMENTO
DO MERCADO
Pequena
PONTO DE
INTERROGAO
?
ESTRELAS
VACA LEITEIRA
VIRA LATA
44
Nesta faze, tambm, deve ser feita a anlise da concorrncia, que segundo
Dornelas (2001, p.139) de suma importncia em qualquer plano de negcios. Ao
analisar a concorrncia importante que o empreendedor no encare como
competidores apenas aqueles que tem o mesmo tipo de negcio, os concorrentes
diretos, mas os concorrentes indiretos que tambm merecem ateno especial. Para
Dornelas (2001) qualquer empreendedor que queira competir no mercado e almeje
vencer, deve conhecer muito bem sua concorrncia.
3.4.1.7 Marketing e vendas
Aps a pesquisa de mercado, o empreendedor estabelece suas estratgias
de marketing, e atravs delas que o empreendedor ir buscar caminhos para
alcanar seu objetivos. Essas estratgias na maioria das vezes se referem ao
comporto de marketing, ou os 4Ps: produto, preo, praa promoo. Segundo
Dornelas (2001, p.148) a empresa pode adotar estratgias especificas, atuando
sobre o composto de marketing, de forma a obter melhore resultado sobre seus
competidores.
Em se tratando de vendas, Dornelas (2001) afirma que o plano de negcios
necessita compor uma projeo de vendas, que elaborada baseada na anlise de
mercado, na capacidade produtiva e na estratgia de marketing.
3.4.1.8 Anlise estratgica
Aps analisar produtos, concorrentes, vendas e outros aspectos necessrios
para que se tome um conhecimento geral sobre tudo que envolve e influencia a
organizao, cabe ao empreendedor fazer uma anlise estratgica para que saiba
escolher as melhores alternativas para alcanar as metas e objetivos estipulados.
45
Um forma prtica de elaborar esta anlise o planejamento estratgico. O processo
de planejamento estratgico pode ser visualizado na figura 11.
Figura 12. Processo de planejamento estratgico do negcio.
Fonte: Dornelas, 2001, p.154
3.4.1.9 Plano financeiro
Considerada a etapa mais difcil do plano de negcios, o plano financeiro tem
como objetivo analisar a viabilidade do negcio e demonstrar a previso de seu
retorno financeiro. aconselhvel que nesta etapa o empreendedor recorra a
profissionais especializados.
Dornelas (2001, p.161) diz que a parte financeira: deve refletir em nmeros
tudo o que foi escrito at ento nas outras sees do plano, incluindo investimentos,
gastos com pessoal, custos fixos e variveis, projeo de vendas, anlises de
rentabilidade do negcio etc.
O processo de planejamento financeiro, de acordo com Gitman (2002) se
inicia com os planos financeiros de longo prazo, os planos estratgicos, e que
direciona a formulao de planos e oramentos a curto prazo. Os planos financeiros
(estratgicos) a longo prazo so aes planejadas para um futuro distante,
Declarao
de viso e
misso do
negcio
Anlise do
ambiente
externo
(oportunidade
s e ameaas)
Anlise do
ambiente
interno (foras
e fraquezas)
Formulao
de objetivos
e metas
Formulao
de
estratgia
Implementao
Feedback e
controle
46
acompanhadas da previso de seus reflexos financeiros. Tais planos devem cobrir
perodos de dois a dez anos...(GITMAN, 2002, p.588)
Os planos de produo, marketing e outros utilizam uma srie de recursos
administrativos para orientar a empresa a alcanar seus objetivos, estes so
traados atravs o plano estratgico da empresa paralelo a ele, encontra-se os
planos financeiros a longo prazo.
Planos a longo prazo segundo Gitman (2002, p.588) focalizam os dispndios
de capital, atividades de pesquisa e desenvolvimento, aes de marketing e de
desenvolvimentos de produtos, estrutura de capital e importantes fonte de
financiamentos.
Os planos financeiros de longo prazo so um modo organizado e sistemtico,
pelo qual v-se as necessidades de capital ou financiamento para transformar as
aspiraes da empresa em realidade. O planejamento financeiro a longo prazo
auxilia a ordenar as alternativas, priorizar objetivos e dar uma direo a empresa.
Segundo Gitman (2002, p.588) os planos financeiros (operacionais) a curto
prazo so aes planejadas para um perodo curto (de um a dois anos)
acompanhado da previso de seus reflexos financeiros.
No h uma definio globalmente aceita para finanas a curto prazo. A
diferena mais significante entre finanas de curto prazo e finanas de longo prazo
a durao da srie de fluxo de caixas. O planejamento financeiro a curto prazo
estabelece as aes que devem ser implementadas para atingir as metas de longo
prazo, antecipando-se ao impacto destas aes. Pode ser observado o processo de
planejamento financeiro de curto prazo atravs do fluxograma a seguir:
Figura 13. O processo de planejamento financeiro a curto prazo (operacional).
Fonte: Gitman, 2002, p.589
47
3.4.1.9.1 Ponto de equilbrio
Ponto de equilbrio nada mais do que o valor que a empresa precisa vender
para cobrir o custo das mercadorias vendidas, as despesas variveis e as despesas
fixas. No Ponto de Equilbrio, a empresa no ter lucro nem prejuzo.
Atualmente na busca da competitividade fundamental que as empresas
conheam o seu Ponto de Equilbrio, para tanto, precisam desenvolver essa
ferramenta gerencial.
No ponto de equilbrio, segundo Dornelas (2008) no h lucro nem prejuzo,
isto , a receita proveniente das vendas equivale a soma dos custos fixos e
variveis. Se o volume de vendas for inferior ao ponto de equilbrio, a empresa ter
prejuzos, pois no final do ms no ter dinheiro para pagar as contas. O quadro a
seguir apresenta a formula para o calculo do ponto de equilbrio.
PE = custo fixo
1 (custo varivel/receita total)
Quadro 01. Formula para o clculo do ponto de equilbrio.
Fonte: Dornelas, 2008, p.156
A anlise do ponto de equilbrio segundo Hisrich e Peters (2004, p.271),
uma tcnica til para determinar quantas unidades devem ser vendidas ou o volume
de vendas que deve ser atingido de forma que se alcance o ponto de equilbrio.
Portanto, o ponto de equilbrio pode ser determinado a partir do lucro projetado. Ele
mede o ponto em que a receita total se iguala ao custo total.
3.4.1.9.2 ndices de avaliao de investimento
Quando se oferecem oportunidades de investimento faz-se necessrio avaliar
os projetos para decidir qual ou quais devero ser executados. De acordo com
Gitman (2002, p. 326) as tcnicas de anlise de oramentos de capital so
48
utilizadas pelas empresas para a seleo de projetos que iro aumentar a riqueza de
seus proprietrios.
Sendo assim torna-se necessrio que o empreendedor busque conhecer
estes indicadores, tais como:
Playback: O payback o indicador que tem por funo mostrar em quanto tempo
ser recuperado o dinheiro gasto no investimento inicial.
Sendo talvez o mtodo mais simples de avaliao, o perodo de payback
definido como sendo aquele nmero de anos ou meses, dependendo da
escala utilizada, necessrios para que o desembolso correspondente ao
investimento inicial seja recuperado, ou ainda, igualado e superado pelas
entradas liquidas acumuladas. (SANVICENTE, 1987, p.44)
Segundo Gitman (2002, p.327) o perodo de payback o perodo de tempo
exato necessrio para a empresa recuperar seu investimento inicial em um projeto, a
partir das entradas de caixa. Conforme afirmam os autores citados, os perodos de
payback so normalmente utilizados como critrio de avaliao de investimentos,
indicando o perodo de recuperao do investimento inicial, a partir das entradas de
caixa. Assim, quanto menor for o tempo pata recuperao do investimento inicial,
mais atraente se torna o negcio.
Rentabilidade: o percentual que representa o quanto a empresa rende
mensalmente, de acordo com Dornelas (2008, p.159) Rentabilidade, ou Retorno
Contabil sobre o Investimento: responde a pergunta Quantos reais em mdia so
gerados por real mdio de investimento? O quadro a seguir apresenta a formula
para o calculo da rentabilidade:
Rentabilidade = Lucro anual mdio
Valor declarado mdio do investimento
Quadro 02. Formula para o clculo da rentabilidade.
Fonte: Dornelas, 2008, p.159
Lucratividade: o percentual que representa o lucro lquido mensal, segundo
Dornelas (2008, p.158) as medidas de lucratividade mostram quanto uma empresa
atrativa do ponto de vista de um investidor, pois esses ndices so usados para
49
justificar os investimentos. Gitman (2002) afirma que a lucratividade de um
empreendimento pode ser avaliado em relao as sua vendas, ativos, patrimnio
liquido e o valor da ao, que de forma geral permitem ao analista analisar os lucros
da empresa em comparao com um dado nvel de vendas, um certo nvel de ativos,
o investimento dos proprietrios, ou o valor da ao.
3.5 Anlise do ambiente
Neste item ser definida a anlise do ambiente, onde de acordo com Wright et
al. (2000), toda organizao faz parte de uma complexa rede de foras ambientais,
sofrendo influencia direta e indireta das mudanas que ocorrem no ambiente onde
esto inseridas.
Para que uma organizao seja bem sucedida faz-se necessrio que ela
conhea o meio onde est inserida, e a melhor maneira para ser feito isso atravs
da anlise do macro e do micro ambiente. Na Figura 09 podem ser visualizados os
componentes do macro e micro ambientes.
Figura 14. O macroambiente e o microambiente da organizao.
Fonte: Chiavenato, 2004, p.80
Clientes
Microambiente
Variveis
econmicas
Fornecedores Variveis
culturais
Variveis
ecolgicas
Organizao
Concorrentes
Agncias
reguladoras
Macroambiente
Variveis
tecnolgicas
Variveis
demogrficas
Variveis
legais
Variveis
sociais
50
3.5.1 Anlise do ambiente externo
Todas as empresas so influenciadas por quatro foras ambientais, so elas:
poltico-legais, econmicas, tecnolgicas e sociais:
Essas foras macroambientais no esto, em geral, sob controle direto das
organizaes. Portanto, o objetivo da administrao estratgica criar
condies para que a empresa com eficcia diante de ameaas ou
restries ambientais, e possa tambm capitalizar as oportunidades
oferecidas pelo ambiente (WRIGHT;KROLL E PARNELL, 2007, p.48).
Para Dolabela (2006) os aspectos poltico-legais esto relacionados
avaliao de polticas setoriais, estmulos sobre as micro empresas e mdias
empresas, e observncia de leis que conduzem o setor. J os aspectos
econmicos so de grande importncia, pois influenciam de maneira crucial na
estabilidade ou abertura de um novo negcio. Ainda para o autor, determinadas
mudanas nos aspectos tecnolgicos podem afetar setores inteiros da economia,
torna-se importante ento considerar se o novo empreendimento mais ou menos
vulnervel as influncias tecnolgicas. E ainda, Dolabela (2006) afirma que os
aspectos culturais abrangem fatores sociolgicos, psicolgicos, princpios ticos e
morais e tradies, importante realizar a avaliao de tais fatores que podem
afetar o novo negcio.
Figura 15. A anlise do ambiente externo.
Anlise do ambiente social
Fatores econmicos, socioculturais, tecnolgicos,
poltico-legais.
Anlise da
concorrncia
Anlise de
mercado
Anlise de grupos
de interesse
Anlise da
comunidade
Anlise de
fornecedores
Anlise
governamental
Seleo de fatores
estratgicos
Oportunidades
Ameaas
51
Fonte: Hunger e Wheelen, 2002, p. 48
Oliveira (2007, p.71) afirma que a anlise externa tem por finalidade estudar
a relao existente entre a empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e
ameaas, bem como a sua atual posio produtos versus mercados e, prospectiva,
quanto a sua posio produtos versus mercados desejados no futuro.
Oportunidades, de acordo com Costa (2005, p.86) so fatores externos
previsveis para o futuro que, se ocorrerem, afetaro positivamente as atividades da
empresa. Ainda para Costa as ameaas so fatores previsveis para o futuro que,
se ocorrerem, afetaro negativamente as atividades. Ou seja, a empresa deve
buscar minimizar as ameaas existentes no ambiente onde esta inserida, e
aproveitar as oportunidades identificadas.
Alguns tpicos devem ser considerados na anlise do ambiente externo:
- Mercado nacional e regional;
- Mercado internacional;
- Evoluo tecnolgica;
- Fornecedores;
- Mercado financeiro;
- Aspectos econmicos e culturais;
- Aspectos polticos;
- Entidades de classe;
- rgos governamentais;
- Mercado de mo de obra; e
- Concorrentes.(OLIVEIRA, 2007, p.44)
Uma ferramenta que pode ser utilizada pra que seja feita a anlise do
ambiente externo e tambm do ambiente interno da organizao e a anlise SWOT.
Fernandes e Bruno (2005, p.136) afirmam que a sigla SWOT vem do ingls
strengths (foras), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e theats
(ameaas).
3.5.2 Anlise do ambiente interno
Nesta etapa so verificados os pontos fortes e fracos da organizao. Para
Costa (2005, p.110-112) pontos fortes so aquelas caractersticas positivas de
destaque, na instituio, que a favorecem no cumprimento de seu propsito. Ainda
52
para Costa pontos fracos so caractersticas negativas, na instituio, que a
prejudicam no cumprimento do seu propsito.
Figura 16. Impacto dos pontos fortes e dos pontos fracos nas expectativas da empresa.
Fonte: Oliveira, 2007, p.82
Oliveira apresenta alguns fatores que devem ser considerados na anlise
interna, so eles:
- produtos e servios atuais
- novos produtos e servios;
- promoo;
- imagem institucional;
- comercializao;
- sistema de informao;
- estrutura organizacional;
- tecnologia;
- suprimentos;
- parque industrial;
- recursos humanos;
- estilo de administrao;
- resultados empresariais;
- recursos financeiros/finanas; e
- controle e avaliao. (OLIVEIRA, 2007, p.49)
Oliveira (2007) afirma que a estrutura organizacional aparece como um dos
principais atributos a serem analisados no processo de definio de pontos fortes e
fracos, pois apenas uma empresa com estrutura organizacional bem definida pode
alcanar seus objetivos de maneira adequada.
importante salientar a necessidade de considerar, tanto na analise externa
como interna da empresa, a identificao e conseqentemente utilizao dos
recursos intangveis (OLIVEIRA, 2007, p.49).
53
4 METODOLOGIA
Este captulo destina-se a apresentao da metodologia utilizada no
desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, assim como as tcnicas e critrios que
vo ser utilizados. Segundo Barros e Lehfeld (1986, p. 01) a metodologia, num nvel
aplicado, examina e avalia as tcnicas de pesquisa, bem como a gerao ou
verificao de novos mtodos que conduzem captao e processamento de
informaes com vistas resoluo de problemas de investigao.
4.1 Modalidade de pesquisa
4.1.1 Quanto natureza dos dados
A pesquisa quanto a sua natureza foi de abordagem qualitativa, de acordo
com Vieira; Zouain (2006, p. 14) Cientificidade, rigor e confiabilidade, por exemplo,
so tambm caractersticas fundamentais de uma pesquisa qualitativa. Ela no se
prende a concluses numricas, mas em particular, seu pesquisador se preocupa
em pesquisar e compreender profundamente os processos de uma organizao ou
um grupo em especfico.
4.1.2 Quanto aos objetivos
Este trabalho de pesquisa foi formulado atravs de uma pesquisa
exploratria, pois esta forma de pesquisa auxilia no melhor entendimento sobre a
situao a qual esta atuando.
54
So finalidades de uma pesquisa exploratria, sobretudo quando
bibliogrfica, proporcionar maiores informaes sobre determinado
assunto; facilitar a delimitao de um tema de trabalho; definir os objetivos
ou formular as hipteses de uma pesquisa ou descobris novo tipo de
enfoque para o trabalho que se tem em mente. Atravs das pesquisas
exploratrias avalia-se a possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa
sobre determinado assunto. (ANDRADE, 2001, p.124)
Malhotra (2006, p.100) afirma que o objetivo da pesquisa exploratria
explorar ou fazer uma busca em um problema ou em uma situao para prover
critrios e maior compreenso. Ainda, de acordo com o autor este tipo de pesquisa
utilizado em casos onde se faz necessrio definir o problema com maior preciso,
identificando caminhos relevantes de ao, ou obtendo dados adicionais antes que
se possa desenvolver uma abordagem.
4.1.3 Quanto aos procedimentos
A pesquisa quanto aos procedimentos foi realizada atravs de estudo de
caso. O estudo de caso proporciona um estudo mais aprofundado, permitindo um
conhecimento mais extenso e detalhado a respeito do assunto. Yin (2001, p.19)
afirma que: os estudos de caso representam a estratgia preferida quando se
colocam questes do tipo como e porque, quando o pesquisador tem pouco
controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenmenos
contemporneos inseridos em algum contexto da vida real.
4.2 Campo de observao
Para a realizao deste trabalho foi pesquisada uma empresa que atua na
rea do comercio varejista de panificao, Panificadora e Confeitaria Bom Gosto,
uma micro empresa que trabalha com um variado leque de produtos, dentre eles,
pes, bolos, doces e salgados.
55
4.3 Instrumento de coleta de dados
Nesta pesquisa, foram utilizados como instrumento de coleta de dados
questionrio semi-estruturado, a entrevista e a observao, onde, segundo Markoni
e Lakatos (2006, p.92) a entrevista : um procedimento utilizado na investigao
social, para a coleta de dados ou para ajudar no tratamento de um problema social.
Para Mattar (2005, p.184) o mtodo da entrevista caracterizado pela existncia de
uma pessoa (entrevistador) que far a pergunta e anotar as respostas do
pesquisado (entrevistado).
Markoni e Lakatos (2006, p.88) afirmam que: a observao ajuda o
pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os
indivduos no tm conscincia, mas que orientam seu comportamento.
Foi considerada tambm a pesquisa bibliogrfica, que segundo Marconi e
Lakatos (2006, p.71), sua finalidade colocar o pesquisador em contato direto com
tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. Mattar (2005)
afirma que a pesquisa bibliografia e uma das formas mais rpidas e econmicas
para aprofundar um problema de pesquisa.
4.4 Descrio das etapas de investigao.
Promover a anlise do ambiente com relao s oportunidades e ameaas e
pontos fortes e fracos da empresa,
Identificar e apresentar os concorrentes diretos,
Avaliar os fatores crticos de sucesso,
Anlise do ponto de equilbrio,
Elaborar o plano de negcios.
56
5 RESULTADOS
Para a realizao de um plano de negcios adequado, faz-se necessria a
realizao da anlise do ambiente interno e externo da empresa, o qual foi realizado
atravs da aplicao da ferramenta de anlise do ambiente Matriz SWOT. Atravs
desta ferramenta, foi possvel verificar os pontos fortes e fracos e ameaas e
oportunidades da empresa. As informaes obtidas so apresentadas a seguir:
5.1 Anlise do ambiente ponto fortes e pontos fracos, ameaas e
oportunidades
A anlise ambiental, conforme descrito na reviso terica, de fundamental
importncia para o desenvolvimento do plano de negcios, pois tem como objetivo
identificar os pontos fortes e pontos fracos, ameaas e oportunidades relacionadas
ao negcio. Atravs da anlise das entrevistas realizadas e questionrios aplicados
(Apndice A), e da viso dos scios foram identificados os pontos fortes e tambm
os pontos fracos da empresa. Abaixo pode ser observada a entrevista realizada com
uma amostra de trs clientes da Panificadora Bom Gosto.
Resultado da entrevista:
Variedade de produtos: o cliente 1 afirma que a variedade de produtos tima, que
encontra tudo que procura; j o cliente 2 disse apenas que a variedade boa, e o
cliente 3 exps que os produtos oferecidos so diversificados, diferente das padarias
da regio que oferecem apenas o bsico.
Qualidade dos produtos: O cliente 1 disse que os produtos so timos, j o cliente 2
afirma que todos os produtos so muito bons e bem feitos, e o cliente 3 comentou
que os produtos so excelentes, de qualidade e satisfazem suas necessidades.
57
Preos so competitivos ou no?: O cliente 1 disse que os preos so bons,
principalmente o preo dos pes que so muito baratos; o cliente 2 afirmou apenas
que os preos so competitivos, e o cliente 3 comentou que os preos dos pes so
muito bons, e os produtos que no so produzidos pela padaria que so caros.
Os produtos que voc esta acostumada a consumir encontra todos na padaria?:
Todos os entrevistados responderam que sim, e o cliente 3 enfatizou que encontra
todos os produtos que esta mais acostumada a consumir.
Layout: O cliente 1 disse que a distribuio dos mveis tima, o cliente 2 afirmou
que a distribuio dos mveis boa, os balces so bem visveis, s as prateleiras
no esto ao acesso dos clientes, e o cliente 3 comentou que h bastante espao
para a circulao dos clientes, e tambm afirmou como o cliente 2 que as
prateleiras ficam atrs dos balces obrigando assim que os clientes peam os
produtos para as balconistas.
Qualidade do atendimento: o cliente 1 disse que o atendimento timo, j o cliente 2
afirmou que sempre bem atendido, disse ainda que as atendentes so atenciosas,
j o cliente 3 comentou que as atendentes so simpticas, mas mencionou que nos
horrios de movimento as balconistas atendem com pressa, o que constrange os
cliente a escolher com mais calma o que vai comprar.
Sugestes de melhoria: O cliente 1 no apresentou sugestes de melhoria, o cliente
2 sugeriu a colocao de uma lanchonete para cafs rpidos com cafeteira,
mesinhas e microondas, e o cliente 3 apresentou como sugesto de melhoria a
colocao de mais uma balconista para o atendimento no perodo da tarde, e uma
futura ampliao da rea de vendas, para que os produtos fiquem de fcil acesso
aos clientes.
Diante das anlises realizadas, foram identificados os pontos fortes e fracos,
ameaas e oportunidades para a empresa em estudo, o que pode ser observado no
quadro a seguir:
58
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Qualidade dos produtos produzidos;
Cortesia no atendimento;
Estrutura fsica de atendimento
adequada;
Ampla rea de estacionamento para
clientes;
Variado mix de produtos;
Higiene e limpeza;
Boa localizao;
Conhecimento dos scios na rea de
atuao;
Preos reduzidos.
Estrutura fsica da rea de produo
insuficiente;
Nmero insuficiente de balconistas para
atendimento nos horrios de pico;
Inexistncia de sala para confeitaria;
Inexistncia de lanchonete;
Falta de variedades de salgados fritos;
Bloqueio de acesso dos clientes aos
produtos expostos nas prateleiras;
AMEAAS OPORTUNIDADES
Abertura de mercados de grande porte
prximos panificadora;
Concorrentes;
Ausncia de outras panificadoras na
Avenida Nilo Bittencourt;
Bairro populoso, e em desenvolvimento.
Quadro 03. Anlise SWOT para a Panif. Bom Gosto
Fonte: Dados da pesquisa, 2009
5.2 Identificao e apresentao dos concorrentes diretos
Promover a anlise dos concorrentes o segundo objetivo especfico
proposto como concluso para este trabalho.
PANIFICADORA CINTHIA
Tempo do negcio 9 anos
Distncia da Panf. Bom Gosto 393 m
Estrutura fsica
Estrutura fsica interna pequena, com
pouco espao para circulao dos
clientes.
Ambiente escuro, e pouco atraente
visivelmente.
No possui estacionamento para clientes
Produtos
Oferece produtos(produo prpria) de
tima qualidade, com mix variado de
produtos.
59
Trabalha com mix reduzido de produtos
de convenincia, e geladeira devido ao
seu espao fsico reduzido.
Localizao
Localizao favorvel, esta instalada em
uma regio onde residem muitas
famlias.
Marketing
Possui apenas placa luminosa na parte
externa da panificadora.
PANIFICADORA NANDA
Tempo do negcio 3 anos
Distncia da Panf. Bom Gosto 416 m
Estrutura fsica
Estrutura fsica interna pequena, com
pouco espao para circulao dos
clientes.
Ambiente com aspecto desagradvel e
desorganizado.
Possui estacionamento para os clientes,
mas e ms condies.
Produtos
Oferece produtos (produo prpria) de
qualidade regular, com mix variado de
produtos .
Trabalha com mix reduzido de produtos
de convenincia, e geladeira devido ao
seu espao fsico reduzido.
Localizao
Localizao desfavorvel, esta instalada
no final de uma avenida, onde ainda
existem muitos lotes desocupados,
poucas famlias residindo prximas a
panificadora.
Marketing
Possui placar luminoso na parte externa
da panificadora. Realiza semanalmente
anncios com bicicleta de som.
60
PANIFICADORA DOCE PO
Tempo do negcio
10 anos Abertura e fechamento
constante.
Distncia da Panf. Bom Gosto 675 m
Estrutura fsica
Estrutura fsica interna ampla, com
amplo espao para circulao dos
clientes.
Ambiente com muito espao ocioso.
Possui estacionamento para os clientes.
Produtos
Oferece produtos(produo prpria) de
qualidade regular, com mix reduzido de
produtos .
Trabalha com mix extremamente
reduzido de produtos de convenincia, e
geladeira.
Localizao
tima localizao em avenida
movimentada, mas ponto comercial
defasado.
Marketing
Possui apenas nome da panificadora
pintado na fachada.
PANIFICADORA KIMASSA
Tempo do negcio 2 anos
Distncia da Panf. Bom Gosto 784 m
Estrutura fsica
Estrutura fsica interna ampla, com timo
espao para circulao dos clientes e
distribuio de produtos.
Ambiente agradvel com lanchonete
completa e uma loja de convenincias
diversificada.
No possui estacionamento para
clientes.
Produtos Oferece produtos (produo prpria) de
61
tima qualidade, com mix variado de
produtos .
Trabalha com amplo mix de produtos de
convenincia e geladeira.
Localizao
tima localizao, esta instalada na
esquina de duas avenidas
movimentadas, com muitos comrcios e
residncias prximas a panificadora
Marketing
Placa na fechada, placar luminoso na
calada, promoes em cartazes
anexados na parte externa da padaria,
realiza anncios com carro de som
semanalmente.
Quadro 04. Apresentao e identificao dos concorrentes
Fonte: Dados da pesquisa, 2009
5.3 Fatores crticos de sucesso
Como segundo objetivo especifico, este trabalho de pesquisa props a
identificao dos Fatores Crticos de Sucesso (FCS). Atravs da interpretao dos
dados coletados, detectou-se que a empresa possui os seguintes itens como FCS:
1. Localizao:
2. Mix de produtos:
3. Bom Atendimento:
4. Qualidade dos produtos:
5. Estacionamento para clientes:
5.4 Anlise do ponto de equilbrio
62
O ponto de equilbrio demonstra o quanto a empresa deve faturar
mensalmente para cobrir seus custos fixos e variveis. No ponto de equilbrio, no
h lucro nem prejuzo, isto , a receita de vendas equivale a soma dos custos fixos e
variveis.
Quando o volume de vendas for inferior ao ponto de equilbrio, a empresa ter
prejuzos, pois no final do ms no ter dinheiro para pagar as contas. Abaixo
demonstramos o clculo do ponto de equilbrio para a Panificadora Bom Gosto:
PE = 10.893,73 = 27.763,2
1 (20.441,90/33.642,53)
Quadro 05. Calculo do ponto de equilbrio para a Panif. Bom Gosto
Fonte: Dados da pesquisa 2009
O clculo demonstra que o ponto de equilbrio da Panificadora Bom gosto
de R$ 27.763,2. No levantamento realizado junto a empresa, pode ser constatado
que desde janeiro/2009 a empresa mantm suas vendas acima do ponto de
equilbrio, o que muito saudvel para uma empreendimento recm constitudo.
Para o empresrio fundamental ter o valor mnimo de vendas como ponto
de referncia, como parmetro de vendas e crescimento do negcio.
5.5 Plano de negcios
Conforme definido, ser apresentado o Plano de Negcios da Panificadora e
Confeitaria Bom Gosto, adaptado do modelo do SEBRAE-PR, cuja estrutura
contempla: capa, produtos e servios, marketing e comercializao, mercado
consumidor, mercado fornecedor, mercado concorrente, previso de vendas e
custos, aspectos tcnicos e operacionais, layout, aspectos legais e tributrios,
prazos de vendas/compras/estoque, mo de obra, custos fixos operacionais, custos
63
variveis, sazonalidade de vendas, oramento de receitas e despesas, previso
anual, avaliao econmico financeira, ponto de equilbrio, anlise de sensibilidade.
5.5.1 Capa
PLANO DE NEGCIOS SIMPLIFICADO
Empresa: Panificadora e Confeitaria Bom Gosto
Este documento fruto
das informaes levantadas por voc, futuro empreendedor.
Assim a sua eficcia est atrelada confiabilidade
dos dados coletados.
Salientamos a importncia de voc analisar todos os
pontos fortes e fracos de sua futura empresa,
e lembre-se: o papel do empresrio fundamental
para o sucesso do empreendimento.
Parabns pela sua opo, e conte com o SEBRAE
na sua caminhada rumo ao sucesso!
64
5.5.2 Produtos e servios
A Panificadora e Confeitaria Bom Gosto oferece a seus clientes uma
grande variedade de produtos que so descritos no quadro abaixo:
PRODUO PRPRIA
Pes
Po salgado, massinha, sovadinho,
massinha grande, po de hambrguer,
po de cachorro quente.
Pes Grandes
po caseiro, po de leite, po de aipim,
po de batata, po puma, po integral.
Salgados
po pizza, croissant, folheado, po de
queijo, rosca de polvilho, calzone,
pasteis, coxinhas, risoles, bolinhos de
carne
Doces
Sonho Grande (recheado), sonho
pequeno (s/ recheio), broa, macron,
orelha de gato, mini bananinha,
brigadeiro, beijinho, bomba de chocolate,
carolina.
Bolos
Bolo simples, Bolo Nega maluca, Bolo
de banana, Bolo de queijo, Cuca de
banana, Bolo de cenoura, bolo de milho,
bolo de coco, Bolo Toalha felpuda,
Rocambole, Bolo de banana
caramelizada, Torta de Limo, Torta de
Maracuj, Pudim de leite condensado,
Bolo de Fub, Torta Confeitada.
Diversos Farinha de rosca, torradinha.
PRODUTOS DE REVENDA
Comrcio Rosquinhas, broas.
Prateleira Produtos frios.de convenincias.
65
Geladeira Bebidas, laticnios e frios
Quadro 06. Produtos
Fonte: dados da pesquisa, 2009
importante que se faa uma anlise da situao atual da carteira de
produtos da empresa, esta anlise pde ser feita atravs da matriz BCG. Abaixo
demonstramos anlise do portflio organizacional :
Figura 17. Matriz BCG da Panif. Bom Gosto
Fonte: dados da pesquisa, 2009
Produto Estrela: So produtos que tem participao elevada em mercados com altas
taxas de crescimento.
Mini bananinha, mini sonho e mini orelhinha se encaixam neste quadrante porque
so produtos muito procurados, e sua procura se eleva a cada semana.
Anteriormente estes produtos eram comercializados em tamanhos maiores e em
preos mais elevados, pode-se observar que os clientes da panificadora procuram
produtos com preos mais reduzidos, ento foi feita uma pequena reduo no
tamanho e no preo desses produtos, que resultou no aumento de vendas que a
principio era de 20 a 25 unidades por dia para 150 a 180 unidades por dia.
Produto Ponto de interrogao: So produtos que tem pequena participao em
mercados com altas taxas de crescimento.
O Po integral o produto que se caracteriza como produto ponto de interrogao.
Embora seja comprovadamente um produto mais saudvel, sua venda restrita a
PARTICIPAO DO MERCADO
Grande Pequena
Grande
CRESCIMENTO
DO MERCADO
Pequena
PONTO DE
INTERROGAO
Po Integral
ESTRELAS
Mini Bananinha
Mini Sonho
Mini Orelhinha
VACA LEITEIRA
Po Francs
VIRA LATA
No
Identificado
66
poucos consumidores, o preo mais elevado se comparado ao po francs, e so
vendidos em mdia 40 unidades mensais. O mercado de produtos integrais um
mercado em expanso, os gros utilizados para a produo so naturais, e o
consumidor desse produto preza a sade e o bem estar.
Produto Vaca Leiteira: So produtos que tem alta participao em mercados
estabilizados.
O po francs defini-se como um produtos vaca leiteira, o produto mais importante
na produo prpria da Bom Gosto, so 54.000 (cinqenta e quatro mil) unidades
mensais, com lucro bruto de R$8.100,00 (oito mil e cem reais) mensais. um
produto que no exige grandes esforos para ser vendido, e o item bsico para
uma padaria de bairro. Suas exigncias so: ser um produto atraente aos olhos dos
clientes, sempre fresquinhos e gostosos.
Produto Vira lata: So produtos que tem pequena participao em mercados com
pequenas taxas de crescimento.
Atualmente na Panificadora e Confeitaria Bom Gosto no foi identificado nenhum
produto vira-lata.
5.5.3 Marketing e comercializao
A Panificadora e Confeitaria Bom Gosto possui hoje como meios de
comunicao a fachada com nome e telefone, placa que fica exposta na calada, e
espao no muro para apresentao de promoes.
Outros meios de divulgao da marca podem ser desenvolvidos, tais como:
Anncios semanais de promoes com bicicleta ou carro de som, anncio de super
promoes atravs de faixas (grandes).
67
Os produtos chegam ate os clientes atravs da estrutura onde esta instalada
a panificadora, na Avenida Nilo Bittencourt, n 1005, bairro So Vicente.
5.5.4 Mercado consumidor
O perfil dos principais consumidores da Panificadora e Confeitaria Bom Gosto
constitudo basicamente por moradores das redondezas, famlias residentes na
avenida Nilo Bittencourt e em ruas prximas, conforme pode ser observado na figura
a seguir.
Figura 18. Mercado Consumidor
Fonte: Google Earth
A imagem apresentada acima do ano de 2004, sendo assim esta
desatualizada, pois atualmente existem mais residncias prximas a empresa.
68
5.5.5 Mercado fornecedor
Abaixo so apresentados os fornecedores utilizados pela Panif. Bom Gosto
atualmente.
Fornecedores Utilizados:
Fajofama com. de alimentos e rpresent. ltda.: queijos e Frios
Vigor: frios e laticnios
ASilva distribuidora: produtos secos (prateleira)
Central Alimentos: produo (Confeitaria e panificao)
Pampa distribuidora : produo (Confeitaria)
Benuti Com. e Represent. Ltda: produtos secos (prateleira)
Pepsico do Brasil Ltda: salgadinhos e achocolatados
Tirol: frios e laticnios
Frills Alimentos Ltda.: frios e laticnios
Supermercado Uber: bebidas, produtos prateleira.
Rubens Siemann distribuidor de Cigarros: cigarros Souza Cruz
Josias: doces e salgadinhos
M&R distribuidor de bananas: banana
Maxi: trigo
Amorim Refrigerao: mveis (rea de atendimento)
Sau: maquinrio (produo)
Bewlke Com. de Bebidas Ltda.: refrigerante max, thon, gua da serra, skinka,
schincariol.
Cobegel distribuidor de bebidas: cachaa, vinho, vodka.
Distribuidora Muller Com. e Repres. Ltda.: produtos secos (prateleira)
Representaes Vitorino: broas
Irmos JJ: rosquinhas
plastipel embalagens: embalagens de papel, sacolas plsticas, bobina de
papel, pratos descartveis, bandeja para tostas, sacos picotados, forminhas
de papel.
69
MSW Comunicaes: recarga para celulares Vivo e Brasil Telecom, cartes
telefnicos.
Claro: recarga celulares Claro
Sorvetes Stringari: sorvetes
Dirio do Litoral: jornal Diarinho
Timoneiro Distribuidora de Alimentos: doces adams
Ferramental: correia
Friwandal Ind. e Comercio de Produtos Alimentcios Ltda: lingias e salames
Incregel: armrio para po salgado, folhas para po salgado, folhas para po
doce.
Todos os fornecedores citados acima trabalham com vendas semanais na
sua maioria, com exceo de alguns fornecedores que realizam suas vendas
quinzenalmente.
5.5.6 Mercado concorrente
So aqueles que satisfazem ou podem satisfazer as necessidades dos
clientes que a sua empresa deseja atingir.
Panificadora Cinthia
Tempo do negcio: 9 anos
Distncia da Panf. Bom Gosto: 393 m
Estrutura fsica: estrutura fsica interna pequena, com pouco espao para
circulao dos clientes. Ambiente escuro, e pouco atraente visivelmente. No possui
estacionamento para clientes
Produtos: oferece produtos(produo prpria) de tima qualidade, com mix variado
de produtos. Trabalha com mix reduzido de produtos de convenincia, e geladeira
devido ao seu espao fsico reduzido.
70
Localizao: localizao favorvel, esta instalada em uma regio onde residem
muitas famlias.
Marketing: possui apenas placa luminosa na parte externa da panificadora.
Panificadora Nanda
Tempo do negcio: 3 anos
Distncia da Panf. Bom Gosto: 416 m
Estrutura fsica: estrutura fsica interna pequena, com pouco espao para
circulao dos clientes. Ambiente com aspecto desagradvel e desorganizado.
Possui estacionamento para os clientes, mas e ms condies.
Produtos: oferece produtos (produo prpria) de qualidade regular, com mix
variado de produtos. Trabalha com mix reduzido de produtos de convenincia, e
geladeira devido ao seu espao fsico reduzido.
Localizao: localizao desfavorvel, esta instalada no final de uma avenida, onde
ainda existem muitos lotes desocupados, poucas famlias residindo prximas a
panificadora.
Marketing: possui placar luminoso na parte externa da panificadora. Realiza
semanalmente anncios com bicicleta de som.
Panificadora Doce Po
Tempo do negcio: 10 anos Abertura e fechamento constante.
Distncia da Panf. Bom Gosto: 675 m
Estrutura fsica: estrutura fsica interna ampla, com amplo espao para circulao
dos clientes. Ambiente com muito espao ocioso. Possui estacionamento para os
clientes.
Produtos: oferece produtos (produo prpria) de qualidade regular, com mix
reduzido de produtos. Trabalha com mix extremamente reduzido de produtos de
convenincia, e geladeira.
Localizao: tima localizao em avenida movimentada, mas ponto comercial
defasado.
Marketing: possui apenas nome da panificadora pintado na fachada.
Panificadora Kimassa
71
Tempo do negcio: 2 anos
Distncia da Panf. Bom Gosto: 784 m
Estrutura fsica: estrutura fsica interna ampla, com timo espao para circulao
dos clientes e distribuio de produtos. Ambiente agradvel com lanchonete
completa e uma loja de convenincias diversificada. No possui estacionamento
para clientes.
Produtos: oferece produtos (produo prpria) de tima qualidade, com mix variado
de produtos. Trabalha com amplo mix de produtos de convenincia e geladeira.
Localizao: tima localizao, esta instalada na esquina de duas avenidas
movimentadas, com muitos comrcios e residncias prximas a panificadora
Marketing: placa na fachada, placar luminoso na calada, promoes em cartazes
anexados na parte externa da padaria, realiza anncios com carro de som
semanalmente.
5.5.7 Previso de vendas
O quadro abaixo apresenta as vendas e custos dos produtos que se estima
que sejam realizados mensalmente.
Tabela 01 Previso de vendas.
VENDAS DE PRODUTOS
a) Descrio do Produto
b) Unidade
de Medida
c) Quantidade
d) Custo Unitrio da
Mercadoria
e) Preo
de Venda
1
Po Salgado Und 54.000 0,08 0,15
2
Massinha, sovadinho, sonho pequeno,
orelhinha, broa
Und 18.720 0,10 0,20
3
Massinha g, po pizza, sonho g, po de
queijo, torrada
Und 2.775 0,28 0,50
4
Po puma, po de leite, caseiro, po de
batata, po de aipim e integral.
Und 1.410 1,06 2,00
5
Mini pizza, croissant, folheado, empada,
pasteis, bombom
Und 1.080 0,80 1,50
6
Bomba, queijadinha, bananinha, rosca,
brigadeiros
Und 1.440 0,51 1,00
7
Carolina Und 60 0,15 0,30
72
8
po de minuto, po de hambrguer e cachorro Und 1.950 0,11 0,25
9
Farinha de rosca Und 15 1,00 2,00
10
torta confeitada Kg 8 9,59 16,00
11
Bolo Simples, Bolo de fub Und 106 2,00 4,00
12
Bolo de queijo, limo, maracuj, pudim Und 96 4,00 8,00
13
Bolo de banana, cenoura, milho, rocambole,
banana car.
Und 177 3,00 6,00
14
Nega maluca, bolo de coco Und 132 3,50 7,00
15
Cuca de banana Und 60 1,75 3,50
16
Bolo de toalha felpuda Und 48 2,50 5,00
17
Salgadinhos Und 348 1,65 2,16
18
Cigarro Und 525 3,55 3,81
19
Frios Und 990 1,50 2,40
20
Laticnios Und 1.966 1,60 2,60
Fonte: SEBRAE - adaptados para dados da pesquisa, mai/2009
5.5.8 Aspectos tcnicos e operacionais
necessrio um padeiro no perodo da noite, das 22h30min as 05h30min
para a produo para o dia. No perodo da manh, uma balconista para realizao
do atendimento, e um padeiro e um ajudante de padeiro, para assar os pes
produzidos no perodo da noite, e para a produo de po salgado para o perodo da
tarde. No perodo da tarde faz-se necessrio trs balconistas para o atendimento,
um padeiro para assar o po salgado produzido no perodo da manha, e um
confeiteiro para produo de bolos e doces.
5.5.9 Layout
Layout corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos espaos
existentes na organizao, envolvendo, alem da preocupao de melhor adaptar as
73
pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a natureza da atividade desempenhada,
a arrumao dos mveis, equipamentos e matria prima.
rea de Produo:
Figura 19. rea de produo
Fonte: dados da pesquisa, 2008
74
rea de vendas:
Figura 20. rea de vendas
Fonte: dados da pesquisa, mai/2009
5.5.10 Prazos de venda, compra e estoque
POLTICA DE VENDA
a) Prazo mdio de venda das mercadorias % Dias
Venda a Vista 100,00 -
75
Venda a Prazo 0,00 0
Este quadro apresenta a diviso das vendas vista e
prazo em relao as vendas totais.
Prazo Mdio 0
POLTICA DE COMPRA
b) Prazo mdio de compras % Dias
A Vista 100,00 -
A Prazo 0,00 0
Este quadro apresenta a diviso das compras vista e
prazo em relao as compras totais.
Prazo Mdio 0
POLTICA DE ESTOQUE
Dias
c) Necessidade mdia de estoques 7
Este quadro define qual deve ser o estoque mnimo
necessrio em dias.
Quadro 07. Prazo de vendas, compras e estoque
Fonte: SEBRAE adaptado para dados da pesquisa, mai/2009
5.5.11 Investimento fixo
Tabela 02. Investimento fixo.
INVESTIMENTO FIXO
DISCRIMINAO VALOR $ Depreciao
Construes 0,00 4,0%
Reformas 400,00 4,0%
Pintura, adesivos 400,00
Mquinas e Equipamentos 32.284,00 10,0%
1 balana, 1 batedeira, 1 cilindro, 1 divisora, 1 forno, 1 32.284,00
76
masseira grande, 1 masseira pequena, 1 modeladora, 1
fatiadeira, 1 moinho, 1 balana eletrnica, 1 refrigerador
4 portas, 1 estufa, 1 freezer horizontal, 1 geladeira
duplex, 1 fogo de mesa, 1 liquidificador, 1 batedeira
planetria.
Mveis e Utenslios 21.711,00 10,0%
balco comum, estante , vitrine caixa com guich,
Talheres, bacias, mdulo p/ balana, vitrines secas,
balco frio, gndolas, cestos, mesas inox, armrios de
po, pia granito, utenslios de conf., carrinho, esqueleto,
estrado trigo, formas de bolo, formas de po grande,
folhas de po, carrinho da lenha
21.711,00
Equipamentos de Informtica 0,00 20,0%
Veculos 0,00 20,0%
Taxa de Franquia 0,00
Outros 1.007,00 25,0%
Placa 100,00
Chamin 85,00
Cortinas e tapetes 822,00
TOTAL 55.402,00
Fonte: SEBRAE adaptado para dados da pesquisa, mai/2009
5.5.12 Mo de obra
Tabela 03. Mo de obra.
MO-DE-OBRA
a) Cargo/Funo b) n func. c) Salrio Encargos Total
Padeiro 1 635,64 238,62 874,26
Gerente 1 413,85 155,36 569,21
Confeiteiro 1 640,00 240,26 880,26
Ajudante de padeiro 1 250,00 93,85 343,85
77
Balconista 1 350,00 131,39 481,39
Balconista 1 200,00 75,08 275,08
Balconista 1 422,00 158,42 580,42
TOTAL 7 4.004,46
Fonte: SEBRAE adaptado para dados da pesquisa, mai/2008
5.5.13 Custos Fixos Operacionais
Tabela 04. Custos fixos operacionais.
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS
Discriminao Valor $
Mo-de-obra+ Encargos 4.004,46
Retirada dos Scios (Pr-labore) 4.500,00
gua 50,00
Luz 400,00
Telefone 100,00
Contador 150,00
Despesas com Veculos 0,00
Material de Expediente e Consumo 820,00
Aluguel 0,00
Seguros 0,00
Propaganda e Publicidade 0,00
Depreciao 472,27
Manuteno 50,00
Condomnio 0,00
Despesas de Viagem 0,00
Servios de Terceiros 0,00
nibus, Txis e Selos 0,00
Outros 347,00
Gs 47,00
Lenha 300,00
TOTAL 10.893,73
Fonte: SEBRAE adaptado para dados da pesquisa, mai/2009
78
5.5.14 Custos variveis
CUSTOS VARIVEIS
Tributos e Comisses % R$
PIS 0,65% 0,00
COFINS 3,00% 0,00
Contribuio Social 1,08% 0,00
Comisso de
Vendas 0,00% 0,00
ISS 0,00
Alquota Mdia do
I.P.I. 0,00% 0,00
SIMPLES Federal 3,00% 1.009,28
Regime Fiscal MPE's
Estadual 2,00% 172,85
Outros 0,00
Desconto Carto de
Crdito 0,00% 0,00
Desconto Vale-
refeio 0,00
Total 1.182,13
Este quadro apresenta os custos que tem relao direta com as vendas, ou seja, s ocorrem
quando efetiva-se a venda.
ICMS
A. DEBITO ICMS
Destino
Produto/UF % Vendas Alquota
Valor do
Dbito
Paran 0,00 18,00 0,00
Sul / Sudeste 0,00 12,00 0,00
Norte / Nordeste /
MT / MS 0,00 7,00 0,00
TOTAL 0,00
B. CREDITO ICMS
Estado de Origem % Compras Alquota
Valor do
Crdito
Paran 0,00 18,00 0,00
Sul / Sudeste 0,00 12,00 0,00
Norte / Nordeste / 0,00 7,00 0,00
79
MT / MS
TOTAL 0,00
Este quadro calcula qual o custo real do ICMS que a Empresa incorreu no ms ou seja, a
diferena entre o dbito e o crdito.
IMPOSTO DE RENDA
Lucro Real = 1 ou Lucro Presumido = 0 ==>
Se optou p/ Lucro Presumido informe o
percentual (%) Alquota Valor do Imposto
Indstria / Comrcio 1,20 0,00
Servio 4,80 0,00
Quadro 08. Custos variveis
Fonte: SEBRAE adaptado para dados da pesquisa, mai/2009
5.5.15 Sazonalidade
SAZONALIDADE DAS VENDAS
Definio
a variao, para cima ou para baixo, das vendas de sua empresa.
Ms ndices Acumulado
jan-00 0%
fev-00 0%
mar-00 3% 3%
abr-00 3%
mai-00 3%
jun-00 5% 8%
jul-00 8%
ago-00 8%
set-00 2% 10%
out-00 10%
nov-00 5% 15%
dez-00 10% 25%
Quadro 09. Sazonalidade das vendas
Fonte: SEBRAE adaptados para dados da pesquisa, mai/2009
80
5.5.16 Oramento de receitas e despesas
Tabela 05. Oramento de receitas e despesas.
Oramento de Receitas e Despesas
DISCRIMINAO VALOR $ %
1. Receita Total 33.642,53 100,00
Venda a Vista 33.642,53 100,00
Venda a Prazo 0,00 0,00
2. Custos Variveis Totais 20.441,90 60,76
Custo dos Produtos 19.259,77 57,25
SIMPLES Federal 1.009,28 3,00
SIMPLES Estadual 172,85 0,51
ICMS 0,00 0,00
PIS 0,00 0,00
COFINS 0,00 0,00
Contribuio Social 0,00 0,00
Comisso de Vendas 0,00 0,00
ISS 0,00 0,00
Imposto de Renda Presumido 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00
Outros 0,00 0,00
Desconto Carto de Crdito 0,00 0,00
Desconto Vale-refeio 0,00 0,00
3. Margem de Contribuio 13.200,63 39,24
4. Custos Fixos Totais 10.893,73 32,38
Mo-de-Obra+ Encargos 4.004,46 11,90
Retirada dos Scios (Pr-labore) 4.500,00 13,38
gua 50,00 0,15
Luz 400,00 1,19
Telefone 100,00 0,30
Contador 150,00 0,45
Despesas com Veculos 0,00 0,00
Material de Expediente e Consumo 820,00 2,44
Aluguel 0,00 0,00
Seguros 0,00 0,00
81
Propaganda e Publicidade 0,00 0,00
Depreciao 472,27 1,40
Manuteno 50,00 0,15
Condomnio 0,00 0,00
Despesas de Viagem 0,00 0,00
Servios de Terceiros 0,00 0,00
nibus, Txis e Selos 0,00 0,00
Outros 347,00 1,03
5. Resultado Operacional 2.306,90 6,86
Contribuio Social Aps o Lucro 0,00 0,00
6. Resultado Aps Contribuio Social 2.306,90 6,86
Imposto de Renda Pessoa Jurdica 0,00 0,00
7. Resultado 2.306,90 6,86
Fonte: SEBRAE adaptados para dados da pesquisa, mai/2009
82
5.5.17 Previso anual das vendas
Tabela 06. Previso anual das vendas.
Fonte: SEBRAE adaptado para dados da pesquisa, mai/2009
PREVISO ANUAL
jan-00 fev-00 mar-00 abr-00 mai-00 jun-00 jul-00 ago-00 set-00 out-00 nov-00 dez-00
Total Sazonalidade 0% 0% 3% 3% 3% 8% 8% 8% 10% 10% 15% 25%
1. Receita Total 33.642,53 33.642,53 34.651,81 34.651,81 34.651,81 36.333,93 36.333,93 36.333,93 37.006,78 37.006,78 38.688,91 42.053,16 434.997,91
2. Custos Variveis Totais 20.441,90 20.778,32 21.055,15 21.055,15 21.055,15 22.077,25 22.077,25 22.077,25 22.486,09 22.486,09 23.508,18 25.552,37 264.650,15
3. Margem de Contribuio 13.200,63 12.864,21 13.596,65 13.596,65 13.596,65 14.256,68 14.256,68 14.256,68 14.520,70 14.520,70 15.180,73 16.500,79 170.347,77
4. Custos Fixos Totais 10.893,73 10.893,73 10.893,73 10.893,73 10.893,73 10.893,73 10.893,73 10.893,73 10.893,73 10.893,73 10.893,73 10.893,73 130.724,81
5. Resultado Operacional 2.306,90 1.970,47 2.702,92 2.702,92 2.702,92 3.362,95 3.362,95 3.362,95 3.626,96 3.626,96 4.286,99 5.607,06 39.622,96
Contribuio Social Aps o
Lucro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Resultado Aps
Contribuio Social 2.306,90 1.970,47 2.702,92 2.702,92 2.702,92 3.362,95 3.362,95 3.362,95 3.626,96 3.626,96 4.286,99 5.607,06 39.622,96
Imposto de Renda Pessoa
Jurdica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Resultado 2.306,90 1.970,47 2.702,92 2.702,92 2.702,92 3.362,95 3.362,95 3.362,95 3.626,96 3.626,96 4.286,99 5.607,06 39.622,96
Outras Informaes
Faturamento Acumulado 33.642,53 67.285,06 101.936,87 136.588,67 171.240,48 207.574,41 243.908,34 280.242,27 317.249,06 354.255,84 392.944,75 434.997,91
Alquota - Simples Federal 3,00% 4,00% 5,00% 5,40% 5,40% 5,40% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 6,20% 6,20%
Valor - Simples Federal
1.009,28
1.345,70
1.732,59
1.871,20
1.871,20
1.962,03
2.107,37
2.107,37
2.146,39
2.146,39
2.398,71
2.607,30
Alquota - Simples Estadual 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Valor - Simples Estadual
172,85
172,85
193,04
193,04
193,04
226,68
226,68
226,68
240,14
240,14
273,78
341,06
83
5.5.18 Avaliao econmico financeira
Tabela 07. Avaliao econmico financeira.
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO
1-Aplicaes de Recursos 5.615,36
Disponibilidade para 01 dia 1.121,42
Contas a Receber 0,00
Estoques 4.493,95
2. Fontes de Recursos 9.686,59
Fornecedores 0,00
Tributos/Salrios 9.686,59
Emprstimos
3. Necessidade de Capital de Giro -4.071,23
AVALIAO ECONMICO/FINANCEIRA
Investimento Inicial 55.402,00
Rentabilidade 4,16%
Lucratividade 6,86%
Retorno do Investimento 24 meses
Capacidade de Pagamento 2.779,17
Fonte: SEBRAE adaptado para dados da pesquisa, mai/2009
5.5.19 Ponto de equilbrio
Tabela 08. Ponto de equilbrio.
Ponto de Equilbrio
O ponto de equilbrio demonstra a venda mnima que sua empresa deve
alcanar.
Neste projeto, o valor do ponto de equilbrio de R$ R$ 27.763,27
e corresponde a 82,52% das vendas previstas.
Venda diria necessria: R$ 1.110,53
Venda semanal necessria: R$ 6.940,82
QUANTIDADE MNIMA A SER VENDIDA PREO MNIMO
84
Tipo de Produto Venda Mnima
Preo Venda
Prevista
Preo
Previsto Mnimo
Po Salgado
44.563 und 0,15 54.000 und 0,12
Massinha, sovadinho, sonho
pequeno, orelhinha, broa
15.449 und 0,20 18.720 und 0,17
Massinha g, po pizza,
sonho g, po de queijo,
torrada
2.290 und 0,50 2.775 und 0,41
Po puma, po de leite,
caseiro, po de batata e
aipim
1.164 und 2,00 1.410 und 1,65
Mini pizza, croissant,
folheado, empada, pasteis,
bombom
891 und 1,50 1.080 und 1,24
Bomba, queijadinha,
bananinha, rosca,
brigadeiros
1.188 und 1,00 1.440 und 0,83
Carolina
50 und 0,30 60 und 0,25
po de minuto, po de
hambrguer e cachorro
1.609 und 0,25 1.950 und 0,21
Farinha de rosca
12 und 2,00 15 und 1,65
torta confeitada
7 kg 16,00 8 kg 13,20
Bolo Simples, Bolo de fub
87 und 4,00 106 und 3,30
Bolo de queijo, limo,
maracuj, pudim
79 und 8,00 96 und 6,60
Bolo de banana, cenoura,
milho, rocambole, banana
car.
146 und 6,00 177 und 4,95
Nega maluca, bolo de coco
109 und 7,00 132 und 5,78
Cuca de banana
50 und 3,50 60 und 2,89
Bolo de toalha felpuda
40 und 5,00 48 und 4,13
Salgadinhos
287 und 2,16 348 und 1,78
Cigarro
433 und 3,81 525 und 3,14
Frios
817 und 2,40 990 und 1,98
Laticnios
1.622 und 2,60 1.966 und 2,15
Fonte: SEBRAE adaptado para dados da pesquisa, mai/2009
85
5.5.20 Anlise de sensibilidade
Tabela 09. Anlise de sensibilidade.
Anlise de Sensibilidade
INDICADORES ALTERAES NOVOS INDICADORES
ATUAIS PROPOSTAS Alterando Fatura- Alterando o
mento e Custos Lucro Lquido
Valores % Valores % Valores % Valores %
Faturamento 33.642,53 100,00 36.250,00 7,75 36.250,00 100,00 42.080,35 100,00
Custo (CMV ou CMA) 19.259,77 57,25 20.752,50 57,25 24.090,28 57,25
Outros Custos Variveis 1.182,13 3,51 1.273,75 3,51 1.478,61 3,51
Lucro Bruto 13.200,63 39,24 14.223,75 39,24 16.511,46 39,24
Custos Fixos 10.893,73 32,38 10.893,73 30,05 10.893,73 25,89
Lucro Lquido 2.306,90 6,86 13,35 3.330,02 9,19 5.617,73 13,35
Ponto de Equilbrio 27.763,27 82,52 27.763,27 76,59 27.763,27 65,98
Rentabilidade 4,16 % a.m. 6,01% % a.m. 10,94 % a.m.
Retorno do Investimento 24 meses 17 meses 9,14 meses
Fonte: SEBRAE adaptado para dados da pesquisa, mai/2009
5.5.21 Parecer
A avaliao econmico-financeira analisa o risco, ou seja, o grau de incerteza,
a possibilidade de prejuzo, e a variabilidade de retorno sobre o investimento,
ganhos ou prejuzos decorrentes do investimento num determinado perodo. O
objetivo desta anlise fornecer informaes aos empreendedores e
administradores para determinar se o investimento satisfaz o padro de ganho
estabelecido no negcio, ou seja, se atrativo e/ou se vivel.
86
O calculo da rentabilidade mostra o quanto a empresa rende mensalmente,
quantos reais em mdia so gerados por real mdio investido, e a lucratividade
representa o lucro liquido mensal do investimento.
A avaliao econmico-financeira da Panificadora Bom Gosto demonstra
viabilidade do investimento realizado, com rentabilidade de 4,16% ao ms, e
lucratividade de 6,86% ao ms, e o retorno do investimento de R$55.402,00 em 24
meses.
A anlise de sensibilidade, ou de cenrios mostra que se elevando as vendas
em 7,75% ao ms, otimiza a rentabilidade de 4,16%a.m. para 6.01 a.m. e antecipa-
se o prazo de retorno do investimento para 17 meses.
As fontes de recursos so superiores as aplicaes, ou seja, tributos e
salrios financiam a necessidade de capital de giro da empresa, e geram um capital
de giro prprio de R$4.071,23. Outra contribuio positiva como so realizadas as
vendas, e estas a vista.
O calculo do ponto de equilbrio demonstra que a empresa precisa vender R$
27.763,2 ao ms, o que representa aproximadamente 83% das vendas previstas. No
levantamento realizado na empresa durante os meses de elaborao da pesquisa,
foi constatado que desde janeiro de 2009 a empresa tem faturado acima do ponto de
equilbrio.
Diante dos dados analisados, o plano de negcios proposto para a empresa
mostra-se vivel, com prazo de retorno e taxa de rentabilidade do investimento muito
atrativa, superior a remunerao oferecida pelo sistema financeiro atual.
87
6 CONCLUSO
A realizao deste trabalho foi embasado nas dificuldades das micro e
pequenas empresas se manterem no mercado. Parte das empresas de pequeno
porte fecha suas portas nos primeiros anos de existncia. J as que sobrevivem a
este perodo, no se preocupam com as mudanas decorrentes do ambiente ao qual
esto inseridas.
Buscou-se, atravs deste trabalho de pesquisa que serve como base para o
estagio supervisionado, a realizao dos objetivos especficos: a anlise do
ambiente, identificao dos fatores crticos de sucesso, identificao dos
concorrentes diretos, anlise do ponto de equilbrio e a realizao do Plano de
negcios para a Panificadora e Confeitaria Bom Gosto.
O plano de negcios pode-se dizer que um instrumento de planejamento, no
qual as principais variveis envolvidas em um empreendimento so apresentadas de
forma organizada, atravs de planos para a criao e expanso de um novo
negcio. Neste caso o Plano de Negcios no foi utilizado para a criao de um
novo negcio, mais sim como ferramenta para a consolidao e um crescimento
planejado da empresa.
Para manter-se ativas no mercado as micro e pequenas empresas precisam
estruturar-se formalmente, desenvolvendo a habilidade de analisar o ambiente onde
est inserida, pois atravs da anlise sero identificadas as oportunidades e
ameaas, bem como os pontos fortes e fracos. Assim as empresas tornam-se cada
vez mais flexveis e competitivas, capazes de acompanhar as mudanas e o ritmo
do mercado, se adequando a realidade de seu setor.
Utilizando estas informaes como base para a formulao deste trabalho de
pesquisa, percebeu-se tambm que necessrio que as empresas utilizem planos
de negcios antes de sua abertura para reduzirem os riscos e os ndices de
fechamento das mesmas.
Portanto, props-se atravs deste trabalho, um estudo que apresentasse um
plano de negcios prtico e simples a Panificadora e Confeitaria Bom Gosto.
88
A proposta de plano de negcios para a empresa em estudo foi formulada, e
tambm recomenda-se que a mesma desenvolva um planejamento estratgico para
assim viabilizar seu crescimento e definir planos tticos de ao para realizar os
objetivos e metas. Assim obtendo uma maior fatia do mercado.
Portanto, conclui-se o desenvolvimento do plano de negcio para a empresa
em estudo, a Panificadora e Confeitaria Bom Gosto, enfatizando a necessidade do
acompanhamento contnuo dos pontos fortes e fracos, a anlise das ameaas e
oportunidades e o controle do ponto de equilbrio financeiro, razo entre o
faturamento, custos fixos e custos variveis, para o crescimento sustentvel da
empresa e sua longevidade. E por fim, recomendando as empresas que iniciam
seus negcios, a elaborao do plano de negcios como instrumento gerencial
indispensvel tomada de deciso, que as levar ao crescimento estruturado e a
perenidade do negcio.
89
REFERNCIAS
ANDRADE, M. M. Introduo a Metodologia do Trabalho Cientfico. 5 ed. So
Paulo: Atlas, 2001.
BARROS, A. J. P.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Um guia
para a iniciao cientifica. So Paulo: Makron books, 1986.
CHIAVENATO, I. Introduo Teoria Geral da Administrao. 3.ed. So Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 1983.
_________________Introduo a Teoria Geral da Administrao. 6.ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2000.
_________________Administrao de Empresas uma abordagem contingencial.
3.ed. So Paulo: Makron Books, 1994.
_________________ Administrao: teoria, processo e prtica. 2. ed. So Paulo:
Makron Books, 1994.
_________________Empreendedorismo dando asas ao esprito empreendedor.
2.ed. So Paulo: Saraiva, 2007.
________________Administrao nos Novos Tempos. 2.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004.
COSTA, E. A. Gesto Estratgica. So Paulo: Editora Saraiva, 2005.
DAFT, R. Administrao. So Paulo: Thomson: 2005
DEGEN, R. O Empreendedor fundamento da iniciativa empresarial. So Paulo:
Mac Graw Hill, 1989.
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo transformando idias em negcios.
12.ed. Rio de Janeiro: Eselvier, 2001.
____________________Empreendedorismo transformando idias em negcios.
3.ed. Rio de Janeiro: Eselvier, 2008.
90
DOLABELA, F. O Segredo de Lusa uma idia, uma paixo e um plano de
negcios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. So Paulo: Editora
de Cultura, 2006.
DRUCKER, P. F. As Fronteiras da Administrao onde as decises do amanh
esto sendo determinadas hoje. Pioneira, 1989.
FERNANDES, B. H. R.; BERTON, L. H. Administrao Estratgica da
competncia empreendedora avaliao de desempenho. So Paulo: Editora
Saraiva, 2005.
FISCHMANN, A. A.; ALMEIDA, M. I. Planejamento Estratgico na Prtica. 2 ed.
So Paulo: Atlas, 1991.
GITMAN, Lawrence J. Princpios de administrao financeira. 7 ed So Paulo:
Habra, 2002.
GOOGLE. Google Earth. Disponvel em http://earth.google.com.br/. Acesso em 10
mai. 2008.
HAMPTON, D. R. Administrao Contempornea. 3.ed. Makron Books, 1992.
HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Empreendedorismo. 5 ed. Porto Alegre: Bookman,
2004.
HUNGER, J. D.; WHEELEN, T. L. Gesto Estratgica princpios e prtica. 2 ed.
Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2002.
LONGENECKER, J. G. Introduo Administrao uma abordagem
comportamental. Atlas, 1981.
LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, W. Administrao de pequenas
empresas nfase na gerncia empresarial. So Paulo: Makron Books, 1997.
MATAR; F. N. Pesquisa de Marketing. 6 ed. So Paulo: Atlas, 2005.
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Tcnicas de Pesquisa. 6 ed. So Paulo: Atlas,
2006.
MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing uma orientao aplicada. 4 ed. Porto
Alegre: Bookman, 2006.
91
______________Pesquisa de Marketing uma orientao aplicada. 3 ed. Porto
Alegre: Bookman, 2001.
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administrao da revoluo urbana a
revoluo digital. 5.ed. So Paulo: Atlas, 2005.
_____________________ Introduo a Administrao. So Paulo: Atlas, 1981.
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratgico conceitos, metodologia, prticas.
23 ed. So Paulo: Atlas, 2007.
OLIVEIRA, S. L. Tratado de Metodologia Cientifica - projetos de pesquisas, TGI,
TCC, monografias, dissertaes e teses. 2.ed. So Paulo: Pioneira Thomson
Learnig, 1999.
PLANO DE NEGCIOS. Disponvel em http://www.planodenegocios.com.br/.
Acesso em 14 mai. 2009.
STONER, J. A. F.;FREEMAN, R. E. Administrao. 5.ed. JC Editora, 1999.
SALIM, C. S. et al. Construindo Planos de Negcios todos os passos
necessrios para planejar e desenvolver negcios com sucesso. 3 ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005.
SANVICENTE, Antonio Z. Administrao Financeira. So Paulo: Altas, 1987.
VIEIRA, Marcelo Milano Falco; ZOUAIN, Deborah Moraes (Organizador). Pesquisa
Qualitativa em administrao. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
YIN, K. R. Estudo de Caso Planejamento e Mtodos. 2 ed. Porto Alegre:
Bookman, 2001.
92
APNDICE
93
APNDICE A - QUESTIONRIO
Questionrio
Data da entrevista:__/__/__
Nome do entrevistado: _________________________________________________
1. Sexo:
( ) Feminino ( ) Masculino
2. Idade:
( ) At 25 anos
( ) De 25 a 30 anos
( ) De 30 a 40 anos
( ) De 40 a 50 anos
( ) De 50 a 60 anos
( ) Acima de 60 anos
3. Estado Civil:
( ) Casado(a) ( ) Solteiro(a)
4. Escolaridade:
( ) At 1grau
( ) Segundo grau incompleto
( ) Segundo grau completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior incompleto
( ) Ps graduado
5. Sua ocupao profissional esta ligada ao:
( ) Comrcio ( ) Indstria
( ) Agropecuria ( ) Servio Pblico
( ) Empresariado ( ) Autnomo/Profissional liberal
( ) Prestao de servios ( ) Lar/Dona de casa
94
( )Aposentado/pensionista ( ) Outros__________________________________
6. Quantas pessoas moram com o senhor(a)?
( ) Entre 1 e 3
( ) Entre 3 e 6
( ) Entre 6 e 9
( ) Acima de 9.
7. Bairro onde mora?
______________________________________________________________________
8. Rua onde mora?
______________________________________________________________________
9. Porque optou por comprar na Panificadora e Confeitaria Bom Gosto?
( ) Prximo a sua residncia
( ) Preo
( ) Atendimento
( ) Qualidade dos produtos
10. A variedade de produtos oferecidos pela Panificadora e Confeitaria Bom Gosto
est de acordo com as suas necessidades?
( ) Sim ( ) No. Porque?_____________________________
11. Quais produtos oferecidos pela panificadora o senhor(a) mais consome?
______________________________________________________________________
12. O senhor(a) consome apenas pes, ou tambm procura produtos de geladeira e
mercearia?
_____________________________________________________________________
13. Qual produto gostaria de encontrar na Panificadora e Confeitaria Bom Gosto?
______________________________________________________________________
14. Quantas vezes por dia o senhor(a) costuma comprar na panificadora e confeitaria
Bom Gosto?
95
( ) Entre 1 e 2 vezes
( ) Entre 2 e 3 vezes
( ) Entre 3 e 4 vezes
( ) Acima de 4 vezes.
15. O senhor(a) esta satisfeito com a qualidade dos produtos oferecidos?
( ) Muito satisfeito(a)
( ) Satisfeito(a)
( )Insatisfeito(a). Porque?___________________________________________________
16. Qual sua opinio sobre o po salgado produzido pela panificadora e confeitaria
Bom Gosto?
( ) Excelente
( ) Muito Bom
( ) Bom
( ) Regular
( ) Ruim
17. Quais fatores motivariam o senhor(a) a comprar em outra panificadora?
( ) Qualidade superior dos produtos oferecidos
( ) Preos reduzidos
( ) Bom atendimento
( ) Distncia de sua residncia
( ) Algum produto em especifico
( ) Algum acontecimento desagradvel
18 - Gostaria de apresentar algumas sugestes de melhoria?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19 O senhor(a) aceita participar de uma entrevista?
( ) Sim No( )
Você também pode gostar
- Projeto Integrador - Versão FinalDocumento33 páginasProjeto Integrador - Versão FinalDepaula Jardim Terras Do SulAinda não há avaliações
- PAP - FINAL FranciscaDocumento23 páginasPAP - FINAL Franciscalucia0% (2)
- Como Montar Uma ConfeitariaDocumento33 páginasComo Montar Uma ConfeitariaRaquel RochaAinda não há avaliações
- Plano Negócio Empresa Locação de BrinquedosDocumento102 páginasPlano Negócio Empresa Locação de BrinquedosMarceloAinda não há avaliações
- A Escuta Espiritual e o DivãDocumento20 páginasA Escuta Espiritual e o DivãPalavra & Prece Editora100% (1)
- Livro - Fundamentos e Metodologia Do Ensino de ArtesDocumento106 páginasLivro - Fundamentos e Metodologia Do Ensino de ArtesDejaldir Cerqueira100% (2)
- Caroline DamianDocumento162 páginasCaroline DamianIsrael Miranda TeixeiraAinda não há avaliações
- Sweet Cake - Final CarolDocumento37 páginasSweet Cake - Final CarolGabriela BahiaAinda não há avaliações
- Ppi - Planejamento FinanceiroDocumento28 páginasPpi - Planejamento FinanceiroGabriela F GiovanoniAinda não há avaliações
- Plano de Marketing RsDocumento60 páginasPlano de Marketing RsDaniel CeliaAinda não há avaliações
- 1696620440469seeb by Actio Ebook S20Documento30 páginas1696620440469seeb by Actio Ebook S20Eduardo PesaAinda não há avaliações
- Apostila Imersão 8PsDocumento20 páginasApostila Imersão 8PstalkiemktAinda não há avaliações
- Plano de Negocio-Ex3Documento110 páginasPlano de Negocio-Ex3Myllandyson FreitasAinda não há avaliações
- TCCDocumento36 páginasTCCHerbson Carvalho100% (2)
- TCC - Revisado 28-05Documento38 páginasTCC - Revisado 28-05Eudes Angelis100% (1)
- Relatório Final de Estágio Supervisionado I Do Curso de AdmDocumento30 páginasRelatório Final de Estágio Supervisionado I Do Curso de AdmLillyanAinda não há avaliações
- Como Montar Um BuffetDocumento38 páginasComo Montar Um BuffetLucíola Vasconcelos de SouzaAinda não há avaliações
- TCC Finalizado Com As Correcões - Central Festas - FormatarDocumento91 páginasTCC Finalizado Com As Correcões - Central Festas - FormatarxpresscopiadoraAinda não há avaliações
- Empresa BijuDocumento34 páginasEmpresa BijudispmsnAinda não há avaliações
- TCC Plano de NegóciosDocumento25 páginasTCC Plano de NegóciosWilliam ChucreAinda não há avaliações
- Como Montar Uma Fábrica de LaticíniosDocumento35 páginasComo Montar Uma Fábrica de LaticíniosLucas NetoAinda não há avaliações
- TFR 02102018Documento45 páginasTFR 02102018michellipenellopeAinda não há avaliações
- Como Montar Uma Fábrica de Absorventes e Fraldas DescartáveisDocumento29 páginasComo Montar Uma Fábrica de Absorventes e Fraldas DescartáveisLidiane Pedroso GonçalvesAinda não há avaliações
- Erica Eugenio RonchiDocumento120 páginasErica Eugenio RonchiSophia GarciaAinda não há avaliações
- Trabalho Pim III Unip SPDocumento22 páginasTrabalho Pim III Unip SPaw43850% (2)
- PNDocumento90 páginasPNGustavo FreitasAinda não há avaliações
- Como Montar Uma Empresa de Torrefação e Moagem de CaféDocumento31 páginasComo Montar Uma Empresa de Torrefação e Moagem de CaféUlisses Caetano100% (1)
- Comomontaruma Clínicade PsicologiaDocumento32 páginasComomontaruma Clínicade PsicologiaSérgio LuizAinda não há avaliações
- UNIP PIM V OriginalDocumento39 páginasUNIP PIM V OriginalkandamagaligmailcomAinda não há avaliações
- Como Montar Um BarDocumento41 páginasComo Montar Um BarMarcosAinda não há avaliações
- 07 - Introdução A GestãoDocumento48 páginas07 - Introdução A GestãoGustavo HalmenschlagerAinda não há avaliações
- Caso Companhia de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - LaborlifeDocumento16 páginasCaso Companhia de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - LaborlifeFrancis NeneveAinda não há avaliações
- Modelo de Plano de NegociosDocumento100 páginasModelo de Plano de Negociosarianap5100% (1)
- Escola Tecnica Imperador Relatorio Finalizado IldenesDocumento54 páginasEscola Tecnica Imperador Relatorio Finalizado IldenesAnderson Maicon De SouzaAinda não há avaliações
- Artigo Gleicy Empreendedorismo Eudes PDFDocumento20 páginasArtigo Gleicy Empreendedorismo Eudes PDFEudes JorgeAinda não há avaliações
- Plano de Negócios - EXEMPLODocumento84 páginasPlano de Negócios - EXEMPLODaniele NunesAinda não há avaliações
- Especialização - Eliane Santos Da Silva MeloDocumento58 páginasEspecialização - Eliane Santos Da Silva Meloalex pereira de araujoAinda não há avaliações
- Escola Técnica Imperador - Relatório Finalizado IldenesDocumento54 páginasEscola Técnica Imperador - Relatório Finalizado IldenesLívia Leal100% (2)
- PLANO DE NEGÓCIO BiaDocumento45 páginasPLANO DE NEGÓCIO BiaPablo VianaAinda não há avaliações
- Master Marisa Ferreira SantosDocumento105 páginasMaster Marisa Ferreira SantosOwzmany ChiteiaAinda não há avaliações
- Plano de Negócio - Trabalho Academico - RafaelDocumento35 páginasPlano de Negócio - Trabalho Academico - RafaelFernanda Muniz Campos'Ainda não há avaliações
- Relatorio Final de Estagio IIDocumento41 páginasRelatorio Final de Estagio IILucas RodriguesAinda não há avaliações
- Empreendedorismo - Os Erros Mais ComunsDocumento12 páginasEmpreendedorismo - Os Erros Mais ComunsvdemeloAinda não há avaliações
- Simulador Profissional Paragon: Isnard Thomas MartinsDocumento23 páginasSimulador Profissional Paragon: Isnard Thomas MartinsFernanda RochaAinda não há avaliações
- Plano ConfeitariaDocumento106 páginasPlano ConfeitariaMauricio Sant AnnaAinda não há avaliações
- TCC Igor Da Rosa AlmeidaDocumento131 páginasTCC Igor Da Rosa AlmeidaFernando PereiraAinda não há avaliações
- EBOOK Plano de Negócios Edição Outubro PDFDocumento27 páginasEBOOK Plano de Negócios Edição Outubro PDFFernando Ribeiro JúniorAinda não há avaliações
- O Ponto de Equilibrio em Uma Empresa de UsinagemDocumento56 páginasO Ponto de Equilibrio em Uma Empresa de UsinagemDiego NavarroAinda não há avaliações
- Desenvolvimento de CarrreirasDocumento4 páginasDesenvolvimento de CarrreirasMarcel SampaioAinda não há avaliações
- Fabrica de TemperosDocumento34 páginasFabrica de TemperospedrinifamiliaAinda não há avaliações
- Faculdade de Tecnologia - Principios de MarketingDocumento33 páginasFaculdade de Tecnologia - Principios de MarketingYohanna CarvalhoAinda não há avaliações
- Como Montar Um Salão de BelezaDocumento38 páginasComo Montar Um Salão de BelezaLucíola Vasconcelos de SouzaAinda não há avaliações
- Plano de Negócios - Jardel Policarpo LinoDocumento49 páginasPlano de Negócios - Jardel Policarpo LinoRandochat 2Ainda não há avaliações
- Plano de Marketing para A Empresa Martelinho de OuroDocumento92 páginasPlano de Marketing para A Empresa Martelinho de OuroCarlos Henrique Mota GonçalvesAinda não há avaliações
- Aumente Os Resultados de Sua Empresa Com A Gest o Dos Processos de Neg Cio 1Documento27 páginasAumente Os Resultados de Sua Empresa Com A Gest o Dos Processos de Neg Cio 1Marcelo AikawaAinda não há avaliações
- Conceitos E Elaboração De Um Plano De NegóciosNo EverandConceitos E Elaboração De Um Plano De NegóciosAinda não há avaliações
- Psicotécnico DEPEN SinteseDocumento10 páginasPsicotécnico DEPEN Sintesediogo rafael santos soaresAinda não há avaliações
- O Barao - Branquinho Da FonsecaDocumento32 páginasO Barao - Branquinho Da FonsecaMarina UedaAinda não há avaliações
- PPP Ead Letras Licenciatura Língua PortuguesaDocumento464 páginasPPP Ead Letras Licenciatura Língua PortuguesaJoão Gratuliano100% (1)
- AI - Sartre e EspinosaDocumento4 páginasAI - Sartre e EspinosaegsavioAinda não há avaliações
- CastigoDocumento11 páginasCastigoJany BuenoAinda não há avaliações
- Cientistas Descobrem Como Os Egípcios Moveram Pedras Gigantes para Formar As Pirâmides - Universo RacionalistaDocumento4 páginasCientistas Descobrem Como Os Egípcios Moveram Pedras Gigantes para Formar As Pirâmides - Universo RacionalistaSilvioJoseFrancisco100% (1)
- EVC - Introdução.1Documento6 páginasEVC - Introdução.1Ana BeatrizAinda não há avaliações
- Filosofia 11 Atividade Avaliativa Semana 07 110621Documento2 páginasFilosofia 11 Atividade Avaliativa Semana 07 110621NiricoAinda não há avaliações
- CE-792 - 1sem 2018 ProgramaDocumento2 páginasCE-792 - 1sem 2018 ProgramaLucas CamargoAinda não há avaliações
- Texto - Exagerado - CazuzaDocumento2 páginasTexto - Exagerado - CazuzaLuciana ZimaAinda não há avaliações
- Jornal DoLitoral Paranaense - Edição 23 - Online - Abril 2005Documento12 páginasJornal DoLitoral Paranaense - Edição 23 - Online - Abril 2005Jornal DoLitoralAinda não há avaliações
- A Busca Da Serenidade PDFDocumento27 páginasA Busca Da Serenidade PDFFran AlmeidaAinda não há avaliações
- Semiologia OcularDocumento90 páginasSemiologia OcularArabellaMeloAinda não há avaliações
- Menino de EngenhoDocumento21 páginasMenino de EngenhoJulia Carolina Rossi100% (2)
- Ópera Francesa e Os Seus CompositoresDocumento11 páginasÓpera Francesa e Os Seus CompositoresRafael GomesAinda não há avaliações
- Javier Vernal - As Explicações Da Psicologia EvolutivaDocumento11 páginasJavier Vernal - As Explicações Da Psicologia EvolutivaInvestigação FilosóficaAinda não há avaliações
- COMO FAZER UMA REDAÇÃO EM POUCO TEMPO - ExtraDocumento13 páginasCOMO FAZER UMA REDAÇÃO EM POUCO TEMPO - ExtraIcy GreekAinda não há avaliações
- Questões de Física (Trabalho e Energia)Documento7 páginasQuestões de Física (Trabalho e Energia)Alexandra Mercês100% (1)
- 01 - Concentração Tensão Exs PDFDocumento3 páginas01 - Concentração Tensão Exs PDFMyguel ZorrerAinda não há avaliações
- Lei Da Economia Solidaria No BrasilDocumento14 páginasLei Da Economia Solidaria No BrasilGerson ConusAinda não há avaliações
- David Loiola RegoDocumento10 páginasDavid Loiola RegoDiego FernandesAinda não há avaliações
- Revisao PalavrasInvariaveis 2oano AlunoDocumento4 páginasRevisao PalavrasInvariaveis 2oano AlunoFabiana Bigaton ToninAinda não há avaliações
- Pe Geraldo Pires de Sousa - Perante A MoçaDocumento155 páginasPe Geraldo Pires de Sousa - Perante A MoçaWilliton AssunçãoAinda não há avaliações
- Ot030-17 - CRF-SP - Agente AdministrativoDocumento385 páginasOt030-17 - CRF-SP - Agente AdministrativoMarcos César da Silva100% (1)
- Esquema L de LacanDocumento14 páginasEsquema L de LacanManoel Friques0% (1)
- Código de HamurabiDocumento17 páginasCódigo de HamurabiFelipe Ferraz100% (4)
- Aula 03 Portugues Icms Go Funcao Sintatica PDFDocumento77 páginasAula 03 Portugues Icms Go Funcao Sintatica PDFMarques Furtado100% (1)
- Império Salvatore 03 - Proibida para o Mafioso - Brenda RipardoDocumento379 páginasImpério Salvatore 03 - Proibida para o Mafioso - Brenda Ripardoaline leite100% (3)