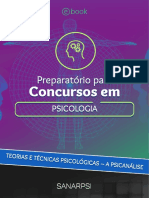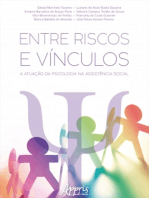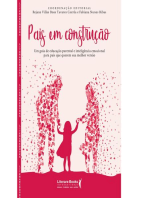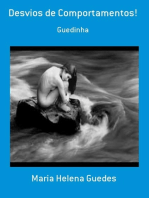Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
9447 60667 1 PB PDF
9447 60667 1 PB PDF
Enviado por
CamillaFreireTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
9447 60667 1 PB PDF
9447 60667 1 PB PDF
Enviado por
CamillaFreireDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Interao em Psicologia, 2009, 13(2), p.
323-333 323
Psicologia Institucional:
O Exerccio da Psicologia Como Instituio
Marlene Guirado
Universidade de So Paulo
RESUMO
O presente texto visa a atualizar e recolocar, agora no mbito das mudanas de contexto conceitual e
concreto do exerccio da psicologia como instituio, o que j se vinha esboando como uma proposta
de Psicologia Institucional que respeitasse a especificidade de ao do psiclogo. O captulo quatro do
livro Psicologia Institucional (Guirado, 1987/2004), intitulado Em busca de uma especificidade de
atuao do psiclogo, revisitado e revisado luz dessas mudanas. Mais que isso, reescrito numa
tal ordem que se pode acompanhar o avano do pensamento e da prtica profissional, desde ento.
Partindo da diferenciao entre os modelos psicanaltico e sociolgico de Psicologia Institucional,
discute-se tal distino, confluindo para uma terceira proposta, a qual permite tratar a prpria
psicologia como instituio, bem como permite tratar o seu exerccio, no interior de outras prticas
institucionais, como Anlise Institucional do Discurso. Situaes exemplares so destacadas para dar a
conhecer essa estratgia de pensamento.
Palavras-chave: psicologia institucional; psicologia como instituio; anlise institucional do discurso.
ABSTRACT
Institutional Psychology: Psychological Practices as Institutions
This paper aims to update the proposition to an Institutional Psychology, considering the concrete and
conceptual changes in our understanding of psychology as an institution. Chapter 4, titled Looking
for the specificity of psychologist work, in Institutional Psychology (Guirado, 1987/2004), is
reviewed and rewritten in a way that makes it possible for the reader to follow the advancements of
thinking and in practice. The starting point of this rearrangement is the discussion of the differences
between psychoanalytic and sociological models in this area. The goal is to devise a new proposition:
to consider psychology, on its own, as an institution, so that its exercise can be remarked as
Institutional Discourse Analysis. Examples are given so as to make it understood what is this strategy
of thinking psychology.
Keywords: institutional psychology; psychology as institution; institutional discourse analysis.
Desde o final da dcada de 1980, tenho procurado
discutir a especificidade do trabalho e da pesquisa em
psicologia quando esta se faz junto a outras institui-
es sociais. Essa discusso estendeu-se clnica,
numa inverso aparentemente contraditria, uma vez
que nesse contexto, a psicologia teria tudo para rei-
nar absoluta, para definir o o qu e o como as coisas
devem ser feitas. Afinal, pela formao, pela regula-
mentao da profisso bem como pela expectativa do
pblico e dos agentes institucionais, esse o territ-
rio-rei do psiclogo. No entanto, ao partir da especifi-
cidade de atuao do psiclogo nesse contexto, como
que num movimento de boomerang, acabamos por
considerar o consultrio como instituio e isto nos
exigiu esclarecer, cada vez mais, o campo conceitual
desse modo de pensar e fazer e pensar a psicologia, j
ento reconhecida como Psicologia Institucional.
O presente artigo visa a revisitar tais discusses,
desenvolvidas nesses quase 20 anos de trabalhos con-
tnuos e intensos. Visa a demonstrar a sustentabilidade
da estratgia de pensamento que assim se organizou,
no tempo e pela experincia concreta e refletida, para
hoje tratar a psicologia institucional, no como uma
rea de atuao profissional, ao lado daquelas j co-
nhecidas (clnica, social e do trabalho, escolar, expe-
rimental), mas como um modo de fazer concretamente
a psicologia; um modo de produzi-la na interface com
outras modalidades do conhecimento humano, confi-
Marlene Guirado
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
324
gurando a seu objeto e exercendo-se ela prpria como
instituio.
Parece infindvel essa tarefa: demonstrar a viabili-
dade de pensar a psicologia como instituio e da
derivar a ideia de que onde e como quer que se a exer-
a, estaremos de algum modo reafirmando esse seu
carter; estaremos produzindo e/ou reproduzindo uma
prtica, um conjunto de relaes, que reconhecemos
legtima e naturalmente ser... psicologia.
PSICOLOGIA: INTENO E EXTENSO
H aproximadamente trs dcadas, comeou a se
tornar visvel, entre ns, a preocupao de estender a
psicologia para alm das reas em que habitualmente
se exercia: pesquisas de laboratrio, psicodiagnstico,
psicoterapias, treinamento e seleo profissional, pre-
dominantemente. Por currculo e por lei, ora mais e
ora menos contraditoriamente
1
, o ensino e a atuao
profissional vo produzindo o desenho de uma psico-
logia que no parece querer ficar margem das refle-
xes filosficas e sociolgicas, feitas nas salas de
aula, ou margem de aes polticas das agremiaes
estudantis e dos movimentos sociais e comunitrios
em geral.
Nesse desenho da profisso, ganhou espao o tra-
balho junto a instituies (aqui entendidas como orga-
nizaes), sobretudo as de sade, educao e promo-
o social. Em 1982, o governo do estado de So
Paulo abriu vagas para psiclogos, nos servios pbli-
cos, contribuindo para a extenso dos limites institu-
cionais da profisso. Vrios egressos das faculdades
dirigiram-se para esses atendimentos que tomaram um
carter multiprofissional, dada a abertura feita, tam-
bm em outras reas. Os mestres universitrios e pro-
fissionais mais experientes (entre eles, estavam psi-
clogos e psicanalistas que migraram da Argentina
para c) dedicavam-se superviso desses trabalhos.
No tardou a aparecer uma disciplina na Universidade
de So Paulo, ainda optativa: Psicologia Institucional
2
.
Com o passar do tempo, os currculos de outras facul-
dades foram incorporando o mesmo ttulo.
assim que, cada vez mais, psicologia e institui-
o vai se tornando um binmio conhecido e reconhe-
cido. Tal efeito, no entanto, no resolve as questes
oriundas de um trabalho que, apesar de tudo, ainda
no tinha um respaldo suficiente na formao e no
currculo. E, sendo as prticas concretas o carro-chefe,
multiplicaram-se, quase s raias da disperso, os mo-
dos de compreenso e interveno. Estamos falando
agora do estado das coisas no final da dcada de 1980
e incio da de 1990. Isto de tal forma que parecia ha-
ver tantos modelos de trabalho quantos fossem os
mestres e supervisores em campo. Uns se diziam so-
ciopsicanalistas, outros psiclogos institucionais, ou-
tros ainda, analistas institucionais (e aqui, agrupava-se
a maior variedade de posies, desde os adeptos de
Lapassade at os de seu parceiro intelectual, Lourau; ou,
desde os que assinavam uma autoria pessoal at os
que se filiavam orientao de Delleuze e Guattari; e
assim por diante).
Apesar da liberalidade na nomeao daquilo que
faziam, profissionais e autores sobre o tema produ-
ziam trabalhos at certo ponto diferentes sob a insg-
nia institucional. Em parte, deriva dessa diversidade,
no limite da indiferenciao, uma vantagem para o
exerccio da psicologia: multiplicaram-se (e se multi-
plicam) iniciativas e tentativas de alargar os horizon-
tes do pensamento e do fazer concreto, extrapolando
os j distantes limites legais e provocando os psiclo-
gos a abandonar determinadas certezas cristalizadas
em suas modalidades de atuao, para abraar desa-
fios ainda muito tensos e informes. O que est longe
de ser algo negativo.
Gradativamente, permanecem dois ttulos a signifi-
car os trabalhos junto s instituies, como se cos-
tuma dizer: Psicologia Institucional e Anlise Institu-
cional. Seriam elas a mesma coisa? A rigor, no. Ve-
jamos.
A PSICOLOGIA INSTITUCIONAL DE BLEGER:
UMA INTERVENO PSICANALTICA
Psicologia Institucional um termo cunhado por J.
Bleger, psiquiatra argentino de orientao psicanalti-
ca inglesa, que a um certo momento, buscou aliar
psicanlise e marxismo para pensar a atuao do pro-
fissional em psicologia, para alm das prticas tera-
puticas e consultorias. Em nome dele e por meio de
seus escritos, nos idos de 1970, a Psicologia Institucio-
nal cruzou fronteiras e, assim, apesar dos efeitos da
represso poltica que forava os mais inquietos a
falarem de lado e olharem para o cho
3
, novos ares
pareciam poder soprar nestes brasis.
Trabalhar com psicologia institucional, portanto,
trabalhar com uma determinada abordagem psicanal-
tica especfica. E, como Bleger o define, com essa
abordagem, toma-se a instituio como um todo,
como alvo da interveno. Em seu livro Psicohigiene
e Psicologia Institucional (Bleger, 1973/1984), fica
claro que o psiclogo opera com os grupos, desde os
de contato direto com a clientela at a direo, por
Psicologia Institucional: O Exerccio da Psicologia Como Instituio
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
325
meio de um enquadre que preserva os princpios bsi-
cos do trabalho clnico psicanaltico, bem como suas
justificativas. Ainda: a compreenso que tem das rela-
es interpessoais guarda uma formulao muito inte-
ressante: a da simbiose e ambiguidade nos vnculos e
ele mesmo aproxima essa compreenso s ideias de
M. Klein a respeito de posies nas relaes de obje-
to; mais do que ao conceito de narcisismo em Freud
(Bleger, 1977/1987).
Tudo isto implica que se algum se diz trabalhando
com psicologia institucional, estar, ao mesmo tempo,
tomando, tanto a instituio e suas relaes quanto a
interveno do psiclogo, a partir de uma perspectiva
psicanaltica; ou da perspectiva de uma psicanlise.
Interpretaes ou assinalamentos, informados por esta
compreenso das relaes institucionais, definem sua
insero nos grupos, seu fazer.
Assim, apenas sumariada, a proposta de Bleger
perde muito de sua riqueza e fora... operativa. Para
que se lhe faa justia e para que se possam apreciar
as alteraes que ele mesmo faz na psicanlise que em
princpio credita, recomendosobretudo a leitura dos
textos O Grupo como Instituio e o Grupo nas Ins-
tituies (Bleger, 1979/1981) e Psicologia Institucio-
nal (Bleger, 1973/1984).
A ANLISE INSTITUCIONAL DE LAPASSADE:
UMA INTERVENO POLTICA
Anlise Institucional, por sua vez, o nome dado a
um movimento que supe um modo especfico de
compreender as relaes sociais, um conceito de ins-
tituio e um modo de insero do profissional psic-
logo que de natureza imediatamente poltica. Desa-
lojado do lugar de intrprete dos movimentos grupais
ou interpessoais, ele no se delega a tarefa diferencia-
da da interpretao ou de assinalamentos; ele , acima
de tudo, um instigador da autogesto dos grupos nas
organizaes, um favorecedor da revelao dos nveis
institucionais, desconhecidos e determinantes do que
se passa nesses grupos. um provocador de rachadu-
ras e rupturas na burocracia das relaes institudas.
Est do lado do instituinte, ainda que se questione
sempre esse lugar e a prpria anlise como facilitado-
res da liberao da palavra social dos grupos
(Lapassade, 1974/1977).
O idealizador da Anlise Institucional Georges
Lapassade, psiclogo de formao, que passou a tra-
balhar com psicossociologia e prosseguiu com um
intrigante caminho intelectual e poltico, o qual de-
sembocou nesse movimento autodenominado Anlise
Institucional.
Por que movimento? Porque, num tom acalorado
e ruidosamente polmico, em princpio pelo estilo de
sua escritura, praticamente, convoca adeptos a uma
causa
4
. Prope uma forma de agir e pensar que deve-
ria mobilizar todos os nveis institucionais ao mesmo
tempo; e isto seria justificvel por finalidades polticas
(supostamente) bvias (e) que todo leitor deveria ter!
Funciona quase como uma convocao militncia. E
o leitor se sente nessa condio de chamado aos brios:
Mexa-se! O que voc est fazendo a sentado? Venha
engrossar as fileiras dos que rompem com a burocra-
cia, liberam a palavra social e fazem a revoluo per-
manente!.
Tal chamado, porm, como uma segunda voz nos
escritos de seu livro mais conhecido entre ns (Lapas-
sade, 1974/1977), traz j a ambiguidade, assumida por
ele, de apresentar e criticar radicalmente a Anlise
Institucional que ele mesmo prope. No Prlogo
Segunda Edio dessa obra, acaba por dizer, enfati-
camente, sobre a ineficcia da Anlise Institucional,
na medida em que conta com a ao de tcnicos como
coordenadores e preceptores de mudana; a menos
que se queira considerar, por um artifcio, que a anlise
se d no nvel da palavra e, portanto, no tem relao
automtica com uma mudana na ao concreta. Por
isso, no menos enfaticamente, afirma que o que se
deve fazer a Ao Direta (anlise em ato), por
aqueles mesmos que constituem os grupos de uma
determinada instituio e/ou organizao, com as lide-
ranas nascidas de seu interior. Segundo ele, essa a
verdadeira revoluo permanente que decapita o rei,
as instituies sociais dominantes. Tudo, por inspira-
o dos momentos histricos da revoluo de 1968, na
Frana, e ainda visando liberao da palavra social.
Ora, poucos anos mais tarde, registra-se em um Pr-
logo Terceira Edio, que a liberao a ser feita a
do corpo e que o que, ento, se sustenta como ao de
um profissional da psicossociologia e da psicologia
Crise Anlise.
So de Lapassade distines conceituais impor-
tantes que parecem frequentar o discurso de institucio-
nalistas e de psiclogos afeitos a essa perspectiva de
trabalho. Nem sempre citada a fonte, alguns desses
termos parecem ter ganhado um sentido muito prxi-
mo ao de sua origem nesses outros discursos.
A primeira delas a distino instituinte/institudo.
O instituinte uma dimenso ou momento do proces-
so de institucionalizao em que os sentidos, as aes
ainda esto em movimento e constituio; o carter
mais produtivo da instituio. O institudo a cristali-
zao disso tudo; o que, na verdade, se confunde
com a prpria instituio.
Marlene Guirado
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
326
A segunda a distino entre dois outros termos:
organizao e instituio. Organizao um nvel da
realidade social em que as relaes so regidas por
estatutos e acontecem no interior de estabelecimentos,
espaos fsicos determinados. A instituio o nvel
da lei ou da Constituio que rege todo o tecido de
uma formao social; est acima dos estatutos das
organizaes. Ainda, segundo Lapassade, a instituio
pode ser considerada o brique-braque das determina-
es daquilo que atravessa os grupos de relao face a
face numa organizao social. A sala de aula exem-
plar nesse sentido: a relao entre as pessoas regida
por normas que, em ltima instncia, esto apoiadas
no que prev a lei maior para o ensino; nesse contex-
to, o professor poder ser considerado um represen-
tante do Estado frente a seus alunos.
Menos conhecida a concepo de burocracia que
anima essa proposta. Em poucas palavras, a novidade
que esse autor nos apresenta a de que burocracia ,
em princpio, uma questo de poder. Uma questo de
diviso no poder, entre grupos de deciso e grupos de
execuo do fazer institucional, sendo que os primei-
ros decidem no apenas o que, mas tambm, o como
fazer. A normatizao e a comunicao vm de cima
para baixo, e no h previso de canais legais ou leg-
timos para que essa relao se inverta. A regra de ouro
a obedincia e a organizao acaba sendo um fim
em si mesma. Indivduos e grupos acabam se munindo
de um radar que possa sondar as necessidades e inte-
resses que no os prprios. a heteronomia de grupos
e sujeitos, que corre em sentido oposto ao da autono-
mia.
Sobretudo com essa concepo de burocracia,
Lapassade faz um mapeamento das relaes institucio-
nais, trazendo para elas a organizao da separao,
pelo poder de deciso, e a produo de sujeitos sem
autonomia, alienados e alienadores da palavra social.
As relaes de poder e a ideologia tm, assim, seu
contexto constituinte
5
.
Podemos derivar da um alvo para ao do psic-
logo. E, com isso, voltamos ao incio e ttulo desse
item: trata-se, nessa perspectiva, de um trabalho ime-
diatamente poltico, e apenas mediatamente psicolgico.
Tudo o que aqui se apressou em dizer apenas um
convite ao leitor para que consulte esse intrigante livro
(Lapassade, 1974/1977).
Como dissemos anteriormente, a nomeao Anlise
Institucional estendeu-se a uma variedade de compre-
enses e modos de atuao, sobretudo os psicanalti-
cos. De tal forma que, hoje, a referncia comum tem
sido o fato de se tratar de trabalhos institucionais e/ou
junto a instituies. Em geral, quando conduzidos na
forma de superviso do trabalho de profissionais de
ao direta.
O EXERCCIO DA PSICOLOGIA
COMO INSTITUIO
At aqui, buscamos caracterizar o contexto do
exerccio profissional da psicologia, em que foi se
constituindo e firmando uma modalidade de interven-
o que saa do mbito dos atendimentos clnicos, das
pesquisas laboratoriais, das escolas e das empresas,
como ocasio de psicodiagnsticos, selees e treina-
mentos; que saa, ao mesmo tempo, do permetro legal
que havia sido conquistado, estendendo-se e produ-
zindo outros sentidos (extenses e intenes); consti-
tuindo uma modalidade de interveno que, com isso,
passa a se dizer institucional ao ser exercida junto a
instituies.
O leitor poderia considerar que a frase acima ,
praticamente, um pleonasmo: institucional porque
junto a instituies. Na verdade, ela porta uma dife-
renciao bastante significativa e que tentarei a partir
de agora esclarecer. Voltando ao incio deste texto,
essa a tarefa que me parece infindvel: a de demons-
trar essa diferena.
Bem, toda diferena exige que se anuncie o outro
polo, ou simplesmente, o contraponto. Tendo eu inicia-
do meus estudos tericos sobre o assunto, ao vivo,
com institucionalistas, em geral argentinos, fui depois,
aos poucos, me dirigindo a leituras vindas dalm
mares. Primeiramente, Lapassade teve efeitos em
minha prtica profissional, que eu passava, ento, a
designar como se dando no nvel organizativo/pol-
tico, do interior do exerccio da prpria psicologia.
Depois, mais diretamente, entro em contato com os
escritos de Michel Foucault, por influncia de um
autor nacional, Jos Augusto Guilhon Albuquerque.
Enquanto isso, os estudos da psicanlise de Freud e,
com o tempo, da Anlise do Discurso Francesa no que
dela dava a conhecer Dominique Maingueneau, foram
ganhando espao. Como quem no se poupa de colo-
car no papel as ideias que lhe comeam a fazer senti-
do, sobretudo porque elas faziam sentido no exerccio
concreto da psicologia, (no ensino e nas atuaes pro-
fissionais que marcadamente guardavam uma pers-
pectiva sempre institucional) escrevi dois livros. E, a
partir da, no parei mais de enfrentar as implicaes
de assim pensar; isto, num dilogo com as produes
desses autores bem como numa interlocuo com os
Psicologia Institucional: O Exerccio da Psicologia Como Instituio
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
327
alunos dos cursos que ministro, com os orientandos e
suas pesquisas, com os trabalhos de colegas afeitos
tambm ao estudo das instituies e da psicologia
como profisso. A clnica psicanaltica como anlise
de discurso e a questo do sujeito na pesquisa em
psicologia tm sido, ultimamente, ocasio de prosse-
guir organizando as ideias e, nisso, demonstrar que
possvel configurar uma estratgia de pensamento que
tome a psicologia como instituio do conhecimento e
da prtica profissional, onde e como quer que ela se
d, na ao direta de seus atores: o psiclogo e seu
cliente, o professor e seus alunos, o escritor e seus
leitores.
E se o leitor estiver, agora, um pouco reticente
quanto s possibilidades dessa estratgia de pensar,
no lhe tiro a razo, mas fao disso um desafio para a
demonstrao de sua viabilidade. Mais: inicio pelo
recorte conceitual que precisou ser feito para que essa
psicologia institucional, que ora apresentamos, mostre
a que veio. A ponto de o ttulo Psicologia Institucio-
nal, tomado para nomear prticas psicolgicas junto s
instituies/organizaes conforme se viu nos mode-
los anteriores, mostrar-se limitado, pois enfatiza, ou
melhor, pode recair numa questo de reas de atuao.
Nossa proposta visa a dizer, no de uma rea de atua-
o, mas de um certo dispositivo metodolgico, de um
certo modo de produzir psicologia.
O CAMPO CONCEITUAL DESSA NOVA PROPOSTA
A base diferencial de nossa proposta o conceito de
instituio com que trabalhamos: conjunto de relaes
sociais que se repetem e, nessa repetio, legitima-se
(Guilhon Albuquerque, 1987/2004). Essa legitimao
se d, em ato, pelos efeitos de reconhecimento de que
essas relaes so bvias e que naturalmente sempre
foram assim. D-se, ao mesmo tempo e complemen-
tarmente, pelos efeitos de desconhecimento de sua
relatividade. A escola, por exemplo, uma criao da
modernidade, mas muito pouco provvel que seus
agentes e sua clientela consigam imaginar a relativida-
de dessa forma de ensinar. Professores e alunos, na
repetio silenciosa dos rituais cotidianos e na sutil
disciplinarizao de corpos e pensamentos, reconhecem
que se pode at pensar e melhorar uma ou outra coisa,
mas, para ensinar tem que ter escola! E que sempre foi
assim! No detalhe: comum ouvir de professores quei-
xas com relao aos desmandos de coordenadores e
supervisores de seus trabalhos e, enquanto isso, com
exigncia no menos veemente, no abrem mo de
receber uma programao pronta para suas aulas. Da
parte dos alunos: quanta relutncia em aprender a
pensar, quando isto significa desacomodar-se da posi-
o de ouvinte e do privilgio conquistado de diluir-
-se no conjunto da sala ou de um grupo de trabalho,
para responder por uma leitura ou pelo trabalho pes-
soal de um texto!
O mais importante nessa compreenso de institui-
o que ela nos coloca, na qualidade de agentes ou
de clientela, como atores em cena. a nossa ao que
faz a instituio. Que a reproduz e legitima. Inclusive,
no que diz respeito aos efeitos de reconhecimento e
desconhecimento. Assim, no h porque se referir
instituio como um corpo estranho, acima de nossas
cabeas, com vida prpria e independente de ns. Ns
a fazemos. E, mesmo que revelia de nossa conscin-
cia, reconhecemos como natural e legtimo esse fazer.
Alm disso, toda instituio constitui um objeto
(imaterial, impalpvel): aquilo (ou a relao bsica)
em nome de que ela se faz, e cujo monoplio reivin-
dicado numa delimitao de mbito de ao com ou-
tras instituies (Guilhon Albuquerque, 2004). A cura,
por exemplo, pode ser considerada o objeto das prti-
cas mdicas; o das prticas escolares pode ser consi-
derado no apenas o ensino formal, como tambm a
direo e a disciplina dos atos dos educandos, inclusi-
ve para alm dos muros escolares, com a aquiescncia
(e a convite) da famlia (vide palestras de mdicos,
psiclogos e educadores sobre o uso de drogas, que as
escolas tm oferecido aos pais, muitas vezes a pedido
destes).
Por fim, cabe ainda destacar que toda instituio,
basicamente, se constitui na e pela relao de cliente-
la; isto , na relao de agentes institucionais com os
clientes dessas instituies. Estes ltimos demandam
um determinado servio e os primeiros se destinam a
prest-lo. nessa relao que se define a tenso entre
posse e alienao do objeto institucional. Uma relao
de poder, portanto, um jogo de foras poder/resistn-
cia, que no se d seno no e pelo discurso.
Chegamos desse modo ao outro termo definidor do
campo conceitual de nossa proposta: discurso. Com
Michel Foucault, tomamos o discurso como ato, dis-
positivo, instituio, que define, para um determinado
momento histrico e para uma regio geogrfica, as
regras da enunciao. Nele e por ele, como dissemos
acima, o jogo de foras poder/resistncia se exerce e a
produo de um saber ou verdade se faz concreta
(Foucault, 1985, 1997).
O leitor pode estranhar que, ao falar discurso,
no usamos a palavra palavra. O que queremos dizer
Marlene Guirado
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
328
com isso? Afinal, discurso no tem a ver com fala?
De todo modo sim. De certo modo, no. Se subli-
nharmos nessa concepo que o discurso dispositi-
vo que define as regras da enunciao, entramos no
campo da palavra. Mas, da palavra, entendida como
o modo de enunciar e, at certo ponto, como cena
enunciativa, que posiciona personagens, que distribui
lugares e expectativas em torno desses lugares, como
diria o linguista e analista do discurso, Dominique
Maingueneau (1987/1989).
O que importa, porm, considerar, com Foucault,
que os discursos so dispositivos-ato, (por)que su-
pem para seu exerccio uma posio, um lugar, que
um lugar na enunciao; isto , um lugar prenhe de
palavras para ouvir e para falar; com os efeitos que
isto pode ter sobre a ao de um e outro em relao,
num determinado contexto.
Um exemplo pode vir em nosso socorro, para que
as palavras no abusem da compreenso com sua ari-
dez. Falemos do dispositivo da clnica psicanaltica
como discurso. Um observador atento pode perceber
que os consultrios dos analistas tm um design que
guarda semelhanas bsicas. Moda? Muito provavel-
mente no. Do ambiente fsico at o modo de se ves-
tir, andar e se dirigir ao paciente, sobretudo nas pri-
meiras entrevistas, h um regramento implcito da
conduta do profissional que o faz sentir-se parte de
uma comunidade discursiva
6
: aquela dos que so ana-
listas ou psicoterapeutas que trabalham com essa orien-
tao. Pertencer a essa comunidade faz supor, por sua
vez, que falam a mesma lngua. Isso significa que, ora
mais e ora menos diretamente, aprenderam das mes-
mas fontes tericas, leram e creditaram os mesmos
autores; ou seja, comungam as mesmas teorias e se
autorizam a dizer em nome dos mesmos mestres.
Tambm, isso implica um modo de pensar o que de-
vem fazer como analistas, o que anlise, quem o
paciente, porque sente o que sente, at onde se pode ir
num determinado processo.
Tudo isso se d por um sutil enlaamento dos
efeitos das prticas de formao aos da prpria repeti-
o cotidiana dos atendimentos. Sutil, porque o reco-
nhecimento que fazemos da teoria que aprendemos,
como verdade sobre uma pessoa concreta que nos
procura, legitimao, naturalizao muda do conhe-
cimento constitudo. E, tudo isso se passa revelia de
nossas conscincias.
Assim, quando recebemos um paciente em nosso
consultrio, nossa escuta se plasma nessa histria da
formao e da pertena aos grupos que falam a mesma
lngua. Costumo dizer que o ouvimos (ao paciente)
com as palavras que temos para ouvi-lo (Guirado,
1986/2006). No momento em que diz por que nos
procurou, isto j ser ouvido como queixa ou deman-
da. E cada uma dessas palavras tem sentido muito
particular, na medida em que compem com o discur-
so de orientao inglesa (queixa) ou francesa (deman-
da). A partir da, podemos imaginar que o problema
ou sofrimento que passa a contar ser tomado na rede
de sentidos das teorias que o analista professa: como
fantasia inconsciente, transferncia, posio esquizo-
paranoide ou depressiva, fala ou desejo imaginrio,
simblico ou, como o real. s vezes, numa aplicao
direta do saber aprendido; s vezes, numa traduo
um pouco mais sofisticada. Ora, como se pode notar,
entre o dizer do cliente e o ouvir do terapeuta h um
desconhecimento constituinte (estrutural, por assim
dizer) de sentidos.
E, tudo isso discurso. Discurso-ato-dispositivo
(Guirado, 1986/2006), que vai desde a pertena ao
grupo dos que sabem sobre o inconsciente e preparam
o ambiente fsico em que este ser dito, experienciado
ou vivido na relao com o profissional, at as inter-
pretaes nossas de cada dia. Claro, sempre com a
participao do paciente, o que porta o discurso da
procura por atendimento e, nesse gesto, expe-se
compreenso que dele tem o analista.
A PROPOSTA
Entre filsofos, linguistas e socilogos, como posi-
cionar uma proposta para pensar a psicologia e faz-lo
na qualidade de psiclogos?
Parece contra-senso falar em especificidade de atua-
o profissional e operar conceitualmente na interface
com outras reas do conhecimento. No entanto, como
disse certa vez Maingueneau (2000), preciso pensar
com paradoxos. Ou ainda, s na interface marcam-se
os limites do prprio. Vejamos.
Com o conceito de instituio com o qual traba-
lhamos, podemos considerar a psicologia como insti-
tuio do conhecimento e da prtica profissional. Com
o conceito de discurso como dispositivo-ato-insti-
tuio, podemos tomar o exerccio da psicologia como
discurso que produz e reproduz verdades, num jogo de
foras poder-resistncia. Fazemos, portanto, desses
termos, que no se estranham, o quadro referencial, a
estratgia de pensamento, para dizer do que se faz
quando se diz fazer psicologia. Pensar a psicologia
como instituio exige configurar-lhe um objeto, algo
(imaterial, impalpvel) em nome de que ela se exerce
e sobre que reivindica monoplio de legitimidade.
Psicologia Institucional: O Exerccio da Psicologia Como Instituio
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
329
Diante da reconhecida e decantada diversidade de
psicologias que a histria de nossa disciplina e profis-
so constituiu, torna-se necessrio fazer um recorte
intencional, uma escolha, para dizer de qual psicolo-
gia falamos. Em nosso caso, optamos por um recorte
que a aproxima da psicanlise e, da, pudemos consi-
derar como sendo seu objeto: as relaes, mas no
aquelas imediatamente observveis, e sim, tal como
percebidas, imaginadas, por aqueles que concreta-
mente as fazem (Guirado, 1987/2004).
Esse objeto institucional d destaque s relaes.
Ora, de quais relaes falamos? Daquelas que faze-
mos vida a fora, com direito a pensar nas relaes
significativas, com as figuras parentais, desde o
bero do quarto que, segundo Freud, so tambm
o bero de toda subjetividade e vida social possvel
(Freud, 1921/1981b). De um lado, segundo a psican-
lise, supe-se que essas relaes sejam imaginarizadas
por aqueles que a vivem, criando o universo do ps-
quico ou do psicolgico. De outro, pode-se considerar
que a famlia uma instituio que se faz pela ao
concreta de seus atores: pais, filhos e aproximados.
Nesse caso, a histria de vnculos de algum se re-
edita, historicamente, na singularidade de sua organi-
zao e numa variao ou movimento de mudana
inevitavelmente exigida, uma vez que as re-edies se
fazem sempre na medida em que se ocupam lugares
em outras instituies. Movimento, repetio, regulari-
dade e singularidade: termos dspares, que de forma
paradoxal, articulam-se para falarmos de um sujeito
psquico porque institucional, ou do matriciamento
institucional do sujeito psquico, ou ainda, da metfora
do sujeito-dobradia (Guirado, 1987/2004, 1986/2006;
Guirado & Lerner, 2007).
O carter denso e obscuro do pargrafo anterior se
tentar explicar a partir de agora. Mas, que se registre:
ele traz a chave para o entendimento do modo de pen-
sar que ora se prope. Os exemplos mais uma vez se
prestam ao esclarecimento. Imaginemos uma situao
de sala de aula em que um aluno discorda do modo
como o professor conduz seu curso, e o faz em voz
alta, enquanto seus colegas em atento silncio indi-
cam, seno na totalidade pelo menos em parte signifi-
cativa deles, concordar com sua fala. O aluno que
discorda, muito provavelmente, re-edita, naquela situa-
o, o lugar que se viu e se v ocupando nas relaes
que estabelece desde sempre em sua vida e, como tal,
na mais absoluta singularidade de ser, que construiu
historicamente. No entanto, o fez num movimento que
se regra pelas particularidades do lugar de aluno, fa-
lando a um professor. A cena assim constituda repe
as tenses de uma relao de poder, repe o jogo de
expectativas e dirige a um incerto ponto de desfecho a
depender, sempre dos mesmos fatores: movimento,
repetio, regularidades e singularidade. Tudo, histo-
ricamente construdo, tendendo ao reconhecimento de
legitimidade de uma certa forma de se fazer o ensino e
a aprendizagem.
A insistncia na singularidade historicamente
constituda o tributo conceitual psicanlise. A re-
gularidade e a repetio, a ideia de lugares gestores de
expectativas em atos que recolocam o jogo de foras e
os procedimentos institucionais, justificam o operado-
res conceituais fronteirios a ela a que nos referimos
anteriormente. E, como se procurou demonstrar, no
se trata de justaposio de explicaes sobre um fato
inconteste, observvel e portador de uma verdade
natural e bvia que se queira, no mnimo demonstrar.
Trata-se, sim, da produo de um modo de explicar
que permita, ele tambm, um trnsito pontual de uma
sociologia, uma lingustica e uma filosofia, para que
com elas se opere, se produza, um modo de fazer psi-
cologia. No mnimo, respiramos os ares das diferen-
as, para que no fechemos o circuito de uma institui-
o sobre si prpria, para que no levemos exausto
o exerccio da mera repetio.
Com essa postura e nessa perspectiva, um con-
ceito psicanaltico ganha destaque, como o prprio
leitor j pode ter percebido medida que falamos de
reedies e repeties: o de transferncia. Se, no en-
tanto, prosseguimos pensando nas bordas de um co-
nhecimento, devemos investir novos esforos para a
sua reinveno.
A transferncia, termo criado por Freud para no-
mear uma classe de fenmenos psquicos que res-
ponde pela atualizao de padres inconscientes de
relaes amorosas vividas no passado, e com outras
pessoas, agora no presente (Freud, 1912/1981a). Essa
ideia foi, no decorrer de toda sua obra, dita de dife-
rentes maneiras, sem jamais comprometer seu sentido
principal: re-edies ou fac-similes dos vnculos com
as figuras significativas do incio da vida, quando uma
situao atual se mostrar conveniente. Tal repetio
a condio de anlise nas neuroses, uma vez que os
conflitos afetivos podem ser revividos com o mdico,
tornando-se ocasio para o conhecimento dos motivos
inconscientes da conduta e, em funo disso, orien-
tando a interpretao.
Saindo do contexto em que originalmente esse
termo fez sentido para ser pensado em outro, tanto da
prtica clnica quanto da produo terica, para que
no se faa uma extenso abusiva do conceito,
Marlene Guirado
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
330
necessrio que se proceda a ajustes que o potencialize
nesse novo contexto e sua rede discursiva.
Em certa ocasio escrevi sobre a exigncia desses
ajustes, sob pena de se incorrer no risco de a teoria
funcionar como ponto-cego na escuta do analista
(Guirado, 1986/2006).Em outra ocasio, ainda, sugeri
a necessidade de uma reinveno do conceito, mesmo
na clnica da psicanlise, para que se ampliasse tal
escuta. Isto, para inserir entre seus determinantes a
ideia de que o discurso do analista faz parte do discur-
so em anlise e de que esse discurso pode transferir,
para o contexto concreto de uma sesso, as teorias
creditadas como verdade sobre o paciente, que assim
se antepem sua fala (Guirado, 2000).
Com mais razo esse trabalho se mostra importan-
te, quando samos do setting consultorial para operar
com os termos e procedimentos da psicanlise em
outro contexto que no seja o seu de origem. O que
implica essa reinveno? Em primeiro lugar, preservar
o sentido de re-edio de lugares em relaes que de
alguma forma marcam para a pessoa o reconheci-
mento de si e de sua posio; mesmo que disso no se
d conta. Depois, considerar que a re-edio s se faz
em relaes, por sua vez institudas, em meio a proce-
dimentos e jogos de fora e de produo de verdades,
que tambm deixam sua marca.
A ttulo de exemplo: o atendimento psicolgico a
internos da FEBEM (hoje, Fundao Casa) tem uma
especificidade, mesmo considerando as diferenas que
existem entre ele se dar no interior das Unidades da
prpria FEBEM, ou no mbito fsico dos Servios que
a Universidade presta Comunidade. A clientela que
atendemos desenvolve expectativas muito particu-
lares em relao ao terapeuta e seu trabalho, desde a
feitura de relatrios de liberao ao juiz, at mais uma
ocasio de liberdade, de sada. Por sua vez, o terapeuta
(em geral estagirio desses servios) tambm desen-
volve outras tantas expectativas (e medos, por que
no?) em relao a este jovem que chega algemado
ou se encontra em condies de privao de liberda-
de numa Unidade com uma centena de outros jovens
como ele, num ptio. Talvez, prises ou amarras de
c e de l marquem essa dupla, colocando um no
lugar de quem atende e o outro do que ser ou
atendido. Demandas parte (como se isso fosse pos-
svel), no h como operar com a ideia de transfern-
cia estrito senso, quando o que se coloca no lugar de
psiclogo-terapeuta tem pequeno grau de liberdade
em relao aos seus prprios estranhamentos, e quan-
do seu parceiro em cena faz um percurso to diferente
daquele do cliente que procura um psiclogo em seu
consultrio...
Ento no d para trabalhar com essa clientela aos
moldes da psicanlise? Claro que d! Mas a psicanli-
se dever fazer uma toro sobre seus pressupostos
tericos e seus procedimentos habituais, e isto, em
princpio, na cabea e na postura de seu agente (o
terapeuta), ou o que se produzir sob esse ttulo corre-
r o risco de ser uma mimesis incua e equivocada do
que se prope fazer (anlise).
Sob qualquer justificativa, segundo a estratgia de
pensamento que estamos propondo, ser razovel o
terapeuta entrar em cena levando o contexto imagin-
rio, por teoria ou por convico de experincias coti-
dianas exaustivamente repetidas, de um lugar de ana-
lista acima da situao concreta. Isto o levar, muito
provavelmente, a construir, tambm no plano imagi-
nrio, uma srie de explicaes que impliquem apenas
o seu cliente em todos os reveses desse atendimento
(por exemplo, ponderar e at interpretar como intimi-
dao, feita pelo paciente ao analista, s raias da anu-
lao do carter analtico do processo e do prprio
analista; ou ento, como resistncia do que suposta-
mente se pe cliente). Impossvel no considerar o
quanto que o que pode ouvir do cliente est constitu-
do pelos medos e amarras da diferena e do desafio
no suficientemente esclarecidos que esta situao
apresenta.
Finalmente, e no mnimo por uma questo de coe-
rncia argumentativa, retomamos agora a questo do
sujeito que as prticas psicolgicas produzem, que
deixamos em suspenso, h alguns pargrafos. Nossa
propositura, seguindo rigorosamente os argumentos,
a de que somente quando se consideram os enlaa-
mentos texto/contexto (nas palavras de Maingueneau),
ou os efeitos de reconhecimento e desconhecimentos
da repetio nas relaes institucionais, os lugares e a
sobreposio de lugares quando duas prticas institu-
das se articulam, o peso dos procedimentos na natura-
lizao e legitimao de um discurso como ato e como
instituio, que se pode trabalhar, na sua singulari-
dade, aquilo que nos fala e o como se apresenta, se
mostra e se fala o cliente.
Da, a importncia conceitual de uma metfora
como a do sujeito-dobradia. Com o movimento que
as metforas nos permitem, podemos dizer que o su-
jeito das prticas psicolgicas esse singularmente
constitudo nas relaes que faz, nos diferentes con-
textos que, por sua vez fazem sua histria desde o
bero das (e nas) relaes com as figuras que se lhe
Psicologia Institucional: O Exerccio da Psicologia Como Instituio
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
331
apresentam como significativas, at estas que, nas
diferentes situaes exemplares aqui retratadas, procu-
ramos configurar.
Se considerarmos o objeto institucional da psicolo-
gia como sendo as relaes tal como reconhecidas,
imaginadas pelos que as fazem, onde quer que traba-
lhemos daremos foco subjetividade que nessas rela-
es se constitui.
DILOGOS COM A EXPERINCIA
E OUTROS DISCURSOS
Quando um psiclogo convidado ou contratado
para trabalhar numa instituio que no o consultrio,
essas ideias e termos tm um modo muito particular
de constituir sua experincia. E o primeiro fator a
considerar o lugar que ocupa na ordem formal da-
quela prtica. Isto porque a partir da que ser visto,
reconhecido, pelos demais agentes e pela clientela
bem como se reconhecer e reconhecer os outros
grupos em seu fazer cotidiano. Poder-se-ia dizer que
esse lugar lhe confere um campo de viso e de visibi-
lidade no imaginrio daquela instituio; e, ao mesmo
tempo e ato, o mbito discursivo possvel do servio
que poder prestar.
Nada que no se possa mover, medida que tal
trabalho se exerce. Mas, esse movimento exige a rigo-
rosa disciplina de pensar, sempre, as direes de suas
aes e as desses outros parceiros de lida diria. E
quando se fala em mudana ou alterao, supe-se
que ela ocorra fundamentalmente na postura e na
perspectiva do psiclogo; e no, como se costuma
imaginar, que o psiclogo deva transformar a realida-
de, como se fosse dele, o lugar predestinado crtica e
alterao dos outros. At porque, se ao fazer sua psi-
cologia ele se dispe a constantemente repensar o que
e como se move nas relaes institudas, estar mobi-
lizando um campo de foras e forando um caminho
na contramo das repeties e automatismos caracte-
rsticos das instituies. assim que o desenho da
profisso se diferencia. E, como faz parte das prticas
institucionais, estas se alteram.
Disse uma vez que psicologia institucional e oni-
potncia no combinam... De certa maneira, concor-
damos aqui com o que apresenta Lapassade: se algum
profissional se atribui a funo de liberar a palavra
social de um outro grupo, quebra, na base, as possibi-
lidades de esse grupo se apropriar de sua palavra e
assim, a burocracia, como uma questo de diviso no
poder, se instaura no prprio trabalho do analista ins-
titucional.
De certa maneira, tambm, com essa concepo,
revemos as colocaes de Bleger sobre a funo social
do psiclogo, como uma espcie de convocao moral
ao transformadora da realidade. A condio de
mudana no est voltada para fora ou justaposta ao
exerccio da psicologia. No uma exigncia moral.
uma tica intrnseca a esse exerccio; responder ao
perigo representado pelas repeties inaudveis e dis-
cretas de procedimentos, de discursos, consagrados,
naturalizados, legitimados.
E j que voltamos a Bleger, uma questo delicada
sempre retorna, quando da leitura de seu texto: segun-
do ele, o psiclogo institucional deve trabalhar na
condio de assessor, para que seja garantida a auto-
nomia tcnica. Como o contrato na qualidade de as-
sessor raro e destinado a poucos profissionais, mais
antigos e com uma experincia especificamente reco-
nhecida, no recairamos numa quase impossibilidade
da prpria psicologia institucional? Sim, porque os
recm-formados, dificilmente seriam contratados na
condio de assessores; entrariam como psiclogos,
no organograma, ao lado de outros tcnicos como
educadores-orientadores, assistentes sociais fisiotera-
peutas e assim por diante. Desse modo, a possibilida-
de de trabalhar com a autonomia do assessor, junto
aos seus pares e junto direo, estaria comprometi-
da, pois no seria reconhecido como quem pudesse ser
autorizado para tanto.
A bem da verdade, um lugar assim delimitado, de-
termina, de certa forma, a apreenso que ele poder ter
do conjunto das relaes institudas. Ser na qualidade
de tcnico, submetido s exigncias caractersticas de
seu cargo, em relao aos outros grupos institucionais
que far parte do imaginrio ali constitudo.
Que fazer, ento? Recusar todos os ensinamentos
da Psicologia Institucional? No propriamente. Se
retomssemos a ideia de retir-la da concepo de que
seria uma rea da psicologia, ao lado de outras como a
escolar, a organizacional, a clnica, a experimental, a
comunitria, estaramos em vias da concepo de uma
estratgia para pensar o que pode a psicologia produ-
zir em seu exerccio. Tomar, portanto, a Psicologia
Institucional (se ainda se quisesse preservar o nome)
como mtodo, como estratgia de pensamento, ao
invs de tom-la como mais uma rea de atuao com
mtodos prprios.
Por tal caminho, chegaramos a considerar que o
psiclogo, mesmo contratado por 40 horas semanais
ou encaixado no lugar de tcnico pelo organograma,
poderia proceder a seu trabalho tendo como regra de
ouro os cortes que fazem pensar. Isto implica a
Marlene Guirado
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
332
ateno constante, como dissemos de incio, ao
dos pressupostos tericos de nossa disciplina do co-
nhecimento, antecipando-se a qualquer anlise de
contexto. Implica tambm, mesmo que a partir de um
lugar institucional restrito e restritivo (at porque, em
qualquer instncia e por definio, um lugar institucio-
nal sempre o ), ter sempre em mente o conjunto das
prticas em que se est inserido (ou, nas palavras de
Bleger, a instituio como um todo), bem como as
tenses entre os grupos nessas prticas, na apropriao
daquele que se configura seu objeto, aquilo em nome
de que a instituio se faz.
Com essas atenes e disciplinas constitutivas de
seu trabalho cotidiano, o psiclogo poder se dedicar
a uma ao junto clientela (alunos de uma escola,
pacientes de um Hospital-Dia, por exemplo), ou junto
aos grupos que produzem e reproduzem a relao
bsica daquela instituio (professores e alunos, ou
atendentes e enfermeiros e os pacientes). Ela (a ao
do profissional em psicologia) ser institucional se
esta for a perspectiva do trabalho. E no, como habi-
tualmente se pensa, para carrear o ttulo, dever-se-
trabalhar com todos os grupos, principalmente com
aqueles do grupo-gestor, detentores do poder de tomar
decises que atinjam a todos.
Como, concretamente, fazer isso? Acompanhando
a distribuio de tempos e espaos/atividades na roti-
na diria (ou semanal); quem faz o que, como, quan-
do. Acompanhando, ainda, as relaes seus conflitos e
tenses, incluindo aquelas de que faz parte o prprio
psiclogo. No para desenvolver paranoias, autocen-
tramentos e onipotncias, mas para configurar o jogo
de expectativas criadas nas relaes imediatas, como
se responde a elas e a orientao que ento se segue.
Com atenes assim aparentemente prosaicas, pode-
mos nos dar conta do desenho dos procedimentos e
dispositivos discursivos em jogo. E, o mais importan-
te: podemos nos implicar nele como plos geradores
de ao sobre a ao de outros, como plos de resis-
tncia mudana, ou ao poder, simplesmente.
Afinal, esse o norte para que aponta o ttulo do
texto: o exerccio da psicologia como instituio...
REFERNCIAS
Bleger, J. (1981). Temas da psicologia (R. M. M. Moraes & L. L.
Rivera, Trad.). So Paulo: Martins Fontes. (Original publicado
em 1979)
Bleger, J. (1984). Psicohigiene e psicologia institucional (E. Diehl
& M. Flag, Trad.). Porto Alegre: Artes Mdicas. (Original pu-
blicado em 1973)
Bleger, J. (1987). Simbiose e ambiguidade. (M. L. X. A. Borges,
Trad.) Rio de Janeiro: Francisco Alves. (Original publicado em
1977)
Freud, S. (1981a). A dinmica da transferncia (J. Salomo,
Trad.). Em J. Strachey (Org), Edio standard brasileira das
obras psicolgicas completas de Sigmund Freud (Vol. 12, pp.
131-143). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1912)
Freud, S. (1981b). A psicologia das massas e anlise do ego (J.
Salomo. Trad.). Em J. Strachey (Org.), Edio standard bra-
sileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud
(Vol. 18, pp. 89-179). Rio de Janeiro: Imago. (Original publi-
cado em 1921)
Foucault, M. (1985). Histria da sexualidade I: A vontade de
saber (M. T. Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque,
Trad.). Rio de Janeiro: Graal.
Foucault, M. (1996). A ordem do discurso (L. F. A. Sampaio,
Trad.). So Paulo: Loyola. (Original publicado em 1971)
Foucault, M. (1997). Arqueologia do saber (L. F. B. Neves,
Trad.). Rio de Janeiro: Forense.
Guilhon Albuquerque, J. A. (2004). A anlise de instituies
concretas. Em M. Guirado (Org.), Psicologia institucional (pp.
83-103). So Paulo: EPU. (Original publicado em 1987)
Guirado, M. (2000). A clnica psicanaltica na sombra do discurso.
So Paulo: Casa do Psiclogo.
Guirado, M. (2004). Psicologia institucional (2 ed.). So Paulo:
EPU. (Original publicado em 1987)
Guirado, M. (2006). Psicanlise e anlise do discurso: Matrizes
institucionais do sujeito psquico. So Paulo: EPU. (Original
publicado em 1986)
Guirado, M., & Lerner, R. (2007). Psicologia, pesquisa e clnica:
Por uma anlise do discurso. So Paulo: FAPESP-Annablume.
Lapassade, G. (1977). Grupos, organizaes e instituies (H. A.
Mesquita, Trad.). Rio de Janeiro: Francisco Alves. (Original
publicado em 1974)
Maingueneau, D. (1989). Novas tendncias na anlise do discurso
(F. Indursky, Trad.). Campinas: Pontes. (Original publicado em
1987)
Maingueneau, D. (2000). Sobre o discurso e a anlise do discurso.
Em M. Guirado (Org.), A clnica psicanaltica na sombra do
discurso (pp. 21-31). So Paulo: Casa do Psiclogo.
Recebido: 28/05/2007
ltima reviso: 12/10/2009
Aceite final: 20/10/2009
Psicologia Institucional: O Exerccio da Psicologia Como Instituio
Interao em Psicologia, Curitiba, jul./dez. 2009, (13)2, p. 323-333
333
Notas:
1
Por exemplo, a lei que regulamentou a profisso previa que os psiclogos se dedicassem ao psicodiagnstico e modificao de
comportamento, onde fossem chamados a intervir: educao, orientao profissional, problemas de aprendizagem e assim por diante.
As terapias no foram, em princpio, consideradas campo de atuao em psicologia. No entanto, uma espcie de desobedincia civil
foi, como quem nada quer, mais e mais, legitimando as psicoterapias como rea de atuao em psicologia. Talvez pelo acotovelar
entre mdicos e psiclogos, nas Sesses Plenrias do Congresso, nossa profisso contentou-se com uma regulamentao que mais
restringia do que ampliava seu mbito e exerccio. Mas, o fato que, historicamente, apesar do peso que o psicodiagnstico veio a
ter, at em funo da presena extensa das disciplinas de testes durante a formao, em menos de 10 anos de lei, outras prticas psi-
colgicas foram se impondo e abrindo mercado de trabalho. Tambm, o ocaso dos tempos de ditadura militar encontrou o ensino da
psicologia modificado pela ao de professores que passaram a ministrar disciplinas que buscavam refletir sobre as relaes entre
psicologia e sociedade. Dentre eles: Dante Moreira Leite, Sylvia Leser de Mello, Maria Helena Patto e Ecla Bosi, s para citar
alguns expoentes da USP. No incio da dcada de 1980, pelas ideias de argentinos como Pichn-Rivire e Bleger, um certo modelo
de trabalho com grupos dentro e fora das organizaes, bem como uma forma de interveno com o conjunto dos grupos, sobretudo
em organizaes de sade e de educao ou em comunidades, sob o ttulo de Psicologia Institucional, ganha corpo e adeptos sedentos
de propostas concretas de atuaes sociais com psicologia e psicanlise.
2
Em 1982, como docente da USP, propus a disciplina Psicologia Institucional, como optativa, no programa de graduao. Somente em
2003, com o novo currculo implantado, ela veio a constar como obrigatria. Apesar de ter sempre trabalhado como psicloga numa
perspectiva scio-institucional e de tratar das articulaes entre psicologia, sociologia e poltica, no momento da propositura da refe-
rida disciplina, no me dei conta do quanto organizava de forma particular, um contexto de atenes mais amplo, no que diz respeito
nossa profisso.
3
Uma referncia a Chico Buarque em Apesar de Voc (1971).
4
Leia-se para comprovar essas impresses, o Prlogo segunda edio em Grupos, Organizaes e Instituies (Lapassade,
1974/1977).
5
Com isso Lapassade se distancia de uma concepo de ideologia e de instituio que se firmou pela orientao marxiana de L.
Althusser, em A Ideologia e os Aparelhos Ideolgicos do Estado (1974).
6
Conceito introduzido por Maingueneau (1987/1989), de certa forma apoiado no de sociedades discursivas de Foucault (1971/1996):
procedimentos de circulao de um discurso, que supe o regramento das condutas como sinal de pertena a um determinado grupo.
Sobre a autora:
Marlene Guirado: Livre-Docente do Instituto de Psicologia da Universidade de So Paulo.
Endereo para correspondncia: Rua Canrio, 755 apto 71 Moema 04521-003 So.Paulo/SP.
Endereo eletrnico: mguirado@terra.com.br.
Você também pode gostar
- Aulas CompletasDocumento72 páginasAulas CompletasGessyca SantosAinda não há avaliações
- Análise InstitucionalDocumento4 páginasAnálise InstitucionalFernanda RomãoAinda não há avaliações
- Saude Materno InfantilDocumento26 páginasSaude Materno InfantilVasti Marques de MeloAinda não há avaliações
- Afetividade e Cognição - Rompendo A Dicotomia Na EducaçãoDocumento26 páginasAfetividade e Cognição - Rompendo A Dicotomia Na EducaçãoViviane CoelhoAinda não há avaliações
- Aulas 7 - (Ver.6) - Diag Institucional - Parte 1Documento34 páginasAulas 7 - (Ver.6) - Diag Institucional - Parte 1Carol LimaAinda não há avaliações
- Aula 8 - Revisão Psicologia InstitucionalDocumento23 páginasAula 8 - Revisão Psicologia InstitucionalYiffer UfrAinda não há avaliações
- Aula 01Documento17 páginasAula 01Ewerton AlbinoAinda não há avaliações
- Psicologia InstitucionalDocumento8 páginasPsicologia InstitucionalChristopher ReynerAinda não há avaliações
- Bleger e LapassadeDocumento2 páginasBleger e LapassadeAndré Nascimento0% (1)
- Unidade I Adolescência X Puberdade: Desenvolvimento FísicoDocumento43 páginasUnidade I Adolescência X Puberdade: Desenvolvimento FísicoPaula FernandaAinda não há avaliações
- Aula 06 - REVISÃO - PSICOLOGIA INSTITUCIONALDocumento25 páginasAula 06 - REVISÃO - PSICOLOGIA INSTITUCIONALHellen CardosoAinda não há avaliações
- Apego e Parentalidade Sob o Enfoque TransculturalDocumento25 páginasApego e Parentalidade Sob o Enfoque TransculturalMariana GuedesAinda não há avaliações
- Bleger Processo InstitucionalizacaoDocumento13 páginasBleger Processo InstitucionalizacaoCURSOGERALAinda não há avaliações
- PDF 20220524 172859 0000Documento1 páginaPDF 20220524 172859 0000BeatrizAinda não há avaliações
- Lapassade. Grupos, Organizações e InstituiçõesDocumento38 páginasLapassade. Grupos, Organizações e InstituiçõesBrenda100% (1)
- 3 Bimestre Psicologia Institucional e Proc GrupalDocumento57 páginas3 Bimestre Psicologia Institucional e Proc GrupalFernanda ZarpelãoAinda não há avaliações
- Paternidade No Brasil - Revisão Sistemática de Artigos Empiricos PDFDocumento18 páginasPaternidade No Brasil - Revisão Sistemática de Artigos Empiricos PDFBruno SilveiraAinda não há avaliações
- Psi - Comportamento, Sociedade e Psicologia - Aula 01 - Aspectos Introdutórios Do Comportamento SocialDocumento11 páginasPsi - Comportamento, Sociedade e Psicologia - Aula 01 - Aspectos Introdutórios Do Comportamento SocialcarmenvaleriamaltaAinda não há avaliações
- LIVRO - Psicologia Social - o Homem em M-with-cover-page-V2Documento221 páginasLIVRO - Psicologia Social - o Homem em M-with-cover-page-V2Poliane Barbosa C. MartinsAinda não há avaliações
- Considerações para A Perícia PsicológicaDocumento92 páginasConsiderações para A Perícia PsicológicaAndré WerneckAinda não há avaliações
- Inserção Institucional Do Psicólogo em Equipe MultidisciplinarDocumento7 páginasInserção Institucional Do Psicólogo em Equipe MultidisciplinarJúlioCezarMorgantiAinda não há avaliações
- Lançando Os Filhos e Seguindo em FrenteDocumento9 páginasLançando Os Filhos e Seguindo em FrenteAbner100% (1)
- Devolutiva para Impressão FinalizadoDocumento12 páginasDevolutiva para Impressão FinalizadoFlavia Teixeira DutraAinda não há avaliações
- (P) Hall - Lindzey - Teorias Da Personalidade Vol 1Documento27 páginas(P) Hall - Lindzey - Teorias Da Personalidade Vol 1Aizen13100% (1)
- Saúde Mental No Trabalho 2Documento38 páginasSaúde Mental No Trabalho 2Mariana CanjeranaAinda não há avaliações
- Neurose Infantil, Neuroses Da Infância PDFDocumento9 páginasNeurose Infantil, Neuroses Da Infância PDFBrenno Duarte P. de MedeirosAinda não há avaliações
- O Psicologo Organizacional e Do Trabalho Na GestaoDocumento17 páginasO Psicologo Organizacional e Do Trabalho Na GestaoThaís Silva100% (1)
- Influências No DesenvolvimentoDocumento9 páginasInfluências No DesenvolvimentoRuth PassosAinda não há avaliações
- Um Estudo de Caso Análise Dos Laudos Psicológicos e Sociais em Vara deDocumento20 páginasUm Estudo de Caso Análise Dos Laudos Psicológicos e Sociais em Vara deIsleide Maiara100% (1)
- Práticas Emergentes em PsicologiaDocumento5 páginasPráticas Emergentes em PsicologiaAnderson CastroAinda não há avaliações
- Relato de Experiencia - Estagio IiDocumento20 páginasRelato de Experiencia - Estagio IiRicardo LohrdAinda não há avaliações
- As Relações Intrafamiliares 1Documento46 páginasAs Relações Intrafamiliares 1Thaís MotaAinda não há avaliações
- Texto 5 Uma Reflexão Sobre A Psicologia Social Comunitária (Lido e Resumido)Documento4 páginasTexto 5 Uma Reflexão Sobre A Psicologia Social Comunitária (Lido e Resumido)Cássio BritoAinda não há avaliações
- Pós Divórcio - Visão Dos FilhosDocumento15 páginasPós Divórcio - Visão Dos FilhosAllany NascimentoAinda não há avaliações
- Aula Baremblitt RoteiroDocumento5 páginasAula Baremblitt RoteiroLeandro RosaAinda não há avaliações
- 2.1 Conceitos Básicos em Intervenção GrupalDocumento14 páginas2.1 Conceitos Básicos em Intervenção GrupalPetryna GomesAinda não há avaliações
- SLIDE - Teoria+Da+SexualidadeDocumento36 páginasSLIDE - Teoria+Da+SexualidadeRamonAinda não há avaliações
- Artigo 4 Mistuko Antunes - Psicologia No Brasil No Séc. XX - PDFDocumento20 páginasArtigo 4 Mistuko Antunes - Psicologia No Brasil No Séc. XX - PDFAnna Beatriz SimõesAinda não há avaliações
- Introduopsicopatologia 151105230413 Lva1 App6892Documento65 páginasIntroduopsicopatologia 151105230413 Lva1 App6892Hellen Fonseca de Sousa da Costa ValeAinda não há avaliações
- Etapas Essenciais Da Relacao Analista-AnalisandoDocumento24 páginasEtapas Essenciais Da Relacao Analista-AnalisandoLjacintho100% (1)
- Dependência QuimicaDocumento178 páginasDependência Quimicaisabela nomuraAinda não há avaliações
- Johnbowlbyeateoriadoapego 110509152438 Phpapp01Documento56 páginasJohnbowlbyeateoriadoapego 110509152438 Phpapp01Luciana AlvesAinda não há avaliações
- Formulação Do Vínculo Pai-Filho No PuerpédioDocumento200 páginasFormulação Do Vínculo Pai-Filho No Puerpédiolilith_ceAinda não há avaliações
- As Transições Familiares PDFDocumento11 páginasAs Transições Familiares PDFMarco Aurelio MendesAinda não há avaliações
- Importância Dos Vínculos Familiares Na Primeira Infância: Working PaperDocumento17 páginasImportância Dos Vínculos Familiares Na Primeira Infância: Working PaperMequesambocoAinda não há avaliações
- Saúde MentalDocumento6 páginasSaúde MentalKaroline LimaAinda não há avaliações
- Relatório Final PsicoterapiaDocumento6 páginasRelatório Final PsicoterapiaThiago VersalesAinda não há avaliações
- René SpitzDocumento5 páginasRené SpitzBruno SilvaAinda não há avaliações
- DocumentDocumento9 páginasDocumentMarcos Bruno SilvaAinda não há avaliações
- Slides História e Atribuições de Psicologo OrganizacionalDocumento62 páginasSlides História e Atribuições de Psicologo OrganizacionalELIZABETH DOS SANTOS TOCZEK100% (1)
- Caixinha ECA PDFDocumento13 páginasCaixinha ECA PDFTATIANE MASIERO DA SILVAAinda não há avaliações
- O Que É Indispensável Atualmente Na Formação Do Psicólogo OrganizacionalDocumento9 páginasO Que É Indispensável Atualmente Na Formação Do Psicólogo OrganizacionalAna Luisa SilveiraAinda não há avaliações
- Ianni ScarelliDocumento214 páginasIanni ScarelliEli BorbaAinda não há avaliações
- Terapia Familiar Estrutural PDFDocumento17 páginasTerapia Familiar Estrutural PDFArlindo Goncalves De Araujo NetoAinda não há avaliações
- O sentido da educação para adolescentes em conflito com a leiNo EverandO sentido da educação para adolescentes em conflito com a leiNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Entre Riscos e Vínculos: A Atuação da Psicologia na Assistência SocialNo EverandEntre Riscos e Vínculos: A Atuação da Psicologia na Assistência SocialAinda não há avaliações
- História da Residência Médica na Escola Paulista de Medicina: os primórdiosNo EverandHistória da Residência Médica na Escola Paulista de Medicina: os primórdiosAinda não há avaliações
- Pais em construção: Um guia de educação parental e inteligência emocional para pais que querem sua melhor versãoNo EverandPais em construção: Um guia de educação parental e inteligência emocional para pais que querem sua melhor versãoAinda não há avaliações