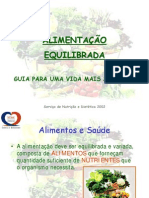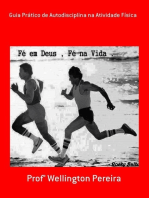Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Manual para Uma Alimentacao Saudavel em Jardins de Infancia PDF
Manual para Uma Alimentacao Saudavel em Jardins de Infancia PDF
Enviado por
pelosirosnanetTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Manual para Uma Alimentacao Saudavel em Jardins de Infancia PDF
Manual para Uma Alimentacao Saudavel em Jardins de Infancia PDF
Enviado por
pelosirosnanetDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Emlia Nunes
Joo Breda
M I N I S T R I O D A S A D E
D ire c o -G e ra l d a S a d e
M I N I S T R I O D A S A D E
D ire c o -G e ra l d a S a d e
# #
#
#
#
# #
#
#
#
#
#
F u n d o s E s tru tu ra is
Emlia Nunes
Joo Breda
Autores
Emlia Nunes - Mdica de Sade Pblica, DGS, Diviso de Promoo e Educao para a Sade
Joo Breda - Nutricionista, DGS, Diviso de Promoo e Educao para a Sade
Editor
Direco Geral de Sade
Alameda D. Afonso Henriques, 45
1049-005 Lisboa
dgsaude@dgsaude.min-saude.pt
http://www.dgsaude.pt
Tel.:21 843 05 00
Fax: 21 843 05 30
Design Grfico
tvm designers
Ilustraes
Carlos Marques
Montagem, Impresso e Acabamento
EUROPRESS, Lda.
Tiragem
30.000 Exemplares
Depsito legal
174086/01
ISBN
972-9425-94-9
Emlia Nunes
Joo Breda
MINISTRIO DA SADE
Direco-Geral da Sade
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Fundos Estruturais
ndice
1. Introduo
2. Objectivos do manual
3. Importncia da educao alimentar
4. Objectivos da educao alimentar de crianas
em idade pr-escolar
5. Factores de efectividade da educao alimentar
6. A alimentao e a nutrio
6.1. Funes da alimentao
6.2. Constituio dos alimentos
7. Os grupos dos alimentos
7.1. A Roda dos Alimentos
7.2. A alimentao mediterrnica
8. Necessidades nutricionais da criana
em idade pr-escolar
9. Distribuio das refeies
10. Confeco saudvel dos alimentos
11. Regras de higiene na preparao de alimentos
7
9
10
11
12
14
16
19
30
37
38
40
43
58
61
1. Introduo
A alimentao tem sido, ao longo da histria, uma constante nas
preocupaes do homem. O desenvolvimento das civilizaes tem
estado intimamente ligado forma como o indivduo se alimenta.
Pode mesmo afirmar-se que a alimentao tem determinado o futuro
e o destino das civilizaes.
Para alm de uma necessidade fundamental do ser humano, a
alimentao um dos factores do ambiente que mais afecta a sade.
Somos o que comemos um velho aforismo que traduz bem este
facto.
O acto de comer, para alm de satisfazer necessidades biolgicas
e energticas inerentes ao bom funcionamento do nosso organismo,
tambm fonte de prazer, de socializao e de transmisso de
cultura. No entanto, no basta ter acesso a bens alimentares.
preciso saber comer, ou seja, saber escolher os alimentos de
forma e em quantidade adequadas s necessidades dirias, ao longo
das diferentes fases da vida.
Como sabemos, nas sociedades ocidentais, muitas das doenas
crnicas responsveis por doena e mortalidade prematura (obesi-
dade, cancro, doenas crebro e cardiovasculares, osteoporose, entre
outras) esto directamente relacionadas com a prtica alimentar. Por
outro lado, embora a maioria da populao tenha acesso a bens
alimentares bsicos, persistem ainda, no nosso pas, problemas de
carncia alimentar, em particular em grupos socialmente excludos.
Muitos dos nossos hbitos alimentares so condicionados desde
os primeiros anos de vida. Por outro lado, uma alimentao saudvel
durante a infncia essencial para permitir um normal desenvolvi-
7
mento e crescimento e prevenir uma srie de problemas de sade
ligados alimentao, como sejam a anemia, o atraso de cresci-
mento, a malnutrio, a obesidade, ou a crie dentria.
Dados da investigao sugerem que as crianas no esto dotadas
de uma capacidade inata para escolher alimentos em funo do seu
valor nutricional, pelo contrrio, os seus hbitos alimentares so apren-
didos atravs da experincia, da observao e da educao.
O papel da famlia na alimentao e na educao alimentar das
crianas e jovens portanto inquestionvel. Mas, para alm da fam-
lia, a escola e, em especial, o jardim de infncia assumem uma parti-
cular importncia, na medida em que podem oferecer um contexto
de aprendizagem formal sobre esta e outras matrias, complemen-
tando o papel familiar.
Nas situaes de disfuncionamento familiar, ou carncia econ-
mica grave, a escola , por vezes, a principal oportunidade para a
aprendizagem de princpios e de comportamentos alimentares
saudveis, bem como para o suprir de algumas carncias alimentares.
Actualmente, sobretudo em meio urbano, as crianas de idade
pr-escolar so, cada vez em maior nmero, acolhidas em jardins de
infncia, locais em que recebem uma parte importante da sua
alimentao diria e adquirem os primeiros conhecimentos sobre a
importncia de uma alimentao saudvel.
Todavia, muitos dos profissionais responsveis pela alimentao
destas crianas no dispem dos conhecimentos necessrios para
uma adequada seleco alimentar e para uma interveno educativa
nesta rea.
Neste sentido, o presente manual tem como principais destina-
trios os educadores de infncia, os responsveis por estabelecimen-
tos de educao infantil e o pessoal directamente envolvido na prepa-
rao e fornecimento da alimentao s crianas que frequentam
estes estabelecimentos.
8
2. Objectivos do manual
fornecer informao bsica sobre alimentao saudvel da criana
em idade pr-escolar;
estimular a elaborao de materiais e o desenvolvimento de expe-
rincias originais de educao alimentar;
oferecer ajudas prticas para o planeamento da alimentao em
jardins de infncia e a seleco de ementas, com um enfoque
particular nos frequentados por crianas provenientes de meios
socialmente mais desfavorecidos;
contribuir para que os jardins de infncia ofeream uma alimen-
tao saudvel, equilibrada e adequada s necessidades da
criana.
9
3. Importncia da
Educao Alimentar
H, hoje, evidncia que a educao alimentar pode ter resultados
extremamente positivos, em especial quando desenvolvida com grupos
etrios mais jovens, no sentido da modelao e da capacitao para
escolhas alimentares saudveis.
Os programas e esforos de educao alimentar devem ser cont-
nuos e multifacetados. Melhorar o comportamento alimentar de
indivduos e de comunidades no tarefa de curta durao. Leva
tempo facilitar o progresso dos indivduos e das comunidades atravs
de vrios estdios de mudana. Trata-se de um processo contnuo,
que passa pelo acesso informao, pela compreenso e interioriza-
o dessa informao, pela motivao, pela capacidade e possibili-
dade de escolha e por estratgias de manuteno da mudana.
H que ter presente que para haver uma mudana de compor-
tamento no basta saber e estar motivado. preciso, tambm, que o
meio ambiente fsico, econmico, social e cultural oferea condies
que facilitem e permitam o exerccio desse novo comportamento.
Os factores de motivao e de reforo da mudana para a adop-
o de hbitos alimentares mais saudveis devem, assim, ser diversifi-
cados contemplando a vertente informativa, educativa e de suporte
ambiental continuamente adaptados e mantidos.
Para alm da famlia, a escola, em cooperao com servios de
sade, autarquias e outras estruturas da comunidade, oferece, como
j referimos, condies privilegiadas para o desenvolvimento deste
processo.
10
4. Objectivos da Educao Alimentar
de Crianas em Idade Pr-Escolar
Como objectivos da educao alimentar destinada s crianas em
idade pr-escolar, podem identificar-se os seguintes:
Criar atitudes positivas face aos alimentos e alimentao;
Encorajar a aceitao da necessidade de uma alimentao saud-
vel e diversificada;
Promover a compreenso da relao entre a alimentao e a
sade;
Promover o desenvolvimento de hbitos alimentares saudveis.
11
5. Factores de Efectividade da
Educao Alimentar
Com base no conhecimento adquirido a partir da avaliao de
programas de educao alimentar j desenvolvidos, possvel identi-
ficar alguns factores que contribuem para aumentar a sua efectivi-
dade, a saber:
Melhoria do nvel de conhecimentos e de competncias
em matria de alimentao saudvel e de educao alimentar de
pais, professores, responsveis e pessoal ligado ao fornecimento
de alimentos.
Concepo, promoo, disseminao e avaliao de materiais
e curricula de educao alimentar. A utilizao de materiais
educativos contibui para tornar a educao alimentar mais efec-
tiva. No nosso Pas existem j bons materiais pedaggicos, em
especial para o 1. e 2. ciclos do ensino bsico, dos quais desta-
camos o MESA Manual de Educao para a Sade em Alimen-
tao (Loureiro, I; Miranda, N, 1993), que podem tambm ser
consultados.
Envolvimento dos pais e da famlia, particularmente atravs
do desenvolvimento de actividades ligadas alimentao, em
conjunto com o jardim de infncia.
Abordagem centrada na modelao dos comportamentos,
por parecer melhorar as escolhas alimentares, mesmo sem
ensino didctico sobre alimentao, na medida em que estimula
a aprendizagem a partir da observao. Pais, educadores e outros
adultos, ou as prprias crianas, constituem modelos de identi-
12
ficao para a adopo de padres alimentares saudveis, sob
uma forma positiva e atractiva sem utilizao de presses,
recompensas despropositadas ou represlias.
Uso de materiais e experincias de aprendizagem
adequadas ao nvel de desenvolvimento, j que nenhum
esforo de ensino e educao poder fazer uma criana apren-
der conceitos que esto para l das suas capacidades e do seu
estdio de desenvolvimento psico-motor e cognitivo. Uma
criana de 3 a 6 anos pode compreender conceitos como ter
fora, um corao forte, alimentos saudveis para afastar
os micrbios do organismo e poucas gorduras para manter
o corao saudvel, enquanto que a sua capacidade de
compreenso do que so os nutrimentos e o que lhes acon-
tece no organismo se revela muito mais rudimentar. A adap-
tao dos programas ao nvel de desenvolvimento cognitivo,
motor e emocional das crianas portanto um factor crtico
para o seu sucesso.
Realizao de actividades com alimentos, como festas
em que existam provas, ateliers de preparao de alimentos e
bebidas, criao de jardins e hortas com hortalias, legumes e
frutos, ou at pequenas capoeiras.
Desenvolvimento dos cinco sentidos utilizando os
alimentos, tomando refeies e merendas saudveis na
escola, so tambm uma forma de motivar para a adopo de
bons hbitos alimentares.
Respeito e valorizao dos hbitos alimentares saudveis,
prprios da cultura tradicional local.
Ter em considerao as disponibilidades alimentares
do mercado e o poder econmico das famlias.
13
6. A Alimentao e a Nutrio
A alimentao consiste em obter do ambiente uma srie de produtos,
naturais ou transformados, que conhecemos pelo nome de alimentos,
que contm substncias qumicas denominadas nutrimentos.
A alimentao , assim, um processo de seleco de alimentos, fruto
das preferncias, das disponibilidades e da aprendizagem de cada indi-
vduo, processo esse que lhe permite escolher e distribuir as refeies
ao longo do dia, de acordo com os seus hbitos e condies pessoais.
Trata-se de um processo voluntrio, determinado por factores cogniti-
vos, socio-econmicos, emocionais, psicolgicos, afectivos e culturais.
A nutrio, que se inicia no momento da ingesto dos alimentos,
consiste no conjunto de processos mediante os quais o ser vivo, neste
caso o Homem, utiliza, transforma e incorpora nas suas prprias estru-
turas uma srie de substncias que recebe do mundo exterior atravs da
alimentao, com o objectivo de obter energia, construir e reparar as
estruturas orgnicas e regular os processos de funcionamento do nosso
organismo. O conhecimento cientfico da nutrio permite actual-
mente definir, de forma aceitvel, o nmero e a quantidade de subs-
tncias que so indispensveis ao homem para manter um estado nutri-
tivo adequado. O processo nutritivo , em consequncia, involuntrio e
depende da seleco alimentar.
Este processo importante ao longo de toda a vida, particular-
mente em determinados perodos, como sejam a infncia e a adoles-
cncia, a gravidez ou a terceira idade. A criana, por se encontrar em
fase de crescimento, extremamente dependente de uma alimenta-
o saudvel e, por isso, mais sensvel s carncias, desequilbrios ou
desadequao alimentares.
14
A quantidade de alimentos, que se deve ingerir, depende das
necessidades energticas de cada indivduo e de um balano entre
aquilo que se perde ou elimina por diversos mecanismos e aquilo que
se ingere.
Para uma alimentao saudvel h que escolher alimentos segu-
ros, do ponto de vista da sua qualidade e higiene, e diversificados, por
forma a satisfazer todas as necessidades de nutrimentos essenciais.
A variedade na alimentao a principal forma de garan-
tir a satisfao de todas as necessidades do organismo em
nutrimentos e de evitar o excesso de ingesto de eventuais
substncias com riscos para a sade, por vezes presentes em
alguns alimentos.
Por outro lado, h que garantir a manuteno da proporcionali-
dade entre os diferentes grupos de alimentos, tendo em considerao
as necessidades nutricionais ao longo da vida.
Neste sentido, o tipo de alimentos, os mtodos de preparao e
as refeies devem ser adequados s condies e necessidades parti-
culares de cada indivduo, tendo em considerao, entre outros
factores, a sua idade, sexo, grau de actividade fsica e estado de sade.
Se a alimentao da criana no for adequada quer em quantidade,
quer em qualidade, o seu crescimento pode ser afectado, podendo
surgir diversas situaes de doena ou de comprometimento global do
desenvolvimento.
Durante o perodo pr-escolar dos 3 aos 6 anos em que se
verifica um crescimento acentuado, embora de ritmo mais ou menos
constante, a qualidade da alimentao determinante, para a matu-
rao orgnica e a sade fsica e psicossocial. Sendo um perodo
menos vulnervel aos atrasos de crescimento por malnutrio do
que os dois primeiros anos de vida, , no entanto, particularmente
importante, porque durante ele que muitos dos comportamentos
relacionados com a alimentao se adquirem e muitos dos erros
15
alimentares do adulto se iniciam, como seja o excesso de ingesto de
doces e gorduras, acompanhado por um dfice de ingesto
de hortalias, legumes e frutos. Trata-se, portanto, de um perodo
ptimo para o incio da educao alimentar.
6.1. Funes da alimentao
Todos sabemos que, para se viver com sade, necessrio ingerir
alimentos de diferentes tipos, em quantidade adequada. Estes alimen-
tos fornecem substncias ao organismo para que se mantenha vivo
(respirar, conservar a temperatura corporal, movimentar-se, crescer,
brincar, trabalhar, etc.).
Os constituintes dos alimentos designam-se por nutrimentos. Em
funo das suas propriedades qumicas, podem classificar-se em hidra-
tos de carbono, protenas, gorduras, vitaminas, sais minerais,
fibras alimentares e gua. Estes sete grupos de nutrimentos desem-
penham no organismo humano trs funes principais: funo ener-
gtica, funo plstica ou reparadora e funo reguladora.
Funo Energtica
Uma das principais funes dos alimentos a de fornecer ener-
gia ao organismo, para o seu bom funcionamento e para a manu-
teno da vida de relao.
A energia no organismo necessria para manter constante
a temperatura corporal e para permitir o trabalho muscular.
No , assim, surpresa que uma maior actividade fsica
implique um aumento substancial do consumo de energia.
A funo de reserva tambm muito importante, j
que permite ao organismo armazenar energia quando
o que se ingere excede as necessidades, sendo esta
transformada em tecido gordo ou adiposo, pronto a ser
utilizado em situaes de carncia.
16
A unidade de medida mais usada para exprimir as necessidades
energticas a caloria, embora a unidade do sistema internacional
seja o Joule (1 caloria = 4,186 Joules). Os nutrimentos mais adequa-
dos para fornecer energia so os hidratos de carbono e as gorduras e,
por conseguinte, sero tambm os alimentos mais ricos nestes nutri-
mentos os melhores fornecedores de energia.
A energia fornecida pelos alimentos mede-se habitualmente em
calorias.
1 grama de hidratos de carbono fornece 4 calorias.
1 grama de protenas fornece 4 calorias.
1 grama de gorduras fornece 9 calorias.
So alimentos ricos em hidratos de carbono o po, o arroz, as
massas, o feijo, o gro, outras leguminosas e os cereais. So ali-
mentos ricos em gorduras o azeite, os leos, a banha de porco, a
manteiga, as margarinas e as gorduras de constituio dos alimentos.
de referir que o lcool etlico um elemento que pode for-
necer cerca de 7 calorias por grama, no sendo, no entanto, uma
energia facilmente utilizada pelo organismo. Assim, o lcool no
considerado um nutrimento, principalmente devido aos seus efeitos
potencialmente txicos, quando consumido de forma excessiva.
O consumo de lcool completamente desaconselhado abaixo
dos 17 anos de idade, durante a gravidez, amamentao e nas situa-
es de alcoolismo crnico ou de debilidade fsica, bem como nas
situaes em que o mdico o interdita.
Durante os primeiros tempos de vida, as necessidades energticas
so superiores s registadas na idade adulta e, sobretudo, s registadas
durante a velhice. Tal facto resulta, por um lado, de uma maior activi-
dade fsica durante a infncia e a juventude e, por outro, de um
aumento das necessidades e exigncias de funcionamento do orga-
17
18
nismo, inerente ao processo de crescimento prprio da infncia e da
adolescncia.
Assinale-se ainda que a composio corporal tambm vai
sofrendo mudanas com a idade: com o decorrer dos anos, e mesmo
que o peso se mantenha, a massa magra diminui e, paralelamente, a
massa gorda aumenta.
A actividade fsica o factor que mais altera as necessidades ener-
gticas de um indivduo, j que o trabalho muscular um grande
consumidor de oxignio e, por conseguinte, de energia.
Alguns factores psquicos como a emoo e o stress podem
aumentar o consumo de oxignio e, consequentemente, os gastos de
energia.
O balano energtico deve ser equilibrado, isto , deve procurar
obter-se a energia adequada ao que se vai gastar, sob a forma de
alimentos, j que o seu dfice implicaria a impossibilidade de realizar
todas as funes vitais e o seu excesso provocaria o aparecimento de
obesidade, na medida em que, como j se referiu, a energia excedente
depositada e armazenada no organismo sob a forma de gordura.
Funo Plstica ou Construtora
Os nutrimentos plsticos ou construtores so principalmente
as protenas, que fazem parte da constituio de todos os tecidos,
contribuindo para a sua reconstituio ou crescimento e para a
formao dos que esto sujeitos a uma renovao constante.
Alguns sais minerais, como o clcio ou o fsforo, que integram os
ossos, ou o ferro que existe no sangue, e a prpria gua, necessria
ao bom funcionamento das clulas, tm tambm funes plsticas.
Funo Reguladora
Os nutrimentos reguladores so aqueles que, apesar de no
fornecerem energia, promovem e facilitam quase todas as reaces
19
bioqumicas no organismo humano. Sem a sua aco, a vida no
seria possvel, nem os outros nutrimentos correctamente aproveita-
dos. Os nutrimentos reguladores mais importantes so as vitaminas,
os minerais e as fibras alimentares ou complantix.
6.2. Constituio dos alimentos
Como j foi dito os alimentos so constitudos por determinadas
substncias, os nutrimentos: umas existentes em maior quantidade
os macronutrimentos nos quais se incluem as protenas, as gordu-
ras, os hidratos de carbono, as fibras alimentares e a gua; outras
em menor quantidade os micronutrimentos que
incluem as vitaminas e os sais minerais. Descrevem-
-se em seguida as suas principais caractersticas.
Protenas
As protenas so substncias orgnicas complexas, existentes na
estrutura das clulas animais e vegetais, que tm um papel funda-
mental na sua estrutura e funes. Cada espcie de ser vivo tem as
suas protenas especficas, o que lhe confere caractersticas nicas.
As protenas so formadas pela unio de aminocidos. Foram at
hoje identificados cerca de 20 aminocidos diferentes. O organismo
tem a capacidade de converter alguns deles noutros necessrios ao
seu bom funcionamento, mas existem alguns que o organismo
humano no capaz de sintetizar e que, por isso, se designam
aminocidos essenciais.
Regra geral, as protenas de origem animal so de mais alto valor
biolgico do que as protenas de origem vegetal, uma vez que
contm aminocidos essenciais em maiores quantidades e em
propores mais adequadas formao das protenas humanas.
As protenas tm a capacidade de se complementar entre si, atra-
vs da conjugao de protenas de maior valor biolgico com outras de
menor valor biolgico, como por exemplo atravs da juno de leite e
cereais. Outra possibilidade consiste em juntar alimentos que conte-
nham protenas de baixo valor biolgico com distintos aminocidos,
que se complementem em termos proteicos, como por exemplo arroz
e feijo, originando assim protenas de maior valor biolgico.
Gorduras
As gorduras so substncias de composio extremamente
varivel e que tm a particularidade de ser insolveis na gua. So
nutrimentos basicamente energticos, embora tambm lhes este-
jam associadas outras funes importantes, como, por exemplo,
servirem de veculo s vitaminas lipossolveis A, D, E e K , forne-
cerem cidos gordos essenciais e contriburem para a formao do
tecido gordo do organismo.
Os cidos gordos so a unidade estrutural das gorduras. Existem
diferentes tipos de cidos gordos designados por cidos gordos
monoinsaturados, polinsaturados e saturados.
Os cidos gordos saturados abundam nas gorduras de origem
animal e os insaturados nos de origem vegetal e na gordura do peixe.
Tal como nas protenas, existem cidos gordos essenciais, que no
podem ser produzidos pelo organismo humano. As gorduras vegetais
so mais ricas em cidos gordos essenciais que as gorduras animais.
O azeite a gordura de mais fcil digesto e que apresenta uma com-
posio mais equilibrada em aminocidos, com cerca de 16% de cidos
gordos saturados, 75% de monoinsaturados e 9% de polinsaturados.
A ingesto excessiva de gorduras em que predominem os cidos
gordos saturados est relacionada com determinadas patologias,
nomeadamente doenas cardiovasculares e nveis elevados de coles-
terol no sangue.
Todos os alimentos de origem animal contm colesterol, alguns em
concentraes elevadas (vsceras, gema de ovo), outros em quantidades
20
mdias (carne de vaca) ou baixas (leite magro). Os alimentos de origem
vegetal, como o azeite, frutos secos, legumes, etc, no contm colesterol.
No entanto, os nveis elevados de colesterol no sangue parecem
estar mais relacionados com uma ingesto excessiva de gorduras do
que com o colesterol existente nos alimentos.
As gorduras encontram-se, de forma visvel, em diversos alimen-
tos de diferentes origens e em distintas concentraes, como o azeite,
os leos alimentares, a banha ou a manteiga. No entanto, existem
tambm gorduras sob uma forma invisvel em muitos alimentos,
nomeadamente nas carnes, sobretudo de vaca, na gema de ovo, em
alguns peixes e no leite. Os frutos secos podem conter entre 50 a
60 % de gorduras.
De um modo geral podemos afirmar que as gorduras vegetais
so mais saudveis do que as gorduras animais, desde que bem utili-
zadas, e que as gorduras do peixe so melhores do que as gorduras
da carne. A ingesto global de gorduras no deve exceder 30% da
ingesto diria calrica total.
Hidratos de carbono
Os hidratos de carbono so os principais fornecedores de ener-
gia. Encontram-se, sobretudo, nos alimentos de origem vegetal.
Atendendo complexidade da sua estrutura qumica, podem ser
classificados em hidratos de carbono de cadeia complexa (amidos e
fculas) e hidratos de carbono de cadeia simples (acares).
As farinhas, o po, o arroz , as massas, a batata e outros tubr-
culos, o gro, o feijo e a castanha so ricos em hidratos de carbono
de cadeia complexa. Os acares simples, para alm do acar do
comrcio (sacarose), incluem a frutose e a glicose, presentes nos
frutos e no mel, bem como a lactose (existente no leite).
Os hidratos de carbono de cadeia complexa, existentes princi-
palmente no po, farinhas, arroz e batata, so absorvidos mais lenta-
21
mente, pelo que so os mais aconselhveis para saciar a fome e forne-
cer energia de forma regular.
Pelo contrrio, os acares, e em especial a sacarose, ou acar
do comrcio, so rapidamente absorvidos, principalmente quando
consumidos isoladamente, provocando subidas bruscas do acar
no sangue, contribuindo para a acumulao de gordura no orga-
nismo e para a obesidade. Devem, portanto, ser usados com mode-
rao. Acresce que o consumo excessivo de acar est relacionado
com a crie dentria, exigindo uma boa higiene oral, aps o seu
consumo.
gua
A gua essencial para a vida dos seres vivos, sendo considerada
um verdadeiro nutrimento. parte integrante de quase todos os
alimentos, em quantidades extremamente variveis, excepo, por
exemplo, de azeites e leos alimentares.
A sua ausncia inviabilizaria a vida, na medida em que o cons-
tituinte mais importante do corpo humano. Note-se que possvel
viver mais de um ms sem comer, graas utilizao das reservas de
gordura do organismo, mas, sem beber gua, a morte acontece em
poucos dias. A gua o meio em que se realizam todos os fenme-
nos bioqumicos que permitem manter a vida, pelo que a desidrata-
o pode trazer graves consequncias.
No feto, a gua constitui mais de 90% do peso corporal, sendo
de 80% no recm-nascido e de cerca de 60% no indivduo adulto.
O teor de gua em ambos os sexos diminui com a idade.
O organismo perde gua continuamente. As necessidades de
gua dependem muito do nvel de transpirao e do tipo de alimen-
tao, j que a presena de sal pode aument-las. Vmitos, diarreias
e infeces com febre aumentam as perdas e, consequentemente, as
necessidades de gua.
22
As crianas e as pessoas idosas so particularmente sensveis
desidratao, pelo que devem beber gua em bastante quantidade,
em especial durante o tempo quente, ou sempre que apresentem
febre, vmitos ou diarreia.
Micronutrimentos
No grupo dos micronutrimentos incluem-se os sais minerais e as
vitaminas.
Os minerais encontram-se no organismo em quantidades
muito variadas, alguns em proporo elevada, como o sdio, o pots-
sio, o clcio, o fsforo, o magnsio e o ferro. Outros so necessrios
em quantidades muito pequenas, quase infinitesimais, e, por isso,
so chamados oligoelementos. As funes desempenhadas pelos
minerais so inmeras, por exemplo na constituio de tecidos,
como o sangue ou os ossos, na funo muscular e na elaborao de
hormonas e enzimas, etc.
De todos os sais minerais destacam-se pela sua importncia o
clcio, o ferro e o flor.
O clcio (Ca), o mineral mais abundante no corpo humano.
O seu papel mais importante o da participao na constituio do
tecido sseo e dentes, onde se encontra na sua maior parte. Intervem
tambm em diversas funes orgnicas, como sejam o funciona-
mento do corao, sistema nervoso e coagulao sangunea.
As necessidades so avaliadas em cerca de 800 mg/d para o
adulto e crianas com idade entre os um e os dez anos. Estas neces-
sidades so maiores na adolescncia, no estado de gravidez e durante
a amamentao (1200 mg/d).
Uma ingesto deficiente de clcio pode, nas crianas, ser respon-
svel por anomalias sseas, chegando mesmo a provocar raquitismo.
Nos adultos, pode conduzir osteoporose, sobretudo nas mulheres
aps a menopausa.
23
Os melhores fornecedores de clcio so os alimentos do grupo
do leite e seus derivados - queijo, iogurte e requeijo.
Alm dos produtos lcteos j referidos, tambm os frutos secos
e alguns hortcolas so bons fornecedores de clcio, mas, nestes lti-
mos, a absoro deste mineral pelo organismo muito inferior.
A prtica regular de exerccio fsico, ou simplesmente andar a p,
melhora a formao ssea.
As necessidades de clcio das crianas em idade pr-escolar
podem ser satisfeitas com aproximadamente 1/2 litro de leite ou deri-
vados por dia.
O ferro (Fe) indispensvel para um grande nmero de funes
vitais. Importante constituinte de enzimas, tambm fundamental
para o desenvolvimento fsico e intelectual, bem como para a capa-
cidade de defesa do organismo perante o risco de infeces. Participa
na formao da hemoglobina presente nos glbulos vermelhos e,
consequentemente, no transporte de oxignio e dixido de carbono
pelo sangue.
De notar que a vitamina C melhora o aproveitamento do ferro
e que o ferro de origem animal melhor absorvido do que o de
origem vegetal. A sua deficincia provoca apatia, fraqueza e irritabili-
dade. A sua ingesto excessiva, que muito rara, pode apresentar
elevada toxicidade.
Pode encontrar-se na carne, gema de ovo e pescado. As vsceras
de animais, mioleira e fgado, embora ricas em ferro, desaconselham-
-se pelo risco de transmisso de algumas doenas. As leguminosas, os
cereais, os frutos secos e gordos e as folhas verdes so tambm rela-
tivamente ricos em ferro.
O flor essencial para uma boa mineralizao dos dentes e dos
ossos. Encontra-se na gua e em diversos alimentos, embora nestes sob
uma forma pouco assimilvel. Sempre que as guas de abastecimento
so pobres em flor, como o caso do nosso pas, h necessidade de
24
fornecer um suplemento dirio, em especial durante a formao da
primeira e segunda denties, a fim de promover uma boa formao
dos dentes e ossos e evitar a crie dentria. A dosagem de flor a admi-
nistrar deve ser adequada idade da criana, conforme indicao de
um profissional de sade. A aco benfica do flor sobre os dentes,
complementada com uma baixa ingesto de acar (sacarose) e uma
boa higiene oral, com uso de uma pasta dentfrica com flor, contribui
para a promoo da sade oral e a preveno da crie dentria.
As vitaminas so substncias com uma enorme importncia a
nvel orgnico, embora sejam necessrias em quantidades muito
pequenas. As vitaminas viabilizam os processos de obteno e arma-
zenamento de energia, favorecem a actividade de muitos nutrimen-
tos e participam na constituio de muitas estruturas celulares.
Cada vitamina tem as suas funes especficas, no sendo, portan-
to, substituveis entre si. Podem ser classificadas em vitaminas, hidros-
solveis e lipossolveis, atendendo ao facto de as primeiras serem sol-
veis em gua e as segundas em gordura. As vitaminas lipossolveis
(vitaminas A; D; E; K) existem nos alimentos ricos em gorduras e as hi-
drossolveis nos alimentos ricos em gua. As vitaminas lipossolveis, ao
contrrio das hidrossolveis, so armazenveis no organismo, podendo
provocar intoxicaes relativamente graves, se ingeridas em excesso. Se-
guidamente so apresentadas algumas das vitaminas mais importantes.
Das vitaminas lipossolveis, a vitamina A (Retinol) indispen-
svel para a viso e a diferenciao das clulas. A sua carncia provoca
diminuio da acuidade visual e diminui a capacidade de viso no
escuro, podendo em casos limite atingir a cegueira nocturna. Se for
ingerida em grandes quantidades, como medicamento, pode ser
txica e at provocar a morte. Esta situao no se verifica, no
entanto, se a sua ingesto for apenas feita atravs dos alimentos.
A vitamina A encontra-se na nata do leite, gema de ovo, manteiga,
fgados de peixe e de outros animais jovens. Os carotenides, princi-
25
palmente o beta-caroteno, existentes nos alimentos vegetais, sobre-
tudo nos de cor laranja, podem transformar-se em vitamina A activa,
no corpo humano, na presena de vitamina D, pelo que estes alimen-
tos so tambm importantes para o aporte adequado desta vitamina.
A vitamina D um elemento essencial para a formao,
conservao e reconstruo de ossos e dentes, em conjugao com o
clcio, o fsforo e o flor. A sua carncia pode provocar raquitismo
na criana e descalcificao ssea no adulto e na pessoa idosa, assim
como dificuldades na recuperao de fracturas sseas.
Forma-se na sua maior parte na pele, atravs da aco dos raios
solares ultravioleta, pelo que importante apanhar diariamente um
pouco de sol - alguns minutos so suficientes - fora das horas de
maior calor.
Existe em leos de fgado de peixe e, em quantidades modestas,
em ovos, queijos e manteiga. No existe nos alimentos vegetais.
A vitamina E parece ter uma aco importante ao nvel das
clulas, contribuindo para a preveno de doenas cardiovasculares e
de algumas formas de cancro.
A carncia deste tipo de vitamina praticamente inexistente no
mbito de uma alimentao diversificada. Os alimentos mais ricos
em vitamina E so: hortalias, cereais completos, nozes, avels,
amndoas, leos alimentares, ovos e queijo.
vitamina K - a vitamina K necessria para o processo de
coagulao do sangue. produzida no organismo, no intestino,
sendo esta fonte habitualmente suficiente para satisfazer as necessi-
dades. Existe nas folhas verdes, frutos, legumes, no fgado e no ovo.
Vitaminas Hidrossolveis
A vitamina C desempenha um papel importante no trabalho
celular e de proteco das mucosas, alm de ser um potente anti-
oxidante, ou seja, protege as clulas de agresses provocadas por
26
determinadas substncias produzidas no organismo. As necessidades
mdias desta vitamina rondam os 80 mg/d e aumentam com a gravi-
dez, lactao, actividade fsica intensa, estados de doena e febre.
A carncia grave pode manifestar-se por uma doena chamada escor-
buto, hoje em dia rara, mas podem verificar-se carncias mais subtis,
com algumas manifestaes mais ligeiras, mas igualmente importan-
tes, como sejam: cansao, anorexia, hemorragias e m cicatrizao de
feridas. Em princpio no existem riscos ligados ao seu consumo
excessivo. So ricos em vitamina C produtos hortcolas, frutos, prin-
cipalmente citrinos, e batata. O armazenamento prolongado, a coze-
dura demorada e com muita gua e a oxidao, atravs da exposio
dos alimentos ao ar, podem destru-la.
A vitamina B1 (Tiamina) necessria para a utilizao, pelo orga-
nismo, dos hidratos de carbono. Os principais problemas associados
sua carncia so fraqueza muscular, problemas do sistema nervoso peri-
frico, anorexia, irritabilidade, perturbaes emocionais e digestivas.
A sua carncia mais frequente em consumidores de lcool e fuma-
dores. Os principais fornecedores desta vitamina so: leguminosas,
cereais completos, gema de ovo, fgado e carne de porco. Embora em
menores quantidades, existem tambm no leite e nas verduras.
A vitamina PP (Niacina) participa na obteno de energia a
partir, principalmente, dos hidratos de carbono. Sintomas mais
frequentemente associados sua carncia so a falta de foras, a falta
de apetite, vertigens, dores de cabea, alteraes digestivas, diarreias
e problemas de pele. Existe em imensos alimentos, excepo feita
para as gorduras. A sua presena mais importante em vsceras,
carne, pescado, leguminosas e cereais completos.
O cido flico muito importante para a formao dos ncleos
das clulas, para a multiplicao celular e para a formao de enzimas.
aconselhvel tomar cido flico, sob a forma de medicamento, nos
meses que precedem a gravidez, para prevenir problemas de desen-
27
volvimento do sistema nervoso central do beb. A sua carncia veri-
fica-se, com maior frequncia, em grvidas mal alimentadas e nos
consumidores excessivos de lcool, manifestando-se essencialmente
por transtornos digestivos, anemia e diarreias. Os melhores fornece-
dores naturais so a carne e as folhas verdes. Pode ser destrudo pelo
aquecimento prolongado dos alimentos.
As fibras alimentares
As fibras alimentares, tambm chamadas de complantix, caracteri-
zam-se por serem um conjunto de substncias existentes nos alimentos
de origem vegetal, que o organismo no consegue digerir e que,
portanto, no so absorvidas. Actuam no processo digestivo, contri-
buindo para um bom trnsito intestinal. A sua baixa ingesto est rela-
cionada com o aparecimento de certas doenas, como a obstipao (pri-
so de ventre), hemorridas, cancro do clon, obesidade, diabetes, etc..
O complantix integra trs tipos diferentes de substncias:
1. fibras propriamente ditas - celulose, hemicelulose e linhina;
2. substncias gelificveis - pectinas, gomas e mucilagens;
3. outras substncias indigerveis - cido ftico, slica, ceras, taninos, etc.
Efeitos positivos de uma alimentao rica em fibras alimentares:
- aumento do tempo de mastigao e melhor ensalivao;
- alargamento do perodo de digesto no estmago e intestino delgado;
- melhor esvaziamento biliar e captao de sais biliares;
- absoro mais lenta e gradual de glicose, aminocidos e cidos gordos;
- aprovisionamento mais eficaz de minerais;
- maior volume e fluidez das fezes;
- acelerao do trnsito intestinal e maior facilidade de defecao;
- promoo de uma flora bacteriana digestiva mais equilibrada.
28
As fibras alimentares encontram-se sobretudo na casca de
cereais e nos legumes, assim como nas verduras, hortalias e frutos.
As pectinas encontram-se em imensos frutos e a linhina constitui a
parte mais fibrosa o esqueleto vegetal de diferentes verduras e
hortalias. difcil estabelecer, com rigor, as necessidades exactas de
fibras alimentares. No entanto, desde que se cumpram as recomen-
daes da Roda dos Alimentos, as necessidades deste grupo de nutri-
mentos sero totalmente satisfeitas.
29
30
7. Os grupos de alimentos
De acordo com as prticas alimentares saudveis preconizadas, a
classificao dos alimentos feita por grupos. Em Portugal foram
estabelecidos seis, que se caracterizam sumariamente de seguida.
Este tipo de classificao visa facilitar o conhecimento do valor
alimentar dos diferentes alimentos, colocando no mesmo grupo
aqueles que apresentam entre si maiores afinidades em termos de
valor nutricional.
Cada grupo inclui, assim, alimentos com constituio relativa-
mente semelhante e que fornecem determinado tipo de nutrimen-
tos, com funes equivalentes em termos nutricionais.
Grupo I Leite e derivados proteicos
Neste grupo, so includos o leite e os seus derivados, nomea-
damente o iogurte, o queijo, o requeijo e a nata.
Em termos de composio e valor nutricional, o leite humano
capaz de assegurar de forma exclusiva, pelo menos at aos 6 meses
de idade, o suprimento de todas as necessidades alimentares da
criana. O leite materno o melhor alimento para o beb, durante
os primeiros seis meses de vida.
Os alimentos deste grupo apresentam algumas caractersticas
comuns:
- so fornecedores de protenas de elevado valor biolgico, de
baixo custo e perfeitamente equilibradas;
31
- so veculo de vitaminas lipossolveis (A,D,E,K), principal-
mente de vitamina A, e hidrossolveis, por exemplo a
Riboflavina (Vit. B2), que existe em maior quantidade nestes
produtos do que em qualquer outro;
- so uma excelente fonte de clcio que, alm de existir em gran-
des quantidades, se apresenta numa forma facilmente aproveit-
vel pelo organismo. Deste modo estes produtos so indubitavel-
mente o melhor fornecedor de clcio que a natureza coloca
disposio do homem;
- so fornecedores de lactose, o hidrato de carbono que apenas
existe no leite e derivados;
- tm um teor bastante varivel, mas, regra geral, no muito elevado,
de gorduras, facilmente digerveis por possurem uma quanti-
dade importante de cidos gordos monoinsaturados de dimenso
reduzida (cadeia curta). So pobres em cidos gordos polinsatu-
rados.
Em conjugao com outros fornecedores de protenas, o leite,
quando consumido nas quantidades indicadas para cada fase da
vida, contribui para satisfazer plenamente as necessidades protei-
cas do indivduo. Para tanto, basta que ao longo do dia se adicione,
a 1/2 litro de leite, cerca de 150 gramas de carne ou de peixe lim-
pos, ou 1 ovo e pouco mais de 100 gramas de carne ou de peixe
limpos.
O leite, devido sua qualidade alimentar e nutricional, contribui
de forma importante para o pleno desenvolvimento da criana e do
adolescente.
A dose diria de leite recomendada para as idades dos 3 aos 6
anos de aproximadamente 1/2 litro.
32
Os adultos devem ingerir tambm cerca de 1/2 litro de leite
por dia, enquanto que as grvidas, as lactantes, os adolescentes e
os idosos devem aumentar esta quantidade para cerca de 7,5 dl a
1 litro.
O leite pode ser substitudo por outros alimentos deste grupo.
1/2 litro de leite = 60 g de queijo = 4 iogurtes (pequenos).
Grupo II Carne, peixe, ovos e mariscos
Neste grupo, so includas todas as variedades de carne, enchi-
dos, produtos de salsicharia, todas as variedades de peixe e as suas
conservas, ovos e mariscos (moluscos e crustceos).
Algumas das caractersticas mais importantes dos alimentos
deste grupo so:
- elevado teor de protenas de alto valor biolgico;
- bons fornecedores de vitaminas do complexo B, incluindo a vita-
mina B12;
- fornecedores de alguns minerais, principalmente de ferro e
outros minerais.
A quantidade de gorduras destes alimentos muito varivel,
sendo tambm bastante diferente o tipo de cidos gordos que os
compem. A carne de vaca contm mais cidos gordos saturados do
que as carnes de porco, de aves ou de coelho, do que o peixe e do
que o ovo. A gordura dos peixe melhor do que a gordura da carne,
sendo de mais fcil digesto. O valor energtico dos referidos
alimentos depende no s da quantidade de protenas, mas, essen-
cialmente, da quantidade de gorduras, porque os hidratos de
carbono so praticamente inexistentes. O peixe congelado tem o
mesmo valor alimentar que o peixe fresco, desde que bem conge-
lado e conservado.
33
Para a criana em idade pr-escolar no existem inconvenientes no
consumo de diferentes tipos de carne. H, no entanto, que ter em aten-
o a origem, principalmente da carne de vaca, e, eventualmente,
consumi-la o mais raramente possvel. O consumo de vsceras de
vaca deve ser completamente banido, enquanto persistirem riscos
de doena para o homem decorrentes do seu consumo. Devem evitar-
-se os produtos de salsicharia e os enlatados por conterem muito sal,
gordura e certo tipo de aditivos.
O bacalhau seco um alimento extremamente rico em prote-
nas, bastando consumir cerca de metade da quantidade recomen-
dada para os restantes peixes.
O ovo um alimento deste grupo, que contm protenas de alto
valor biolgico, sendo portanto um bom alimento para as crianas
em idade pr-escolar. O ovo cru ou mal cozinhado pode transmitir
microrganismos como a salmonella e provocar intoxicaes alimen-
tares, pelo que deve ser sempre bem cozinhado.
A crianas dos 3 aos 6 anos devem comer entre 50 a 60 g de
carne e 70 a 80 g de peixe por dia.
Estas quantidades podem ser reduzidas se se introduzir o ovo na
alimentao, j que cada ovo corresponde a cerca de 35 g de carne
ou a 40 g de peixe. De referir que as crianas de idade pr-escolar
podem comer 2 a 3 ovos por semana.
Cerca de 100 g de carne = 120 g de peixe = 2 ovos.
Grupo III Gorduras
Este grupo de alimentos engloba as gorduras visveis, de origem
animal ou vegetal, consumidas como alimentos individualizados, de
34
que so exemplos o azeite, os leos alimentares, a manteiga, a
margarina e a banha.
Estes alimentos contm gordura entre 80% (manteiga e marga-
rina) e 100% (azeite, leos) e so:
- alimentos constitudos pelos nutrimentos mais energticos que a
natureza fornece, j que cada grama de gordura liberta 9 calorias;
- fornecedores de cidos gordos polinsaturados essenciais, que o
organismo humano no capaz de produzir;
- ricos em vitaminas lipossolveis, principalmente a manteiga que
um bom fornecedor de vitamina A, disponibilizando tambm
uma boa quantidade, embora mais reduzida, de vitamina D.
Utilizadas com parcimnia, facilitam a preparao de alimentos,
contribuindo para a sua confeco, consistncia, textura e condies
de sabor.
A criana em idade pr-escolar necessita de cerca de 25 g de
gordura por dia, indicando-se o azeite para cozinhar e temperar e a
manteiga para barrar o po.
Um pacote de manteiga de restaurante tem cerca de 12 a 15 g
de gordura. Uma colher de sopa de azeite tem igualmente cerca de
15 g de gordura.
Grupo IV Po, cereais, leguminosas secas,
acar, cacau, produtos de pastelaria
Neste grupo incluem-se produtos vegetais muito importantes,
pela sua riqueza em hidratos de carbono, pela quantidade e quali-
dade aceitveis das protenas que fornecem e pela sua capacidade de
fornecimento de vitaminas do complexo B, fibras alimentares e
minerais.
35
No contexto de uma alimentao saudvel, este grupo deve
constituir o principal fornecedor energtico, cabendo-lhe igualmente
a tarefa de saciar o apetite.
Os cereais e as leguminosas contm, em mdia, mais de 50% do
seu peso em hidratos de carbono, sendo tambm fonte de protenas
e de ferro, principalmente as leguminosas, e de fibras. Praticamente
no contm gorduras. So ricos em vitaminas do complexo B e
desprovidos de vitaminas C e A.
O po o alimento mais representativo deste grupo de
alimentos.
Na idade pr-escolar, aconselha-se o consumo dirio de 100
a 150 g de po escuro ou de mistura (aproximadamente trs
fatias).
O arroz tem um valor nutricional semelhante s massas, sendo
aconselhvel nesta idade uma dose diria de cerca de 30 a 50 g.
O feijo, as ervilhas e o gro so ricos em protenas de origem
vegetal e fibras alimentares, pelo que devem ser consumidos,
nomeadamente, na composio de sopas e purs ou ainda como
acompanhamento.
Deste grupo fazem ainda parte o acar, o mel, o cacau e
produtos de pastelaria, alimentos estes que devem ser consumi-
dos com extrema moderao porque: tm pouco valor nutricio-
nal, embora tenham elevado poder energtico; apresentam risco
para a sade dentria; contribuem para a obesidade e interferem
com o apetite, substituindo outros alimentos com muito
melhor valor alimentar.
Quando consumidos, aconselha-se a sua associao a outros
alimentos, como o leite ou os frutos (arroz doce, iogurte com frutos,
gelatinas de origem vegetal e bolos sem cremes).
36
So de evitar rebuados e caramelos, em especial no intervalo
das refeies. As sobremesas doces devem ser servidas ocasional-
mente e de preferncia no final das refeies. A seguir, a criana
dever ser ensinada a lavar os dentes.
Cerca de 100 g po = 75 g de arroz ou massa = 300 g de batata.
Grupo V Produtos hortcolas, legumes e frutos
Este grupo constitudo por uma grande variedade de vege-
tais, tais como folhas, razes ou tubrculos, frutos frescos e secos
de diferentes tipos. Tm a particularidade de serem pobres em
valor energtico e em protenas, excepo dos frutos secos. So
o principal fornecedor de vitamina C e de caroteno, de muitos
minerais, sendo tambm os mais importantes fornecedores de
fibras alimentares. As folhas verdes so tambm fonte de vitamina
B2 e de clcio. Os alimentos deste grupo so tambm grandes
fornecedores de gua.
Os alimentos deste grupo devem ser consumidos diaria-
mente, em maior proporo que os restantes alimentos. Para
tanto, h que ingeri-los em todas as refeies, sobretudo nas princi-
pais (pequeno-almoo, almoo e jantar) sob a forma de sopas, sala-
das ou acompanhamentos. A cor destes alimentos constitui tambm
um atractivo para a sua utilizao na alimentao das crianas em
idade pr-escolar.
Grupo VI Bebidas
Neste grupo so includos os alimentos lquidos, que contm
gua como componente predominante. A sua principal importncia
reside no facto de fornecerem ao organismo uma aprecivel quanti-
dade de gua a melhor bebida.
37
O lcool, que entra na composio das bebidas alcolicas, no
um verdadeiro nutrimento, sendo, por isso, dispensvel. Tem, no
entanto valor energtico cada grama de lcool fornece 7 calorias.
A gua no tem valor energtico enquanto que o valor das outras
bebidas depende da quantidade de hidratos de carbono ou de lcool
existentes na sua composio. A maioria destas bebidas pobre em
protenas, gorduras, vitaminas e minerais, embora, por exemplo, os
sumos naturais sejam excelentes fornecedores de vitaminas e minerais.
No so aconselhados os refrigerantes, por conterem muito
acar, por vezes gs e substncias estimulantes. Os sumos de fruta
naturais so uma excelente bebida, embora percam alguma fibra e
vitamina C durante a sua preparao, quando se comparam com os
frutos que lhe deram origem. Devem ser consumidos imediatamente
a seguir sua preparao para no perderem a sua riqueza em vita-
mina C. Sumos do tipo nctar (50% de sumo de fruto) e apenas
sumo (100%), constituem-se hoje, tambm, como opes aceitveis
em termos de bebidas. As bebidas alcolicas devem ser comple-
tamente banidas da alimentao da criana, bem como de
jovens menores de 17 anos, grvidas, lactantes e pessoas
debilitadas ou com problemas de alcoolismo.
7.1. A roda dos alimentos
A Roda dos Alimentos, concebida no mbito da campanha de
educao alimentar Saber Comer Saber Viver, tem as
seguintes caractersticas:
- Apresenta-se dividida em cinco grupos de alimentos. O grupo
das bebidas (Grupo VI) no foi representado. Em cada grupo
esto includos exemplos de alimentos com atributos nutricionais
relativamente semelhantes.
38
- Cada grupo de alimentos representado por uma fatia ou
seco de tamanho diferente, que reflecte o peso (proporo)
com que cada grupo deve contribuir para a alimentao diria.
Por exemplo o grupo das hortalias, legumes e frutos dever
contribuir com cerca de 43% (em peso) dos alimentos consumi-
dos diariamente, enquanto que o grupo do azeite, leos e outras
gorduras apenas dever contribuir com cerca de 3%.
A roda dos alimentos pretende ainda transmitir as seguintes
mensagens:
- comer diariamente alimentos de todos os grupos na
proporo em que se encontram representados;
- no falhar nem exagerar em nenhum deles;
- variar o mais possvel de alimentos dentro de cada grupo.
7.2. A alimentao mediterrnica
Na Grcia antiga atribua-se uma enorme importncia ao regime ou
diaitia, que se entendia como um determinado conjunto de regras do
corpo e da alma, que deveriam pautar a actividade do Homem.
A forma de comer tradicional da bacia mediterrnica foi como que
redescoberta, quando numerosos estudos de investigao comearam a
mostrar que este padro alimentar, caracterizado por ser rico em horta-
lias, legumes, frutos, peixe, azeite, e vinho em quantidades reduzidas,
preparados e cozinhados de forma simples, s e contida, mas sbia na
conjugao de sabores e aromas, est associado a uma menor incidn-
cia de doenas crnicas, em particular cancro e doenas do aparelho
circulatrio.
As principais razes dos benefcios deste padro alimentar pare-
cem resultar do consumo de peixe, em particular de peixe gordo, com
os seus cidos gordos poli-insaturados, e de azeite. Parecem existir
39
tambm neste padro alimentar substncias protectoras, em particu-
lar os chamados antioxidantes, que abundam nas hortalias, legumes
e produtos hortcolas, frutos e azeite.
A cozinha mediterrnica, simples e tradicional, variada e rica de
cor e sabor, permite harmonizar o prazer mesa com a promoo da
sade.
Apesar da enorme variedade de solos e clima, as razes da
alimentao mediterrnica encontram-se no nosso pas, de norte a
sul, tendo todos os nossos hbitos tradicionais de alimentao anco-
radouro comum nesta forma tradicional e saudvel de comer.
40
8. Necessidades Nutricionais da
Criana em Idade Pr-Escolar
J se viu anteriormente neste manual como seleccionar os alimentos
disponveis, em termos da sua riqueza alimentar e grupo a que
pertencem.
Quanto quantidade de alimentos que devem ser ingeridos
diariamente, depende fundamentalmente da idade, sexo e grau de
actividade fsica desenvolvida nas actividades da vida diria por cada
pessoa.
Existem alimentos que, como j vimos, devem ser consumidos
diariamente, a fim de fornecerem nutrimentos essenciais ao bom
funcionamento do organismo e que este no capaz de fabricar por
si prprio, a partir de outros nutrimentos.
Todos os grupos de alimentos contribuem com nutrimentos
essenciais. Estes incluem, como j referido, determinado tipo de
protenas, presentes principalmente no grupo da carne, peixe, ovos e
mariscos, chamadas aminocidos essenciais, determinado tipo de
gorduras, em especial o cido oleico e outros cidos gordos essen-
ciais, presentes no azeite e outras gorduras vegetais e os denomina-
dos micronutrimentos as vitaminas e os sais minerais.
Como em outras fases da vida, um padro alimentar equilibrado
e adequado s necessidades da criana em idade pr-escolar
compreender uma distribuio, em termos de aporte energtico, ou
seja calrico, de acordo com as regras da alimentao saudvel. Neste
sentido a alimentao da criana dever ser variada e integrar alimen-
tos que proporcionem os nutrimentos necessrios em proporo e
quantidade adequadas.
Seguidamente so indicadas as necessidades dirias em calorias
e nutrimentos, prprias do grupo das crianas em idade pr-escolar,
no quadro de uma alimentao saudvel.
Necessidades energticas
As necessidades de energia da criana dependem, como j
vimos, das necessidades impostas pelas funes do organismo
(manter a temperatura, respirar, movimentar-se), pelo crescimento e
tambm pelo dispndio de energia inerente actividade fsica que,
no perodo pr-escolar, pode ser muito intensa.
As necessidades mdias de energia variam entre 1300 calorias,
para as crianas de trs anos de idade, e 1700 calorias, para as crian-
as no final dos 6 anos.
Necessidades de macronutrimentos
No Quadro 1 apresentada a distribuio das necessidades por
tipo de nutrimento, tendo em considerao as necessidades calricas
dirias nesta faixa etria.
Tratam-se de valores indicativos de referncia, que evidente-
mente devero ser ajustados a cada criana, ao seu desenvolvimento
para a idade, em especial ao seu peso/altura e aos seus nveis de acti-
vidade fsica.
Considerou-se, para este clculo, que 60% do total calrico
dirio ser fornecido por hidratos de carbono, 27% por gorduras e
13% por protenas.
41
42
Quadro 1 - Necessidades nutricionais por tipo de nutrimentos
e necessidades calricas dirias crianas dos 3-6 anos (valores mdios)
Necessidades Hidratos
Gorduras Protenas
calricas de Carbono
1300 calorias 780 cal 351 cal 169 cal
gramas 195 g 139 g 42 g
1500 calorias 900 cal 405 cal 195 cal
gramas 225 g 45 g 49 g
1700 calorias 1140 cal 459 cal 221 cal
gramas 285 g 51 g 55 g
Necessidades de vitaminas e sais minerais
No que se refere s necessidades de micronutrimentos, ou seja
de vitaminas e sais minerais, estas podem ser supridas atravs da
ingesto de alimentos dos cinco grupos nas quantidades e propor-
es adequadas. A variedade na alimentao a melhor regra para
garantir que as necessidades de micronutrimentos so satisfeitas.
Necessidades de fibras alimentares
Como j vimos, embora as fibras alimentares, presentes nos
frutos e vegetais, no sejam absorvidas, so absolutamente necess-
rias para assegurar um bom funcionamento intestinal. Neste sentido,
a criana deve ser habituada a ingerir alimentos do grupo V em
proporo adequada. Para tanto, as duas principais refeies devem
comear com uma sopa de legumes e terminar com uma pea de
fruta. O prato principal deve tambm ser acompanhado com um
pouco de legumes, leguminosas ou salada. Mais uma vez se sublinha
a importncia da variedade na escolha de legumes, leguminosas,
hortalias e frutos.
9. Distribuio das refeies
O total de alimentos, ingeridos ao longo do dia, deve respeitar as
propores da roda dos alimentos, incluindo hortalias, legumes e
frutos, no esquecendo os alimentos do grupo do leite, os cereais e
derivados como o po, passando pelas leguminosas. O consumo de
carne deve ser moderado, sendo de retirar as gorduras visveis e de
preferir o peixe uma vez por dia. Reduzir o sal, as gorduras e o acar
na confeco e tempero dos alimentos. Usar gorduras com modera-
o, preferindo o azeite. E, finalmente, variar o mais possvel, dando
primazia aos produtos de cada estao do ano.
43
44
Os alimentos devem distribuir-se ao longo do dia, por 5 a 6
refeies dirias, a intervalos regulares.
O pequeno almoo uma refeio fundamental para a criana,
nunca devendo ser omitido. O leite, acompanhado de po ou
cereais, deve fazer parte desta refeio. A quantidade diria de leite
recomendada ronda o 1/2 litro, podendo ser gordo ou meio-gordo.
A meio da manh deve ser fornecida uma pequena refeio, a
fim de evitar que a criana fique mais do que 3 horas sem comer.
Meia carcaa ou papo-seco, duas ou trs bolachas sem creme ou uma
pea de fruta so suficientes.
As duas principais refeies devem comear com uma sopa de
legumes da poca. Os produtos hortcolas devem ser predominantes
nas sopas e no prato. Em conjugao com a fruta, devem ser consu-
midos diariamente. Po de mistura e cereais escuros podem ser
fornecidos vontade. Carne e peixe no precisam de ultrapassar os
50 g limpos a cada uma das duas principais refeies, os ovos podem
chegar aos 3 por semana. Sal e acar, o mnimo possvel. gua e
sumos naturais so as bebidas mais adequadas. A sobremesa deve ser
constituda por fruta. Em dias especiais pode ser fornecida uma
sobremesa doce.
A meio da tarde deve ser fornecida uma merenda, em que o leite
ou derivados e o po no devem faltar.
O jantar ser semelhante ao almoo, devendo comear tambm
com uma sopa de legumes e terminar com uma pea de fruta.
Antes de ir para a cama, algumas crianas gostam de beber um
copo de leite.
A seguir s principais refeies e antes de ir para a cama a criana
deve ser ensinada a lavar os dentes e a utilizar uma pasta dentfrica, a
partir da altura em que j consegue bochechar e no engole o produto.
Distribuindo as necessidades calricas prprias deste grupo
etrio, que como j referido variam entre as 1300 e as 1700 calorias,
45
pelas vrias refeies ao longo do dia, obtm-se os valores que cons-
tam do Quadro 2.
Quadro 2 - Distribuio calrica aconselhvel por cinco refeies dirias
Necessidades calricas 1300 1500 1700
Pequeno-almoo - 15% 195 225 225
Meio da Manh - 5% 65 75 85
Almoo - 35% 455 525 595
Merenda - 15% 195 225 255
Jantar - 30% 390 450 510
Ementas de jardins de infncia, onde predominam dias de
batatas fritas, salsichas, fiambre, produtos enlatados, frequncia
excessiva de doces e pratos montonos e repetitivos, so abso-
lutamente desaconselhadas, pelo que se deve fazer algo para
mudar.
Estes estabelecimentos, se bem orientados em termos de
aprovisionamento, ementas e mtodos culinrios, podem consti-
tuir uma excelente oportunidade de contactar com diferentes esti-
los e mtodos culinrios, com uma grande panplia de sabores e
aromas e com alimentos variados, constituindo-se, assim, como
um estmulo para o enraizamento de hbitos alimentares saudveis
e para a no rejeio de alimentos.
Acresce referir que uma alimentao saudvel no necessa-
riamente cara, na medida em que possvel dispor de uma grande
gama de alimentos, aproveitando-os e complementando-os entre
si, por forma a enriquecer o seu valor alimentar.
Assim, a seleco da alimentao a fornecer s crianas que
frequentam jardins de infncia deve ter em considerao princpios
de alimentao saudvel, respondendo s necessidades energticas
e de funcionamento orgnico das crianas, e servir como oportuni-
dade de aprendizagem de uma alimentao saudvel.
As ementas includas neste manual foram elaboradas tendo em
considerao que a criana recebe, habitualmente, duas a trs refei-
es no jardim de infncia, nomeadamente uma pequena refeio a
meio da manh, o almoo e a merenda.
Teve-se ainda em considerao que muitas crianas, que
frequentam jardins de infncia, so provenientes de famlias de fraco
rendimento econmico, pelo que as ementas apresentadas preten-
dem cobrir cerca de 50 a 60% das necessidades calricas dirias.
Incluiu-se, igualmente, uma pequena refeio a meio da manh,
destinada, em particular, s crianas que tomam o pequeno-almoo
mais cedo ou que apresentem maiores carncias nutricionais.
Outro dos pressupostos para a elaborao das ementas, aqui
apresentadas, foram as necessidades calricas totais nestas idades e as
necessidades em macro e micronutrimentos.
Evidentemente que as crianas que sofram de determina-
das doenas crnicas, de obesidade, de atraso de crescimento ou
de outros problemas de sade devero ser acompanhadas pelo
mdico, nutricionista ou outro profissional de sade, no sen-
tido de adoptarem uma alimentao adequada sua situao.
No clculo das ementas no foram quantificadas as necessidades
de vitaminas e sais minerais, que sero naturalmente satisfeitas, caso
o padro alimentar seja saudvel, a alimentao variada, incluindo
alimentos de todos os grupos da Roda dos Alimentos.
tambm importante sublinhar a necessidade de adaptar e
complementar a alimentao que se realiza no jardim de infncia,
com a alimentao no seio familiar, bem como com o grau de desen-
volvimento estaturo-ponderal e psico-afectivo e com os hbitos de
actividade fsica. Estes aspectos devero ser analisados e discutidos
por educadores de infncia, pais, profissionais de sade e outros
46
47
intervenientes, de forma a fomentar uma educao alimentar que
promova o bem-estar das crianas e das suas famlias, contri-
buindo para a manuteno da cultura e da tradio alimentar
portuguesa e dos pases da bacia mediterrnica.
Sugestes de ementas
So propostas seguidamente, como exemplo, vrias receitas e emen-
tas preparadas para o grupo etrio dos trs aos seis anos de idade.
O valor calrico de cada uma delas ronda as 1500 calorias, por dia.
Para as crianas mais pequenas deve reduzir-se um pouco, de forma
global, de maneira a no perder a proporcionalidade e o equilbrio
entre os diferentes grupos de nutrimentos; para as mais velhas deve
aumentar-se a quantidade de alimentos fornecedores de macronu-
trimentos tambm de forma proporcional.
Estas ementas pressupem a realizao de cinco refeies, trs
das quais so, em princpio, realizadas no jardim de infncia.
Assim, aconselha-se uma pequena refeio a meio da manh, em
particular para as crianas que tomam o pequeno-almoo mais
cedo, ou aquelas que tomam um pequeno almoo insuficiente
e/ou desequilibrado.
Tanto o almoo no jardim de infncia, quanto o jantar habi-
tualmente consumido em casa e em famlia devem invariavel-
mente iniciar-se por uma sopa de legumes diversos, preferencial-
mente da poca. A sobremesa deve ser habitualmente uma pea
de fruta e ocasionalmente um doce.
As quantidades indicadas correspondem ao que dever
ser servido em termos mdios a cada criana.
48
EMENTA N.
O
1 Segunda-feira
Primeiro Almoo
8:00 h
1 po escuro e de mistura com manteiga, queijo ou compota
+ 1 copo de leite meio-gordo ou 1 chvena de leite meio-gordo
com 3 ou 4 colheres de sopa de cereais com fibras.
Nota: No juntar acar.
Meio-Manh
10:30 h
1/2 carcaa de po escuro ou de mistura com manteiga
ou queijo ou compota.
Almoo
12:30 h
Sopa de legumes
(por criana: batata 15 g, cenoura 20 g,
cebola 15 g, alho francs 20 g, nabo 20 g,
ervilhas 15 g, couves 20 g, 15 ml azeite...)
Prato: lombo de porco assado: 60 gramas de carne limpa + 200 g
batata + salada ou legumes
1 pea de fruta.
Merenda
16:00 h
1 copo de leite meio-gordo + 1 carcaa de po escuro e de mistura
com queijo.
Refeio Protenas (g) Gorduras (g) Hidratos de Carbono (g) Calorias
Primeiro-Almoo
Leite: 200 ml 6,0 4,0 8,4 94
1 po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Manteiga: 5 g - 4,0 - 36
Subtotal 9,0 8,1 33,4 243
Meio-Manh
1/2 Po 1,5 - 12,5 56
Manteiga: 2,5 g - 2,0 - 18
Subtotal 1,5 2,0 12,5 74
Almoo
Sopa Legumes 1,5 2,5 20,0 109
Carne limpa: 60 g 11,0 7,0 - 107
Batata: 200 g 5,0 - 37,0 168
Molho - 2,0 - 18
Salada 0,4 0,5 1,0 10
Fruta: 150 g 0,5 0,5 3,0 59
Subtotal 18,4 12,5 71,0 470
Merenda
Leite: 2,5 dl 7,5 5,0 10,5 117
Po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Queijo: 15 g 4,0 3,5 0,0 49
Subtotal 14,5 8,6 37,5 278
TOTAL 43,4 31,2 152,4 1065
Jantar (em casa) 12 11 73 440
(desvio aceitvel) (10 a 12) (10 a 12) (70 a 75) (400-450)
Total desejvel 50-60 40-45 200-250 1400-1600
50
EMENTA N.
O
2 Tera-feira
Primeiro Almoo
8:00 h
1 carcaa de po escuro e de mistura com manteiga, queijo
ou compota + 1 copo de leite meio-gordo ou 1 chvena de leite
com 3 ou 4 colheres de sopa de cereais com fibras.
Nota: no juntar acar
Meio-Manh
10:30 h
1/2 copo de leite + 2 biscoitos caseiros, de preferncia
preparados com azeite ou 2 a 3 bolachas Maria ou Torrada.
Almoo
12:30 h
Sopa de legumes
(por criana: batata 15 g, cenoura 20 g,
cebola 10 g, alho francs 20 g, nabo 10 g,
feijo verde 20 g, couves 15 g, 15 ml azeite...)
Prato: caldeirada de peixe: 75 gramas de peixe limpo, sem espinhas
+ 20 g pimentos + 20 g de tomate + 20 g de cebola + 100 g batata
1 pea de fruta
Merenda
16:00 h
1 iogurte + 1 carcaa de po escuro e de mistura com manteiga.
Refeio Protenas (g) Gorduras (g) Hidratos de Carbono (g) Calorias
Primeiro-Almoo
Leite: 200 ml 6,0 4,0 8,4 94
1 po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Manteiga: 5 g - 4,0 - 36
Subtotal 9,0 8,1 33,4 243
Meio-Manh
Leite: 100 ml 3,0 2,0 4,2 40
2 biscoitos caseiros
ou 2/3 bolachas maria
ou torradas 0,5 0,8 8,0 41
Subtotal 3,5 2,8 24 81
Almoo
Sopa de Legumes 1,5 2,5 15 88,5
Batata: 100 g 2,5 - 16,5 84
Pimentos: 20 g 0,5 - 0,6 4
Tomate: 20 g - - 1 4
Cebola: 20 g - - 1 4
Azeite: 2 g - 2,0 - 18
Peixe: 75 g 11,0 4,0 - 80
Fruta: 150 g 0,5 0,5 13,0 59
Subtotal 16,5 9,0 50,6 342
Merenda
Iogurte: 125 ml 4,0 2,0 16,0 98
Po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Manteiga: 5 g - 4,0 - 36
Subtotal 7,0 6,0 41,0 247
TOTAL 36,0 25,9 159 913
Jantar (em casa) 15 16 56 430
(desvio aceitvel) (14 a 15) (14 a 16) (55 a 57) (420 a 450)
Total desejvel 50-60 40-45 200-250 1400-1600
52
EMENTA N.
O
3 Quarta-feira
Primeiro Almoo
8:00 h
1 po escuro e de mistura com manteiga
+ 1 copo de leite meio-gordo ou 1 chvena de leite
com 3 ou 4 colheres de sopa de cereais com fibras.
Nota: no juntar acar
Meio-Manh
10:30 h
1 iogurte.
Almoo
12:30 h
Sopa Juliana
(por criana: batata 20 g, cenoura 40 g, cebola 15 g,
nabo 15 g, couves 50 g, 15 ml azeite...)
Prato: bacalhau cozido e desfiado com ovo
+ gro de bico + saladas ou legumes
1 pea de fruta
Merenda
16:00 h
1 iogurte meio-gordo bebvel + 1 po escuro e de mistura
com marmelada ou compota.
Refeio Protenas (g) Gorduras (g) Hidratos de Carbono (g) Calorias
Primeiro-Almoo
Leite: 200 ml 6,0 4,0 8,5 94
Po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Manteiga: 5 g - 4,0 - 36
Subtotal 9,0 8,1 33,5 243
Meio-Manh
Iogurte (125 ml) 4,0 2,0 16,0 98
Subtotal 4,0 2,0 16,0 98
Almoo
Sopa Juliana 1,5 2,5 15,0 89
Gro: 50 g 9,5 - 27,0 146
Azeite - 6,0 - 54
Ovo (1/2) 3,0 3,0 - 39
Bacalhau (50 g) 19,0 0,5 - 81
Salada - 1,0 1,0 13
Fruta: 150 g - - 13,0 59
Subtotal 33,0 13,0 56,0 481
Merenda
Iogurte: 100 dl 3,0 2,0 4,0 47
Po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Doce - - 5,0 20
Subtotal 6,0 2,1 34,0 180
TOTAL 52,0 25,2 154,0 1108
Jantar (em casa) 8 14 71 440
(desvio aceitvel) (8 a 10) (12 a 15) (68 a 72) (400 a 450)
Total desejvel 50-60 40-45 200-250 1400-1600
54
EMENTA N.
O
4 Quinta-feira
Primeiro Almoo
8:00 h
1 fatia de po escuro e de mistura com manteiga + 1 copo de leite
meio-gordo ou 1 chvena de leite meio-gordo com 3 ou 4 colheres
de sopa de cereais com fibras.
Nota: no juntar acar
Meio-Manh
10:30 h
1/2 carcaa escura e de mistura + 1 fatia de queijo
Almoo
12:30 h
Sopa de legumes
(por criana: feijo vermelho 20 g, cenoura 30 g, nabo 20 g,
couves 50 g, 15 ml azeite...)
Prato: coelho ou frango estufado com ervilhas: 60 g de carne
+ 80 g de ervilhas + 20 g de cenoura + 30 g de arroz
+ 20 g de chourio de carne
1 pea de fruta
Merenda
16:00 h
1 chvena de leite meio-gordo + 1 po escuro e de mistura
com compota de frutos.
Refeio Protenas (g) Gorduras (g) Hidratos de Carbono (g) Calorias
Pequeno-Almoo
Leite: 200 ml 6,0 4,0 8,4 94
1 po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Manteiga: 5 g - 4,0 - 36
Subtotal 9,0 8,1 33,4 243
Meio-Manh
1/2 Po 1,5 - 12,5 56
Queijo (fatia 15 g) 2,0 2,0 - 26
Subtotal 3,5 2,0 12,5 82
Almoo
Sopa de legumes 1,5 2,5 15,0 88,5
Ervilhas: 80 g 5,0 - 9,0 56
Coelho: 60 g 13,8 0,5 - 61
Azeite 3,0 - - 27
Cenouras: 20 g - - 1,0 4
Arroz: 30 g 2,0 - 24 104
Chourio carne: 20 g 3,0 10,0 - 22
Fruta: 1 pea 0,5 0,5 13,0 59
Subtotal 25,8 16,5 62 395
Merenda
Leite: 2,5 dl 7,5 5,0 10,5 117
Po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Doce fruta - - 5,0 20
Subtotal 10,5 5,1 40,5 250
TOTAL 48,8 21,7 151,5 1013
Jantar (em casa) 13 19 74 515
(desvio aceitvel) (12-14) (17-20) (72 a 75) (500-525)
Total desejvel 50-60 40-45 200-250 1400-1600
EMENTA N.
O
5 Sexta-feira
Primeiro Almoo
8:00 h
1 po escuro e de mistura com manteiga
+ 1 chvena de leite meio-gordo ou 1 chvena de leite
com 3 ou 4 colheres de sopa de cereais com fibras.
Nota: no juntar acar
Meio-Manh
10:30 h
1/2 po com manteiga ou com requeijo (pasteurizado).
Almoo
12:30 h
Creme de cenoura
(por criana: batata 20 g, cenoura 80 g,
cebola 15 g, 15 ml azeite...)
Prato: perna de per assado + pur de batata
ou arroz de ervilhas 200 g + 100 g de brcolos + 5 g de azeite
1 pea de fruta
Merenda
16:00 h
1 chvena de leite + 1 po escuro e de mistura com manteiga ou
com doce ou queijo.
56
Refeio Protenas (g) Gorduras (g) Hidratos de Carbono (g) Calorias
Primeiro-Almoo
Leite: 200 ml 6,0 4,0 8,4 94
1 po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Manteiga: 5 g - 4,0 - 36
Subtotal 9,0 8,1 33,4 243
Meio-Manh
1/2 Po 1,5 - 12,5 56
Manteiga: 2,5 g - 2,0 - 18
Subtotal 1,5 2,0 12,5 74
Almoo
Creme de cenoura 1,5 2,5 15,0 89
Peru: 60 g 14,0 1,4 - 69
Batata: 200 g 5,0 - 37,0 168
Azeite: 5 g - 5,0 - 45
Brculos (100 g) - - - -
Fruta: 150 g 0,5 0,5 13,0 60
Subtotal 21,0 9,4 65,0 431
Merenda
Leite: 2,5 dl 7,5 5,0 10,5 117
Po: 45 g 3,0 0,1 25,0 113
Doce fruta: 5 g - - 5,0 20
Subtotal 10,5 5,1 40,5 250
TOTAL 42,0 24,6 151,4 998
Jantar (em casa) 13 19 74 515
(desvio aceitvel) (12 a 14) (17 a 20) (70 a 75) (500 a 530)
Total desejvel 50-60 40-45 200-250 1400-1600
58
10. Confeco Saudvel
dos Alimentos
As boas tcnicas de cozinha permitem transformar alimentos naturais
difceis de digerir, ou que no se podem comer crus, em produtos
comestveis e de fcil digesto; facilitam a absoro de nutrimentos;
eliminam microrganismos e outros elementos indesejveis; podem
ajudar a anular substncias que reduzem o valor alimentar de certos
nutrimentos; melhoram a textura e os sabores e conferem aromas e
aparncia nicos aos alimentos. A alimentao do dia-a-dia deve ser
atractiva, saborosa e nutritiva.
Para uma boa alimentao h que comear por escolher alimen-
tos de boa qualidade e em bom estado de conservao. Depois, h
que ter em considerao alguns aspectos durante a sua confeco, no
sentido de se aproveitar da melhor forma o seu valor alimentar e de
se evitarem fontes de contaminao ou de transmisso de doenas.
Apresentam-se a seguir algumas regras para uma confeco
saudvel dos alimentos:
- Os tipos de cozinhados mais indicados so os cozidos e os estufa-
dos. Os fritos, os refogados e os assados devem consumir-se
menos vezes. Nunca se devem comer as partes carbonizadas dos
grelhados ou assados, por conterem substncias que podem
provocar o cancro.
- Para um refogado mais saudvel no se deve fritar a cebola com
a gordura. Deve antes ser aquecida, desde o incio, com um
pouco de gua, gordura e calda de tomate, em fogo lento, ou
juntando todos os alimentos em cru.
- Sempre que possvel devem aproveitar-se as guas de cozedura
de legumes para a confeco de sopas, molhos ou purs.
- Devem retirar-se todas as peles e gorduras visveis de aves e da
carne.
- As gorduras nunca devem ser excessivamente aquecidas, porque
se alteram e produzem substncias prejudiciais, que podem
provocar o cancro. Assim devem utilizar-se de forma adequada,
ou seja, algumas s servem para ser consumidas em cru, como
tempero, outras podem ser utilizadas para cozinhar.
- As gorduras mais adequadas para a confeco culinria, ou seja,
para cozinhar ou fritar, so o azeite ou o leo de amendoim.
A banha de porco uma alternativa aceitvel.
- Os leos ricos em cidos gordos polinsaturados s devem ser
consumidos em cru (so exemplos os leos de soja, milho e
girassol).
Quadro 3 - Utilizao das gorduras alimentares na confeco culinria
Gordura
Temperatura Mxima
Tipo de confeco
de aquecimento
Azeite 200 Em cru e
Banha, toucinho 210 fritar,
leo de amendoim 180 assar,
Vegetalina 180 grelhar, estufar
leo de soja, de milho, S utilizar em cru,
de girassol ou misturas 160 em temperos.
(leo alimentar) No serve para fritar
Margarinas 140 Em cru, ou aquecimento
ligeiro, pastelaria
Manteiga 120 Em cru, ou aquecimento
ligeiro, pastelaria
59
- Como regra nunca se deve utilizar um leo para fritar mais do
que uma ou duas vezes. No entanto, sempre que fique escuro
ou queimado, mesmo que seja na primeira utilizao, deve ser
rejeitado.
- O sal deve ser usado com muita moderao. Usar como alter-
nativa ervas aromticas.
- So tambm de evitar os enlatados e os caldos concentrados, por
conterem habitualmente excesso de sal, gorduras e certo tipo de
aditivos.
60
11 . Regras de higiene na
preparao de alimentos
Durante a preparao dos alimentos para serem consumidos,
durante a sua confeco, ou durante o seu armazenamento,
necessrio garantir determinados princpios de higiene, a fim de se
eliminarem quaisquer riscos de transmisso de infeces ou outras
doenas de transmisso alimentar. Estes princpios, ou regras,
dizem respeito higiene pessoal das pessoas que manipulam direc-
tamente os alimentos, forma como so manipulados, servidos ou
conservados e higiene das cozinhas e instalaes onde vo ser
servidos ou conservados.
Normas bsicas de higiene pessoal
do manipulador de alimentos
Todo o pessoal que trabalha com gneros alimentares deve
respeitar um nvel elevado de higiene e apresentar-se com farda-
mento prprio e adequado.
Quando se inicia na profisso, e de forma peridica, esperado
que o manipulador de alimentos realize um exame mdico para
avaliao do seu estado de sade.
Nenhum indivduo que se saiba ou suponha estar infectado
com doena transmissvel atravs dos alimentos, ou sofrendo de
ferida ou leses da pele ou de diarreia, deve ser autorizado a traba-
lhar em zonas de manipulao e confeco de alimentos. Nestas
situaes dever-se- consultar o mdico, que indicar as medidas
preventivas, ou de tratamento, a adoptar.
61
Aos manipuladores de alimentos deve ser assegurada uma
formao contnua e actualizada sobre regras de alimentao saud-
vel e higiene alimentar.
Quando se inicia o trabalho, o pessoal deve passar pelo vestirio
e fardar-se devidamente. No caso do pessoal de cozinha, o cabelo deve
ser envolvido com touca ou chapu. Nos locais de manipulao
directa, pode ser aconselhvel o uso de mscara buco-nasal e de luvas.
De forma geral, roupas claras e impecavelmente limpas so
sinal de boa higiene. Aconselha-se ainda a utilizao de calado anti-
derrapante.
A lavagem das mos com sabo indispensvel, sempre
que se inicia ou re-inicia o trabalho, depois da utilizao dos sani-
trios e, de um modo geral, aps toda a operao susceptvel de as
contaminar (cortar legumes, eviscerar animais, etc.).
importante dispor de lavatrio entrada dos sanitrios e nas
proximidades dos locais onde se manipulam alimentos.
Deve ser estritamente proibido fumar no interior das cozinhas e
interdita a presena de animais domsticos.
Normas de higiene pessoal do manipulador de alimentos
- Usar vesturio prprio, de cores claras, exclusivo do trabalho na
cozinha.
- Manter as unhas limpas, cortadas e sem verniz. No utilizar
anis, jias, outros adornos ou at mesmo o relgio, em certas
situaes.
- No introduzir dedos no nariz, boca, cabelo, ouvidos, olhos,
lavando as mos caso isso acontea.
- Manter as mos irrepreensivelmente limpas, lavando-as sempre
antes de iniciar o trabalho, depois de utilizar os sanitrios,
depois de se assoar, ou sempre que se mude de tipo de
alimento a preparar.
62
- Na lavagem das mos utilizar gua corrente, sabo lquido,
devendo a limpeza ser preferencialmente com toalhas de
papel.
- No tossir ou espirrar prximo dos alimentos, bem como no
cuspir ou expectorar nas instalaes.
- Usar luvas ou proteco adequada sempre que se tenham feridas
ou infeces da pele.
- No fumar durante a manipulao dos alimentos e dentro das
instalaes ligadas sua preparao.
- Na presena de sintomas como febre, diarreia e vmitos, no
manipular alimentos, principalmente se vo ser servidos directa-
mente, e procurar o mdico.
Normas bsicas de higiene na manipulao dos alimentos
-Lavar e desinfectar todos os produtos hortcolas e legumes para
consumo em cru. A desinfeco pode ser feita mergu-
lhando estes alimentos, depois de bem lavados, numa
soluo de meia chvena de lixvia em 10 litros de gua,
deixando actuar durante 15 a 20 minutos, ou dez gotas de
lixvia em um litro de gua, deixando actuar durante
trinta minutos. Voltar a passar bem estes alimentos por
gua corrente.
-Os agries podem alojar pequenos microrganismos produtores de
doenas, resistentes a esta desinfeco. Assim, os agries s devem
ser consumidos cozidos na sopa, no devendo ser utilizados em
saladas.
-No juntar alimentos crus com alimentos j confeccionados e
no juntar alimentos de origem vegetal com alimentos de
origem animal, durante e aps a fase de preparao a fim de
evitar contaminaes.
63
-Deve-se ter uma particular ateno com pastas, massas para
pasteis, cremes, maionaises ou outros molhos em cuja confec-
o sejam utilizados ovos. No caso de no serem imediatamente
consumidos, devem ser imediatamente refrigerados, nunca
devendo ser deixados temperatura ambiente, pelo risco de
multiplicao de salmonelas, frequentemente existentes nos
ovos.
-Os alimentos devem ser servidos logo aps a sua preparao,
nunca devendo ser deixados temperatura ambiente, em espe-
cial durante o tempo quente. No caso de no serem imediata-
mente servidos, devem ser mantidos abaixo dos 10c ou acima
dos 60c, ou ento congelados, a fim de se evitar a multiplicao
de microrganismos causadores de doena.
-Nunca se devem conservar alimentos cozinhados junto de
alimentos crus, para evitar riscos de contaminao.
-Quando se cozinha uma pea de carne tem que se garantir que
toda a pea, no seu interior, atinge uma temperatura de pelo
menos 80
o
, durante pelo menos 10 minutos, a fim de ficar
bem passada e livre de eventuais parasitas ou microrganis-
mos.
-Quando se reaquece um alimento deve garantir-se um aqueci-
mento adequado, por forma a destruir eventuais microrganis-
mos que se tenham entretanto produzido.
-Nunca se devem descongelar e voltar a congelar os alimentos.
-Devem respeitar-se os prazos de validade e as condies
adequadas de conservao dos diferentes alimentos. As latas de
conserva, mesmo dentro do prazo de validade, que tenham a
tampa abaulada, ou que libertem gs no momento de serem
abertas, no devem ser consumidas, pelo risco de botulismo -
uma doena grave e por vezes mortal.
64
Higiene das instalaes e dos equipamentos de cozinha
As instalaes destinadas preparao, consumo e armazena-
gem de alimentos devem estar limpas e livres de roedores, insectos e
animais domsticos. Tambm loias e outros utenslios utilizados na
preparao de alimentos devem estar adequadamente limpos. Uma
particular ateno deve ser dada s mquinas de picar carne que,
aps a sua utilizao, devem ser desmontadas e bem lavadas.
Tambm as fritadeiras devem ser bem lavadas, sempre que se mudar
o leo, a fim de se eliminarem os resduos da utilizao anterior.
Todas as loias com bordos partidos, ou com fendas, devem ser
eliminadas por poderem transmitir doenas ou provocar cortes.
As tbuas para cortar alimentos no devero ser de madeira,
porque esta pode alojar microrganismos, mas de material plstico
prprio para alimentos.
Deve evitar-se a utilizao de loia de barro vidrado, por poder
transmitir chumbo aos alimentos. Seguem-se outras regras simples,
mas essenciais para garantir uma adequada segurana alimentar.
- Nunca usar as mesmas facas ou utenslios para cortar alimen-
tos no cozinhados ou no lavados em alimentos j cozinhados
ou preparados para consumo directo, pelo risco de contamina-
o.
- Quando se provam alimentos com uma colher, esta deve ser
imediatamente lavada.
- Pegar nos talheres sempre pelos cabos.
- Nunca colocar dedos nos bordos ou interior de copos, taas ou
pratos.
- Nunca soprar para os copos de forma a facilitar o seu polimento;
usar antes toalhas descartveis.
- No caso do empratamento ser manual, usar luvas descartveis; caso
contrrio, execut-lo sempre com um utenslio limpo e adequado.
65
- Manter todos os recipientes convenientemente tapados.
- Manter as superfcies de trabalho adequadamente limpas. Nos
intervalos do trabalho no deixar superfcies e utenslios sujos.
- De preferncia, dever existir um frigorfico para alimentos j
cozinhados ou lavados, preparados para consumo directo e
outro para alimentos crus, ainda no preparados. Se no for
possvel, os alimentos cozinhados, ou j lavados e preparados,
devem arrumar-se nas prateleiras acima dos alimentos crus,
ainda no preparados, a fim de se evitar a conspurcao dos
primeiros.
- Em termos de armazenamento, no deve existir contacto entre
alimentos de origem vegetal e alimentos de origem animal, pelo
risco de conspurcao e contaminao.
- Manter o balde do lixo tapado.
- Devem eliminar-se ratos e insectos das cozinhas e zonas de
preparao, consumo e armazenamento de alimentos.
- No deve ser permitida a presena de animais domsticos nas
zonas onde se preparam, armazenam ou consomem alimentos.
66
Bibliografia
Almeida MDV, Afonso CIP. Princpios Bsicos de Alimentao e Nutrio. Lisboa:
Universidade Aberta, 1997.
Arajo M. Segurana Alimentar: Os perigos para a sade atravs dos alimentos. Lisboa:
Meribrica/Liber Editores, Lda., 1997.
Bender AE. Dicionrio de Nutrio e Tecnologia dos Alimentos. So Paulo: Livraria Roca.
Centro de Estudos de Nutrio. Alimentao Racional e Nutrio. 3 ed. Lisboa:
Instituto Nacional de Sade, 1987.
Centro de Estudos de Nutrio. Ementas Escolares. Lisboa: INSA, 1991.
Conselho Nacional de Alimentao e Nutrio (CNAN), Comisso de Educao
Alimentar. Recomendaes para a educao alimentar da populao portuguesa. Lisboa:
Conselho Nacional de Alimentao e Nutrio, 1997
Cervera P, Clapes J, Rigolfas R. Alimentacin y Dietoterapia. Madrid: Interamericana-
-McGraw-Hill, 1994.
Dupin H, Cuq JL, Malewiak MI, Leynaud-Rouaud, Berthier AM. Alimentation et
Nutrition Humaines. Paris : ESF ditions,1992.
Ferreira, FAG. Tabela da Composio dos Alimentos Portugueses. Lisboa: INSA, 1997.
Ferreira G. Nutrio Humana. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1983.
Jacob M. Safe Food Handling: A training guide for managers of food service establis-
hments. Geneva: World Health Organization, 1989.
Jacotot B, Le Parco JC. Nutrition et Alimentation. Paris: Masson, 1992.
Leyral G, Vierling E. Microbiologie et Toxicologie des Aliments Hygine et Securit
Alimentaires. Vlizy: Doin diteurs, 1997.
Loureiro IA. Importncia da educao alimentar na escola. In L.B. Sardinha, MG Matos
e I. Loureiro (Eds). Promoo da Sade: modelos e prticas de interveno nos mbitos
da actividade fisica, nutrio e tabagismo, pp. 57-84. Lisboa: FMH, 1999.
Loureiro I, Miranda N. Manual de Educao para a Sade em Alimentao. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, 1993.
Organizacin Panamericana de la Salud. Conocimientos actuales sobre nutricin.
Publication cientfica n 152, 6 ed, Washington DC: ILSI, 1991.
Peres E. Saber comer para melhor viver. Verso actualizada de Alimentao Saudvel.
Lisboa: Caminho, Biblioteca da Sade, 1994.
Santos MB. Cartilha da Restaurao: regras e actuao para limitar as toxinfeces
alimentares. Lisboa: Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, Sindicato
Democrtico de Hotelaria, Alimentao e Turismo, 1990.
World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases.
Geneva: WHO, 1990.
67
Agradecimentos
Pelas crticas, comentrios e sugestes, que em muito nos ajudaram na concretizao
desta obra, gostaramos de deixar expressa uma palavra de sentido reconhecimento ao
Dr. Emlio Peres, Dr Leonor Sasseti, Dr Gregria Von Aman, Dr. Manuela Cabral e
Dr Isabel Evangelista.
Você também pode gostar
- 1 - EcgDocumento36 páginas1 - EcgJéssica TerezaAinda não há avaliações
- Desafios Da Educação Na Era Contemporânea em MoçambiqueDocumento10 páginasDesafios Da Educação Na Era Contemporânea em MoçambiqueRaúl André Jr.50% (4)
- Entendendo o Aprendizado Canino - 2 Ed Diagramação Max Set 019Documento40 páginasEntendendo o Aprendizado Canino - 2 Ed Diagramação Max Set 019Alexsander Silva100% (1)
- Prova NutricaoDocumento24 páginasProva NutricaoLuciana Batista0% (1)
- Projeto Pedagógico Do Curso de NaturologiaDocumento184 páginasProjeto Pedagógico Do Curso de NaturologiaFábio Stern0% (1)
- Significado Das Cores Dos AlimentosDocumento4 páginasSignificado Das Cores Dos AlimentosSara PradoAinda não há avaliações
- Obesidade-Uma Doença Crónica Ainda DesconhecidaDocumento16 páginasObesidade-Uma Doença Crónica Ainda DesconhecidaDevilisha100% (2)
- Nutrição Animais de LaboratórioDocumento21 páginasNutrição Animais de LaboratórioNatália LuzAinda não há avaliações
- Nutricao 2002Documento256 páginasNutricao 2002Cristine Dantas Lima100% (1)
- Mod Nutricao Nos Ciclos Da Vida v2Documento67 páginasMod Nutricao Nos Ciclos Da Vida v2ValeriaAinda não há avaliações
- Nutrição e HIVDocumento26 páginasNutrição e HIVArsénio InácioAinda não há avaliações
- Qual A Importância Da NutriçãoDocumento5 páginasQual A Importância Da NutriçãoJasse PacanateAinda não há avaliações
- Atuação Do Nutricionista - Saúde ColetivaDocumento45 páginasAtuação Do Nutricionista - Saúde ColetivaThaís Abreu67% (3)
- 6 Erros Comuns de Um VegetarianoDocumento10 páginas6 Erros Comuns de Um VegetarianoEsombraAinda não há avaliações
- Apostila Dietologia PDFDocumento35 páginasApostila Dietologia PDFNany NigglAinda não há avaliações
- Nutrição e FertilidadeDocumento28 páginasNutrição e FertilidadeGabriela GussoAinda não há avaliações
- O Que É Alimentação Saudável - Como Criar Dieta Equilibrada PDFDocumento6 páginasO Que É Alimentação Saudável - Como Criar Dieta Equilibrada PDFedilenelagedoAinda não há avaliações
- Alimentação InfantilDocumento12 páginasAlimentação InfantilMárcio H L ReisAinda não há avaliações
- Aula 06 - Carboidratos PDFDocumento28 páginasAula 06 - Carboidratos PDFLetícia ScuissiatoAinda não há avaliações
- Roteiro Aula Prática Higiene Dos Alimentos - Téc. Gastro 1ADocumento6 páginasRoteiro Aula Prática Higiene Dos Alimentos - Téc. Gastro 1ALara MatosAinda não há avaliações
- NutriçãoDocumento29 páginasNutriçãoAnonymous bfo640phP3Ainda não há avaliações
- Folder Obesidade IdosoDocumento2 páginasFolder Obesidade IdosoPathyCamargoAinda não há avaliações
- Alimentos FuncionaisDocumento34 páginasAlimentos FuncionaisRenee BorgesAinda não há avaliações
- Alimentação SaudávelDocumento25 páginasAlimentação SaudávelEveraldo SantosAinda não há avaliações
- Nutrição e Dietética - Aula - 02Documento45 páginasNutrição e Dietética - Aula - 02Ana Paula MessiasAinda não há avaliações
- Sinodal Alimentaçao Na InfanciaDocumento11 páginasSinodal Alimentaçao Na InfanciaMisael WillAinda não há avaliações
- Manual de DietasDocumento71 páginasManual de Dietasmupy morangoAinda não há avaliações
- Alimentos Saudáveis e Alimentos PerigososDocumento521 páginasAlimentos Saudáveis e Alimentos Perigososjoseolim6536Ainda não há avaliações
- Alimentação Nos Ciclos Da VidaDocumento64 páginasAlimentação Nos Ciclos Da VidaFernanda Crm100% (1)
- Alimentação IdososDocumento1 páginaAlimentação IdososGustavo Lacerda100% (1)
- Manual Clinico Alimentacao Nutricao Aids HivDocumento89 páginasManual Clinico Alimentacao Nutricao Aids HivgilbertocruAinda não há avaliações
- Como Desintoxicar Seu CorpoDocumento16 páginasComo Desintoxicar Seu CorpoEmerson F LeiteAinda não há avaliações
- Recreacao e LazerDocumento20 páginasRecreacao e LazergrazielegriepdelimaAinda não há avaliações
- Bioqu Mica Na CozinhaDocumento156 páginasBioqu Mica Na CozinhaChefe Jose Antonio Olim100% (1)
- Receita para Ficar DoenteDocumento127 páginasReceita para Ficar DoenteVallérium100% (4)
- Manual de Atividades de Educacao Alimentar e Nutricional EAN Na Educacao Infantil - Pocos de Caldas - 2022 PDFDocumento74 páginasManual de Atividades de Educacao Alimentar e Nutricional EAN Na Educacao Infantil - Pocos de Caldas - 2022 PDFtany almeidaAinda não há avaliações
- Clinica Médica O PACIENTE E SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAISDocumento61 páginasClinica Médica O PACIENTE E SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAISDaniele Rosa Machado100% (1)
- Apostila Nutrição Técnicas Dietéticas IIDocumento76 páginasApostila Nutrição Técnicas Dietéticas IIthaynara ferreira lopes100% (1)
- Nutrição Vegetariana IVDocumento25 páginasNutrição Vegetariana IVregina m cordeiroAinda não há avaliações
- Limpeza Do Fígado e Da VesículaDocumento6 páginasLimpeza Do Fígado e Da VesículaSax e SolosAinda não há avaliações
- Enfermagem - Nutrição e Dietética para EnfermagemDocumento5 páginasEnfermagem - Nutrição e Dietética para EnfermagemIzacristina25Ainda não há avaliações
- 9 Dicas Essenciais Da Dieta Do HipotireoidismoDocumento97 páginas9 Dicas Essenciais Da Dieta Do HipotireoidismoCigano CapoeiraAinda não há avaliações
- Apostila Nutrição 2023 AtualDocumento50 páginasApostila Nutrição 2023 AtualFrancisco MirandaAinda não há avaliações
- Nutricao Nos Ciclos Da VidaDocumento78 páginasNutricao Nos Ciclos Da VidaEduardo VissicaroAinda não há avaliações
- Alimentacao SaudavelDocumento27 páginasAlimentacao Saudavelgabicomachio100% (14)
- Guia AlimentarDocumento107 páginasGuia AlimentarFlander SouzaAinda não há avaliações
- ApostilaNutricao Noturno QBQ0214Documento41 páginasApostilaNutricao Noturno QBQ0214Renan Reixach17% (6)
- Guia Dos Melhores SuplementosDocumento50 páginasGuia Dos Melhores SuplementosAmerico NovaesAinda não há avaliações
- Nutricao e DieteticaDocumento53 páginasNutricao e DieteticaSofia Isabel TeixeiraAinda não há avaliações
- COP - Extrato de Semente de Uva: Viva Mais e Mais Saudável: Anti-idade para TodosNo EverandCOP - Extrato de Semente de Uva: Viva Mais e Mais Saudável: Anti-idade para TodosAinda não há avaliações
- Guia Prático De Autodisciplina Na Atividade FísicaNo EverandGuia Prático De Autodisciplina Na Atividade FísicaAinda não há avaliações
- Monografia Pronta para Entregar Na Bibliot.Documento39 páginasMonografia Pronta para Entregar Na Bibliot.TamaramariavilasboasAinda não há avaliações
- Universidade FaveniDocumento12 páginasUniversidade FaveniNayyhAinda não há avaliações
- Políticas e Programas para A Alimentação e Nutrição EscolarDocumento165 páginasPolíticas e Programas para A Alimentação e Nutrição EscolarPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Estratégias de Educação NutricionalDocumento36 páginasEstratégias de Educação NutricionalHenrique JustoAinda não há avaliações
- Ebook Alimentacao Vilma 1Documento29 páginasEbook Alimentacao Vilma 1Jefferson Da Silva AlvesAinda não há avaliações
- HelenaDocumento8 páginasHelenaVictoria Joao AntonioAinda não há avaliações
- Estilos de Vida SaudáveisDocumento14 páginasEstilos de Vida SaudáveisDevilisha100% (6)
- Consumo de Tabaco - Efeitos Na SaúdeDocumento19 páginasConsumo de Tabaco - Efeitos Na SaúdeDevilisha100% (4)
- Álcool e Problemas Ligados Ao Álcool em PortugalDocumento121 páginasÁlcool e Problemas Ligados Ao Álcool em PortugalDevilisha100% (4)
- Cloridrato de Hidroxilamina-FispqDocumento3 páginasCloridrato de Hidroxilamina-FispqpmarcelopontesAinda não há avaliações
- CultivogengibreDocumento20 páginasCultivogengibrePaulo VeigaAinda não há avaliações
- Sistema RespiratórioDocumento1 páginaSistema RespiratórioMariana BorgesAinda não há avaliações
- UntitledDocumento817 páginasUntitledMayara AzevedoAinda não há avaliações
- RequiemDocumento8 páginasRequiemSousa GilAinda não há avaliações
- Síndrome de Hunter Ou Mucopolissacaridose Tipo IDocumento3 páginasSíndrome de Hunter Ou Mucopolissacaridose Tipo IEdeilza FerreiraAinda não há avaliações
- Simulado 5 (Port. 5º Ano - Blog Do Prof. Warles)Documento4 páginasSimulado 5 (Port. 5º Ano - Blog Do Prof. Warles)Fagner Chiafarelli100% (1)
- Notas Aula RM 2019Documento93 páginasNotas Aula RM 2019Erick Bradbury100% (1)
- Analise de Risco Do PolicorteDocumento3 páginasAnalise de Risco Do PolicortePeterson Silva100% (1)
- Salamandra. Figo - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaSalamandra. Figo - Pesquisa Googleivai vinutoAinda não há avaliações
- Trabalho de QuímicaDocumento7 páginasTrabalho de QuímicaEster AlmeidaAinda não há avaliações
- Carteira Nacional de Vacinacao DigitalDocumento1 páginaCarteira Nacional de Vacinacao DigitalMichelle DocsAinda não há avaliações
- Calculo Potencia Frigo MagideDocumento4 páginasCalculo Potencia Frigo MagideGuillermo Quintero AldanaAinda não há avaliações
- Ritual Do HemafroditoDocumento8 páginasRitual Do HemafroditoluiztigrefreitasAinda não há avaliações
- CerebeloDocumento32 páginasCerebeloCAMYLINHAAinda não há avaliações
- Aula 01 Código de Ética EnfermagemDocumento13 páginasAula 01 Código de Ética EnfermagemRaiAinda não há avaliações
- GIMNOSPERMASDocumento3 páginasGIMNOSPERMASCamila TestaAinda não há avaliações
- Coca Cola Curiosidades PlanilhaDocumento29 páginasCoca Cola Curiosidades Planilhaparaujomouraalves38Ainda não há avaliações
- TudoGostoso - Bolo de Liquidificador - Imprimir ReceitaDocumento1 páginaTudoGostoso - Bolo de Liquidificador - Imprimir ReceitaWillian AfonsoAinda não há avaliações
- Di Psico Aplic Direi U3 - WebaulaDocumento12 páginasDi Psico Aplic Direi U3 - WebaulaStefani AraujoAinda não há avaliações
- A Mente Que Te EmagreceDocumento15 páginasA Mente Que Te EmagreceIara OliveiraAinda não há avaliações
- Anomalias Genéticas BiologiaDocumento9 páginasAnomalias Genéticas BiologiaGuilherme Fernando100% (1)
- Alerta Acidente Afastamento Manobra DPDocumento2 páginasAlerta Acidente Afastamento Manobra DPFelipe MarinhoAinda não há avaliações
- FT Lub Ind Turbinas Lubrax Turbina PlusDocumento1 páginaFT Lub Ind Turbinas Lubrax Turbina PlusJose agustinhoAinda não há avaliações
- Febre AmarelaDocumento5 páginasFebre AmarelamicheleAinda não há avaliações
- Atividade 2Documento6 páginasAtividade 2evertonsilva244824Ainda não há avaliações
- Manual Calibrador Tampão (King)Documento1 páginaManual Calibrador Tampão (King)GustavoAinda não há avaliações