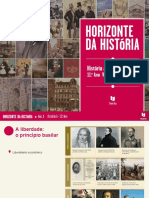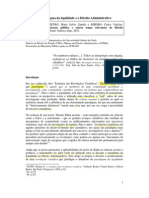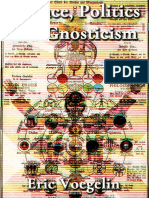Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Conceito de Democracia Na Concepçao de Schumpeter
O Conceito de Democracia Na Concepçao de Schumpeter
Enviado por
danieletamaraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Conceito de Democracia Na Concepçao de Schumpeter
O Conceito de Democracia Na Concepçao de Schumpeter
Enviado por
danieletamaraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
127
DEMOCRACIA: A CONCEPO DE SCHUMPETER
Antnio Kurtz Amantino1
SINOPSE
Ao criticar a teoria clssica da democracia, Joseph Schumpeter (1883-1950) acabou
desenvolvendo uma concepo considerada mais realista da democracia, concepo que daria
origem chamada teoria econmica da democracia. O presente estudo procura sintetizar os
argumentos dessa crtica, ao mesmo tempo em que analisa a concepo de democracia desenvolvida pelo economista austraco na obra Capitalismo, socialismo e democracia.
Palavras-chave: democracia, soberania popular, elites polticas, partidos.
1 INTRODUO
Ningum pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito
que a democracia a pior forma de governo, salvo todas as demais formas
que tm sido experimentadas de tempos em tempos. (Winston Churchill em
11 /9/1947)
Depois de muitos anos de equvocos, cheguei concluso de que de todos os
regimes polticos, o menos mau o democrtico, porque feito medida do
homem, relatividade do ser humano e a esta luta incessante entre o bem e
o mal. Por que h trs poderes? H um para administrar o pas; outro para
fazer as leis - uma comunidade no pode viver sem leis, justamente para
castigar o mal - e h um poder judicial que aplica as leis. O que torna a democracia possvel esse equilbrio precrio, delicado, difcil. De fato, a democracia um regime sem cores vivas, medocre. Por isso, os jovens - no os condeno porque quando fui jovem fiz o mesmo - so propensos a condenar a democracia. Mas ela que permite que o lobo-homem de Hobbes tenha o menor
ganho possvel (Ernesto Sbato, em 29/10/1986).
Uma profunda crise atinge as idias polticas surgidas a partir do sculo XIX,
as quais, de alguma ou de outra forma, comandaram a poltica do sculo XX,
especialmente no mundo ocidental. O liberalismo, pelo menos em sua concepo
mais ortodoxa, falhou ao confiar quase que cegamente nas foras do mercado como
1
Licenciado em Histria e mestre em Cincia Poltica.
Teor. Evid. Econ.
Passo Fundo
v. 5
n. 10
p. 127-140
maio 1998.
128
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
reguladoras da atividade econmica (a mo invisvel) e ao promulgar e defender o
direito de propriedade sem levar em conta a situao dos no-proprietrios. Foi
justamente contra as limitaes e insuficincias do laissez-faire que se estruturou
o chamado Estado do bem-estar (Welfare state) aps a Segunda Guerra Mundial. A
falha do marxismo, por sua vez, foi no ter percebido que as liberdades individuais,
tais como a de expresso e de associao, no so meros subprodutos do egosmo
ou do individualismo burgus, mas, sim, direitos e liberdades com alcance e valor
universais. Lembre-se que os direitos e as liberdades considerados pelo marxismo
como instrumentos da burguesia foram e so teis para a prpria classe trabalhadora na promoo e na defesa de seus interesses. Rosa Luxemburgo, em resposta
s crticas feitas democracia formal, dizia que no existem liberdades burguesas,
mas simplesmente, liberdade dos cidados.
Durante alguns anos, um grande nmero de pessoas de nossa gerao, seja
nos campi universitrios ou nos movimentos polticos, considerava a democracia,
seno uma farsa, um mero mecanismo de dominao de classe; em conseqncia,
tendia-se a rejeitar o que, pejorativamente, era apelidado de democracia formal,
liberal ou burguesa. importante observar que, partindo dessa viso, a esquerda,
ou parte significativa dela, em vrios momentos histricos, atuou ao lado da direita reacionria perene (Bobbio), no trabalho de solapar a estabilidade dos regimes
democrticos. Desiludida com a democracia, sempre frgil, sempre vulnervel,
corruptvel e freqentemente corrupta, a esquerda pretendeu destru-la para tornla perfeita, comportando-se tal como as filhas de Pelia que cortaram em pedaos o
velho pai para faz-lo renascer (Bobbio, 1986a, p. 14). Ento, uma vez perdida a
democracia, descobria-se o quanto ela era importante. Francisco Weffort (1984),
por exemplo, lembra que a descoberta do valor da democracia na poltica brasileira ocorre no momento mais escuro de nossa histria, os anos de infmia do perodo
Mdici. Alis, se possvel buscar algum efeito positivo nas ditaduras que se
espalharam pela Amrica Latina, a valorizao da democracia certamente deve ser
um deles.
A valorizao da democracia relaciona-se tambm com a desiluso com as
experincias socialistas, com o estranho destino de uma idia que comeou sendo
um humanismo prometico e culminou na monstruosa tirania estalinista
(Kolakowski, 1985, p. 16), ou numa opresso totalitria e desptica sem similares
na Histria moderna (Colletti, 1982).
Alis, a crtica e o desprezo pela democracia liberal colocaram muita gente
numa postura curiosa, que, alm de moralmente insustentvel, era carregada de
hipocrisia, porque, ao mesmo tempo em que se protestava energicamente contra a
menor violao dos direitos democrticos, prestava-se apoio incondicional queles
regimes em que esses direitos, como o da liberdade de ir e vir, da liberdade de
associao e de imprensa, eram radicalmente eliminados e proscritos.
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
129
Enfim, o que estamos querendo dizer que, aps a experincia da ditadura
em nosso pas, depois de tantas frustraes e aps tanto marxismo de escola,
esquemtico, tediosamente repetitivo (Bobbio, 1986b, p. 109), redescobrimos o
valor da democracia, passando a acreditar que mesmo uma m democracia sempre prefervel a uma boa ditadura.
Diz Giovanni Sartori (1988a) que as democracias carecem de viabilidade se
seus cidados no a compreendem. com essa idia na mente que propomos este
trabalho, como uma espcie de estudo introdutrio acerca da democracia. Nossa
escolha da concepo de Joseph Schumpeter no se deve ao acaso, mas ao fato de
que ela provocou uma verdadeira revoluo na teoria poltica e serviu de ponto de
partida para uma srie de estudos e anlises que passaram a desenvolver novos
enfoques sobre a democracia. To importante a concepo schumpeteriana que
diversos autores, a exemplo de Norberto Bobbio (1986 a) e Hlio Jaguaribe (1985),
afirmam que ela se tornou preponderante na moderna cincia poltica da democracia.
1 CRTICAS DE SCHUMPETER TEORIA CLSSICA DA
DEMOCRACIA
A teoria clssica define a democracia, diz Schumpeter (1984), como o arranjo institucional para se chegar a decises polticas que realiza o bem comum fazendo o prprio povo decidir as questes atravs da eleio de indivduos que devem
reunir-se para realizar a vontade desse povo.
Essa concepo considera que o povo tem uma opinio definida e racional
sobre todas as questes e que ele objetiva essa opinio escolhendo representantes
que zelam para que essa opinio seja seguida, ou, em outras palavras, pressupe a
existncia de um bem ou interesse comum, cujos executores e guardies so os
polticos. Acontece, afirma Schumpeter (1984), iniciando sua crtica, que no existe algo que seja um bem comum unicamente determinado; que, para diferentes
indivduos e grupos, o bem comum est fadado a significar diferentes coisas. O
mesmo pensa Bobbio (1986) quando afirma que ningum tem condies de definir
precisamente o interesse comum ou coletivo, a no ser confundindo interesses
grupais ou particulares com o interesse de todos. Alis, se houvesse, de fato, um
bem comum precisamente determinado, no seria necessria a existncia de mais
de um partido; ao contrrio, no entanto, a simples existncia de mais de um partido nos regimes democrticos atesta a divergncia de interesses.
Outra crtica de Schumpeter atinge um dos pilares da concepo clssica da
democracia: a soberania popular. O chamado governo pelo povo, diz ele, uma
fico; o que existe, na verdade; o governo aprovado pelo povo, o povo como tal
nunca pode realmente governar ou dirigir (Schumpeter, 1984, p. 308-9). Raymond
130
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
Aron (1966), em concordncia, acha que, teoricamente, a soberania pode residir no
povo, mas uma minoria que a exerce efetivamente; portanto, podem existir governos para o povo, mas no governos pelo povo, nas sociedades numerosas e
complexas.
Para que a vontade dos cidados fosse um fator poltico merecedor de respeito, afirma Schumpeter (1984), seria necessrio que todos soubessem precisamente o que desejam. Entretanto, isso no ocorre, porque a vontade, os desejos e
as opinies dos indivduos compem, na maioria das vezes, um feixe indeterminado
de impulsos vagos que volteiam em torno de palavras de ordem ou de impresses
equivocadas. Existem vrias evidncias contra a racionalidade do comportamento
do eleitor, ou seja, contra a hiptese de que a conduta do eleitor seja resultado de
uma vontade independente, baseada na observao e na interpretao objetiva dos
fatos e na capacidade de tirar, rpida e prontamente, concluses racionais. A psicologia - Schumpeter cita Ribot, Freud e Le Bon - demonstra que parte significativa
de nossa conduta motivada por elementos irracionais; que, alm disso, os indivduos transformados em multido psicolgica, em decorrncia da aglomerao e da
influncia dos meios de comunicao, entram num estado de excitao e frenesi
que faz com que a racionalidade e os escrpulos morais praticamente desapaream. Para Freud (1953),
a multido extraordinariamente influencivel e crdula. Carece de sentido
crtico e o inverossmil no existe para ela. Pensa em imagens que se entrelaam umas s outras associativamente, como naqueles estados nos quais o
indivduo d livre curso sua imaginao sem que nenhuma instncia racional intervenha para julgar at que ponto se adaptam suas fantasias realidade. (...) Para influir sobre ela, intil argumentar logicamente.
De fato, conforme Mario Stoppino, em publicao recente:
O apelo direto aos impulsos emotivos inconscientes torna-se particularmente
eficaz quando dirigido a uma multido. Na multido, o autodomnio racional e
o sentido da responsabilidade pessoal dos indivduos se debilitam; adquirem um relevo indubitavelmente mais acentuado e aberto os componentes
irracionais e incnscios da personalidade; tende a verificar-se uma espcie
de contgio emotivo entre os membros de uma multido. Tudo isso faz os
indivduos especialmente vulnerveis sugesto emotiva. Uma situao bem
conhecida dos agitadores e demagogos polticos, que utilizam tambm muitas vezes catalisadores especiais para aumentar o controle emotivo da multido. Pensemos no uso ritual de palavras em forma de slogan ou juramento, s
vezes acompanhados de msicas (hinos nacionais ou patriticos, marchas populares, etc.) e da coreografia visual de bandeiras, emblemas e gestos estilizados.
Estas tcnicas foram elevadas a um alto grau de eficcia nos Estados totalitrios,
especialmente na Alemanha nazista. s vezes a tenso emotiva criada pelo uso
de tais catalisadores era to intensa que, quando Hitler comeava por fim a
falar, o contedo do discurso j no tinha quase importncia alguma para a
multido histrica e cheia de adorao (in Bobbio, 1986a, p. 731-2).
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
131
Alm disso, segundo Schumpeter (1984), o senso de realidade do indivduo
diminui da medida que os problemas se distanciam daqueles imediatamente pessoais. Dessa maneira, nas decises da vida diria, os indivduos apresentam um
maior grau de senso da realidade; no entanto, a respeito de temas pblicos, mesmo
locais, diminui e at se perde completamente o senso da realidade. Assim, o
cidado comum, no campo da poltica, argumenta e analisa de forma infantil e
primitiva, dedicando menos esforo disciplinado num problema poltico do que
num jogo de bridge, e, portanto, tender a ceder a preconceitos e impulsos extraracionais ou irracionais (p. 327). Sendo assim, conclui Schumpeter, a vontade do
povo no o motor do processo poltico, seno o seu produto (vontade manufaturada). Decorre da a importncia cada vez maior da publicidade poltica que, por meio
de tcnicas semelhantes s adotadas pela publicidade comercial, procura formar,
manipular e condicionar a vontade do eleitor.
Uma das hipteses que sustenta a democracia a de que todo cidado pode
decidir a respeito de tudo. Ocorre, entretanto, que, alm das objees feitas por
Schumpeter, os problemas polticos de uma economia que no mais familiar
nem apenas de mercado, mas uma economia cada vez mais complexa, regulada e
planificada, tornam-se cada vez mais complicados. A luta contra a inflao, a gerao de empregos, a melhoria da distribuio da renda, por exemplo, so questes
de tal grau de complexidade que, para enfrent-las, se exige competncia tcnica
num nvel muito superior ao senso comum do cidado. Aqui estamos frente a um
dos paradoxos da concepo clssica da democracia, no entender de Norberto Bobbio
(1983),
Quantos so os indivduos que dominam os problemas econmicos de um
grande estado e esto altura de propor solues corretas, uma vez colocados certos objetivos; ou, pior ainda, de indicar os objetivos que devem ser
alcanados a partir de certos recursos? E, no entanto, a democracia se sustenta sobre a idia-limite de que todos possam decidir tudo.
Registro semelhante feito por Wanderlei Guilherme dos Santos quando afirma
que
a teoria democrtica tradicional pressupunha a existncia de cidados cujos
atributos seriam os seguintes: deveria ser interessado, atento e participante;
supunha-se que fosse bem informado sobre questes polticas; esperava-se
que tomasse posio e votasse de acordo com seus princpios, e no de maneira frvola; e finalmente esperava-se que fosse racional, no sentido de ponderar sobra as alternativas apresentadas e de escolher os meios mais eficientes para atingir seus fins (in Lamounier, 1982, p. 163).
E prossegue Wanderlei (1982) dizendo que, alm do que j havia sido dito por
Schumpeter, pesquisas empricas feitas aps a Segunda Guerra mostram que os
cidados reais geralmente no se interessam por poltica, so mais ou menos
indiferentes participao, alm de mal-informados e freqentemente irracio-
132
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
nais nas escolhas que fazem. Entretanto, mesmo no existindo esse cidado idealizado pela teoria democrtica tradicional, necessrio lembrar que, ainda assim,
existem diversos regimes polticos democrticos no mundo funcionando de forma
razovel. Isso porque, ao contrrio do que se poderia imaginar primeira vista,
o fato dos cidados em geral no participarem ativamente da poltica no
um mal. Se o fizessem, bem possvel que a polis se tornasse ingovernvel
devido ao excesso de demanda em relao capacidade de deciso dos governos. O que absolutamente fundamental que na sociedade no existam
barreiras formao de grupos e participao, de modo que se algum grupo
sentir seus interesses ameaados, possa organizar-se e defend-los. Os cidados parecem apticos porque s se preocupam com seus prprios interesses, e sabem quando e como proteg-los. No que o governo aja num vcuo,
mas sim que est sempre sob observao de alguns grupos, que se formam e
se dissolvem segundo a soluo dada a seus problemas. Como seria de se
esperar, esses grupos intermitentes so muito bem informados em relao
questo especifica que os afeta.
O ideal democrtico do cidado opinando e decidindo sobre tudo no pode,
em conseqncia do que foi exposto, ser cumprido. Mas Schumpeter (1984) vai
alm dessa constatao: afirma que uma deciso imposta por um rgo no democrtico pode-se mostrar muito mais aceitvel a todos. Para ilustrar sua argumentao, cita o exemplo da Concordata que Napoleo fez com o papa Pio VII em
1801. A tentativa de resolver o problema das relaes do Estado francs com a
Igreja de forma democrtica, diz ele, levaria a um beco sem sada ou a uma briga
interminvel, tal a diversidade e a gravidade dos interesses em jogo. Diga-se de
passagem, alis, que isso faz lembrar as crticas endereadas maneira como foi
decidido no pas o chamado Plano Real. de se perguntar se reformas to profundas e complexas, envolvendo e lesando uma gama to grande de interesses, incomodando tantos e to arraigados hbitos, poderiam ser implementadas de maneira
democrtica? Embora isso possa horrorizar os defensores da democracia de assemblia, acreditamos que Gerard Lebrun (1983) tem razo quando afirma que as
democracias funcionais de hoje, para quem atento ao seu sistema de decises,
designam na verdade monarquias esclarecidas ou oligarquias esclarecidas; (...) as
grandes experincias reformistas (...) exigem um despotismo esclarecido.
Lebrun critica ironicamente os intelectuais e estudantes fascinados pela democracia de assemblia. Leiam Tucdides, o seu conselho para que se aprenda
que decises importantes no so tomadas em discusses de assemblia.
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
133
3 A DEMOCRACIA SEGUNDO SCHUMPETER
3.1 A democracia como mtodo
Para Schumpeter, a democracia se caracteriza muito mais pela concorrncia
organizada pelo voto do que pela soberania do povo, ou o sufrgio universal, como
afirma a teoria clssica. Eis algumas definies formuladas por Schumpeter (1984):
- A democracia um mtodo poltico, ou seja, um certo tipo de arranjo
institucional para se alcanarem decises polticas - legislativas e administrativas -, e portanto no pode ser um fim em si mesma, no importando as
decises que produza sob condies histricas dadas (p. 304);
- acordo institucional para se chegar a decises polticas em que os indivduos
adquirem o poder de deciso atravs de uma luta competitiva pelos votos da
populao (p. 336);
- mtodo que uma nao usa para chegar a decises (p.305);
- livre competio pelo voto livre (p.338);
- governo aprovado pelo povo (p.308).
Destaca-se nessas definies, em primeiro lugar, a noo de que a democracia um mtodo que se usa para tomar decises. Outros autores tambm a
conceituam assim, a exemplo de Norberto Bobbio e Raymond Aron, os quais costumam tambm utilizar a expresso jogo. Aron (1969) diz que emprega essa expresso de forma intencional, j que ela
se caracteriza precisamente pela imposio de regras estritas, pela manuteno de um marco espacial e temporal, dentro do qual devem permanecer os
atores. 0 regresso peridico s eleies simboliza por sua vez a continuidade
do jogo (a vitria no est definitivamente conquistada) e a limitao do numero de partidas. A oposio derrotada na partida anterior, deve esperar a
prxima sem impedir, durante o intervalo, que a maioria e o governo realizem
sua funo.
So vitais para a sobrevivncia do regime democrtico o respeito e a aceitao das regras: como imaginar que ele sobreviva se os chefes dos partidos, como
diz Aron (1964), no estiverem de acordo sobre coisa alguma, nem mesmo sobre
as regras do jogo. importante observar que esse um dos aspectos fundamentais de uma concepo democrtica, pois s o respeito s regras, vistas como as
normas fundamentais que regem o funcionamento do sistema, permite o pluralismo,
ou seja, a existncia de interesses e fins divergentes. Em outras palavras, um
regime democrtico exige consenso em relao aos meios (as regras do jogo) para
que possa existir dissenso a respeito dos fins. Essa a razo, em nosso entender,
de ser uma das mais sbias definies da poltica aquela que afirma ser ela uma
guerra civil continuada por outros meios.
134
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
As regras do jogo, que, para Bobbio, representam o fundamento da legitimidade de todo o sistema, so as seguintes:
a) todos os cidados que tenham atingido a maioridade, sem distino de
raa, religio, condies econmicas, sexo, etc., devem gozar dos direitos polticos (...); b) o voto de todos os cidados deve ter peso idntico (...); c) todos os
cidados que gozam dos direitos polticos devem ser livres de votar segundo
a prpria opinio, formada o mais livremente possvel, isto , em uma livre
concorrncia entre grupos polticos organizados, que competem entre si para
reunir reivindicaes e transform-las em deliberaes coletivas; d) devem
ser livres ainda no sentido (...) de terem reais alternativas, isto , de escolher
entre solues diversas; e) para as deliberaes coletivas como para as eleies dos representantes deve valer o principio da maioria numrica (...); f)
nenhuma deciso tomada pela maioria deve limitar os direitos da minoria...
(Bobbio, 1983, p. 56).
Alguns autores no concordam com Schumpeter, isto , com a reduo da
democracia a um mtodo. Peter Bachrach (1973), um deles, afirma que a democracia, alm de ser um mtodo, tem uma finalidade, que a prpria participao do
indivduo nas decises significativas da comunidade. A democracia tem, assim,
segundo Bachrach, uma finalidade tica, que o autodesenvolvimento do indivduo
j que, conforme ele, o desenvolvimento do homem enquanto ser humano depende estreitamente de sua possibilidade de contribuir para a soluo dos problemas
vinculados com suas prprias aes. Jos Guilherme Merquior (1982), de maneira
semelhante, tambm v na democracia uma finalidade precpua: o exerccio da
igualdade poltica.
3.2 O mercado poltico
Democracia, diz Schumpeter (1984), a livre competio pelo voto livre: eis
aqui um dos aspectos mais originais de sua concepo de democracia. Tal como no
mercado econmico, em que empresrios competem pela preferncia do consumidor, encontramos no mercado poltico empresrios polticos que disputam a preferncia dos eleitores (consumidores de bens pblicos). Nesse mercado, a
contraprestao do eleitor o voto, enquanto a do poltico uma vantagem, sob a
forma de um bem ou de um servio. Partidos polticos e eleitores, segundo Anthony
Downs (1973), semelhana de empresrios e consumidores, atuam racionalmente no sentido de que os partidos calculam a trajetria e os meios de sua ao para
maximizar seus votos (lucros), enquanto os eleitores, da mesma forma, procuram
maximizar suas vantagens (utilidades).
Bobbio e Aron adotam o mesmo enfoque. Aron (1966) afirma que a concorrncia por bens polticos pode ser comparada concorrncia por riquezas. Para
Bobbio (1986b), a democracia nutrida pela contnua troca entre produtores e
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
135
consumidores de consenso, ou entre produtores e consumidores de poder, e que,
embora isso possa no ser do agrado de alguns, o mercado poltico, no sentido de
uma relao generalizada de troca entre governantes e governados, uma caracterstica da democracia real.
A noo de mercado poltico remete uma questo importante: o tipo de
concorrncia que a se desenvolve. Schumpeter mesmo adverte que no se trata de
uma concorrncia perfeita, mas, sim, tal como no mercado econmico, de uma
concorrncia imperfeita ou oligoplica, em que elites ou oligarquias polticas competem entre si pelo poder. Saliente-se, portanto, que, para Schumpeter, a caracterstica de um governo democrtico no dada pela ausncia de elites como querem
muitos, mas supe a presena necessria de elites disputando entre si o voto popular. Norberto Bobbio (1986b), como se pode ver, tambm sustenta essa idia:
Que a permanncia das oligarquias, ou das elites, no poder esteja em contraste com os ideais democrticos algo fora de discusso. Isto no impede
que haja sempre uma diferena substancial entre um sistema poltico no qual
existem diversas elites concorrendo entre si na arena eleitoral e um sistema
no qual existe apenas um nico grupo de poder que se renova por cooptao;
(...) a existncia de grupos de poder que se sucedem mediante eleies livres
permanece, ao menos at agora, como a nica forma na qual a democracia
encontrou a sua concreta atuao.
3.3 A soberania popular
A concepo schumpeteriana de democracia colide tambm com a noo de
soberania popular sustentada pela teoria democrtica tradicional, j que, de acordo com Schumpeter (1984), o povo no exerce o poder. Qual , ento, o papel do
povo? No outro seno o de produzir um governo, ou melhor, um corpo intermedirio, que por sua vez, produzir um governo. Essa a funo bsica do eleitorado, embora o prprio Schumpeter alargue-a um pouco, incluindo a a funo de
desapossar o governo recusando-se a reeleg-lo; porm, de toda maneira, no so
os eleitores que decidem as questes de interesse coletivo. Como afirma Bobbio
(1986b), (...) as deliberaes coletivas, isto , as deliberaes que dizem respeito
coletividade inteira, so tomadas no diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade. Ponto e basta.
Portanto, a soberania do eleitor, tal como a do consumidor, reduzida. Alm
do fato de que sua vontade pode ser manufaturada, em maior ou menor grau, pelo
marketing poltico, o eleitor forado a escolher entre candidatos e alternativas
propostas pelas oligarquias polticas. Entretanto, isso no significa que a soberania do eleitor seja nula ou politicamente desprezvel. Ocorre que o eleitor pode
escolher; seu poder s ficaria reduzido praticamente a zero se lhe oferecessem no
136
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
mercado poltico uma lista nica de candidatos e propostas. Alis, nesse ponto
reside uma diferena importante entre as elites de regimes liberais e democrticos
e as elites de regimes aristocrticos e autocrticos. Aquelas, ao contrrio dessas,
por serem abertas e amplas, por estarem em constante concorrncia entre si, por
serem eleitas e controladas periodicamente pelos cidados, so elites que se propem, ao contrrio das outras que se impem.
Ademais, so os eleitores que, com maior ou menor eficcia e influncia,
foram os partidos e os polticos a colocarem certos temas em suas agendas, pois,
como diz Bobbio (1986b), esses no podem deixar de:
vigiar constantemente os humores da clientela, de cujo maior ou menor apoio
dependem. (...) No deixa de ser iluminante a idia de Max Weber - retomada,
desenvolvida e divulgada por Schumpeter - de que o lder poltico pode ser
comparado a um empresrio cujo rendimento o poder, cujo poder se mede
por votos, cujos votos dependem da sua capacidade de satisfazer interesses
de eleitores e cuja capacidade de responder s solicitaes dos eleitores depende dos recursos pblicos de que pode dispor. Ao interesse do cidado
eleitor de obter favores do Estado corresponde o interesse do poltico eleito ou
a ser eleito de conced-los. (...) quanto mais a arena poltica constituda
base das regras do jogo democrtico, onde todos tm certa autoridade e podem organizar-se para afirm-la, tanto mais preciso que os organizadores
do espetculo melhorem o seu desempenho para serem aplaudidos.
Decorre disso um fator que o prprio Schumpeter (1984) alerta ser essencial
na sua teoria: a necessidade de maximizar votos impede o poltico de servir exclusivamente aos interesses de sua classe ou dos grupos a quem esteja ligado pessoalmente. Essa a razo, afirma Anthony Downs (1973), por que o partido no
poder (governo) cumpre suas funes sociais, mesmo quando os motivos de sua
atuao no guardam relao com elas. Elmer E. Schattschneider (1967) cita o
exemplo do Partido Republicano dos Estados Unidos, o qual, embora seja um partido representativo da comunidade industrial, no pode se limitar defesa pura e
simples dos interesses das empresas porque, como diz ele, a comunidade industrial muito pequena, levanta muitos antagonismos e suas metas so demasiado
estreitas para obter o apoio de uma maioria popular.
3.4 Os partidos polticos
Schumpeter (1984) rompe tambm com a teoria clssica ao definir e caracterizar os partidos polticos. Para ele:
Um partido no , como a doutrina clssica (ou Edmund Burke) nos deseja
fazer crer, um grupo de homens que pretendem realizar o bem comum em
funo de algum princpio sobre o qual todos concordem. (...) Um partido
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
137
um grupo cujos membros se propem agir combinadamente na luta competitiva pelo poder poltico.
Por essa razo, como diz Claus Offe (1984), um partido poltico deve ter como
um de seus objetivos a presena constante no mercado poltico, tal como uma
empresa, cujo sucesso depende, em parte, da presena constante do marketing e
da organizao de vendas. Observe-se que aquilo que Offe aponta como sendo uma
caracterstica fundamental dos partidos modernos j havia sido tambm apontado
por Schumpeter,para quem os partidos assemelham-se a empresas comerciais;
por isso, seus princpios e plataformas so to importantes para seus sucessos
quanto o so as marcas dos produtos vendidos por determinadas lojas.
A presena de mais de um partido competindo no mercado poltico, mesmo
concebendo-os como elites ou grupos de poder, , tanto para Bobbio como para
Aron, uma condio imprescindvel da democracia. Assim por vrias razes: uma
porque a simples existncia legal de vrios partidos torna inevitvel a concorrncia
entre eles. Conforme Aron (1966), a competio inevitvel porque j no h
governantes designados por Deus ou pela tradio. A partir da altura em que j
no existem governos legtimos por nascimento, de onde podem sair governantes
legtimos, seno de uma competio?
Alm disso, a concorrncia entre os partidos torna necessrio o estabelecimento de regras que regulem a disputa, sob pena de ela ficar entregue ao arbtrio
e violncia. Por isso, um regime pluripartidrio necessariamente constitucional. Ademais, seguindo Aron (1966),
pode-se deduzir ainda da pluralidade dos partidos a legalidade da oposio.
Se vrios partidos tem o direito de existir e se no se encontram todos ao
mesmo tempo no governo, inevitavelmente, alguns entre eles esto na oposio. Colocando como ponto de partida a pluralidade legal dos partidos, colocamos implicitamente a legalidade da oposio. (....) Conforme a essncia da
concorrncia democrtica, aquele que perde uma vez, no ficou condenado a
perder sempre. Quando aquele que ganha impede os que perderam de tentar
nova oportunidade, sai-se do que o Ocidente chama de democracia, porque
se coloca a oposio fora da lei.
Por fim, a existncia de mais de um partido concorrendo no mercado poltico
aumenta o poder e a liberdade de escolha do eleitor, o qual, em caso contrrio,
como j dissemos, a sim os teria reduzido praticamente a zero.
4 CONCLUSO
Como procuramos demonstrar, a concepo de Joseph Schumpeter sobre a
democracia significou uma profunda revoluo na teoria poltica. No s por ter
138
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
praticamente invertido alguns postulados da teoria clssica, como, por exemplo, o
da soberania popular, mas, tambm, por ter estabelecido certos pressupostos bsicos, que, se no so aceitos pelos estudiosos em alguns de seus aspectos, servem,
ainda hoje de base para novas anlises e abordagens sobre a democracia. Esses
pressupostos podem ser esquematicamente reduzidos a dez tpicos:
1. no existe o chamado bem comum, isso pelo simples fato de que, para
indivduos, grupos e classes diferentes, o bem comum significa coisas diferentes;
2. o chamado governo pelo povo uma fico; o que existe, na realidade, ou
pode existir, governo para o povo;
3. o governo exercido por elites polticas;
4. essas elites competem no mercado poltico pela preferncia dos eleitores;
5. a concorrncia no mercado poltico, tal como no mercado econmico,
imperfeita, isto , oligoplica;
6. partidos polticos e eleitores atuam no mercado poltico de maneira semelhante atuao das empresas e consumidores no mercado econmico;
7. o voto a moeda atravs da qual o eleitor compra os bens polticos ofertados
pelos partidos;
8. a soberania popular, embora no seja nula, reduzida , visto que so as
elites polticas que propem os candidatos e as alternativas a serem escolhidas pelo eleitor;
9. o objetivo primordial dos partidos polticos conquistar e manter o poder.
A realizao do bem comum um meio para atingir este objetivo;
10. a necessidade de maximizar votos impede que os partidos e os polticos
sirvam exclusivamente a seus interesses grupais ou de classe. Como diz
Bobbio (1986), os controladores so controlados.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARON, Raymond. Democracia e totalitarismo. Lisboa: Presena, 1966
ARON, Raymond. Novos temas de sociologia contempornea. Lisboa: Presena, 1964.
ARON, Raymond. Ensayo sobre las libertades. Madrid: Alianza, 1969.
BACHRACH, Peter. Crtica de la teoria elitista de la democracia. Buenos Aires:
Amorrortu, 1973.
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
139
BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. Dicionrio de
poltica. Braslia: UnB, 1986 a.
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1986 b.
____. Qual socialismo? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
DOWNS, Anthony. Teora economica de la democracia. Madrid: Aguilar, 1973.
FREUD, Sigmund. Psicologa de las masas y anlisis del Yo. Buenos Aires: Santiago Rueda, 1953.
JAGUARIBE, Hlio et alii. Brasil, sociedade democrtica. Rio de Janeiro: Jos
Olympio, 1985)
KOLAKOWSKI, Leszek. Las principales corrientes del marxismo. Madrid: Alianza,
1985, v. l.
LAMOUNIER, Bolvar (org.). A cincia poltica nos anos 80. Braslia: UnB, 1982.
LEBRUN, Grard. Passeios ao lu. So Paulo, Brasiliense, 1983.
MERQUIOR, Jos Guilherme. A natureza do processo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
OFFE, Claus. A democracia partidria competitiva e o Welfare State keynesiano:
fatores de estabilidade e desorganizao. In: Problemas estruturais do capitalismo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
SARTORI, Giovanni. Teora de la democracia: el debate contemporneo. Madrid:
Alianza, 1988 a.
SARTORI, Giovanni. Teora de la democracia: los problemas clsicos. Madrid: Alianza,
1988 b.
SCHATTSCHNEIDER, Elmer. El pueblo semisoberano. Mxico: Uteha, 1967.
SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio: Zahar. 1984.
WEFFORT, Francisco. Por que democracia? So Paulo: Brasiliense, 1984.
140
Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998
SYNOPSIS
DEMOCRACY: SCHUMPETERS CONCEPTION
While criticizing the Democracy Classical Theory, Joseph Schumpeter (1883-1950)
developed a conception considered more realist about Democracy, conception that would give
origin to the Economical Theory of Democracy. The present study searches to synthesize the
arguments of this criticism, and at the same time it analyses the conception of the democracy
developed by the Austrian Economist in his work Capitalism, Socialism and Democracy.
Key-words: Democracy, Popular Sovereignty, Political Elite, Political Faction.
SINOPSIS
DEMOCRACIA: EL CONCEPTO DE SCHUMPETER
Al criticar la teora clssica de la democracia, Joseph Schumpeter(1983-1950) acab
desarrollando un concepto de la democracia considerando ms realista, concepto que dria
origen a la llamada teora econmica de la democracia. El presente estudio intenta sintetizar
los argumentos de esta crtica, al mismo tiempo que analiza el oncepto de democracia
desarrollado por el economista austriaco en la obra Capitalismo, socialismo y democracia.
Palabras-clave: democracia, soberana popular, lites polticas, partidos.
Você também pode gostar
- Democracia Um Conceito em DisputaDocumento13 páginasDemocracia Um Conceito em DisputaJosé Guilherme ZagoAinda não há avaliações
- O Conceito de Democracia Segundo Joseph SchumpeterDocumento18 páginasO Conceito de Democracia Segundo Joseph SchumpeterTeixeira EsmaelAinda não há avaliações
- O Que É o Liberal-Totalitarismo - (Parte 1) - Dicta & ContradictaDocumento4 páginasO Que É o Liberal-Totalitarismo - (Parte 1) - Dicta & ContradictaMatheus Dorneles FavaroAinda não há avaliações
- Joseph Schumpeter em Capitalismo, Socialismo e DemocraciaDocumento10 páginasJoseph Schumpeter em Capitalismo, Socialismo e DemocraciaLuiz LimaAinda não há avaliações
- SchumpeterDocumento6 páginasSchumpeterAntonio Carlos RobazziAinda não há avaliações
- Sociedade Civil e Democracia - Nelson CoutinhoDocumento13 páginasSociedade Civil e Democracia - Nelson CoutinhoGreicieli RufinoAinda não há avaliações
- Artigo 1Documento7 páginasArtigo 1Odelio Emidio NhiuaneAinda não há avaliações
- A Estrela (De) Cadente - Uma Breve História Da Opinião PúblicaDocumento22 páginasA Estrela (De) Cadente - Uma Breve História Da Opinião PúblicaClaudimiro AraújoAinda não há avaliações
- Resenha CríticaDocumento130 páginasResenha CríticaJuscis MoraisAinda não há avaliações
- Teoria Democrática ContemporâneaDocumento27 páginasTeoria Democrática ContemporâneaVanessa DanAinda não há avaliações
- Sociologia - Regimes GovernamentaisDocumento6 páginasSociologia - Regimes GovernamentaisbrendaturchettuAinda não há avaliações
- DemocraciaDocumento14 páginasDemocraciaHerik KAUAN De Assis100% (1)
- Utopia Samuel MorynDocumento6 páginasUtopia Samuel MorynMargarita Elizabeth Rico AmparánAinda não há avaliações
- Trab. JEANNE Semana 1Documento8 páginasTrab. JEANNE Semana 1Emanuel FreitasAinda não há avaliações
- Crise Da Democracia Representativa LiberalDocumento49 páginasCrise Da Democracia Representativa LiberalManuela CorreiaAinda não há avaliações
- Jean-Luc Nancy & Jacques RancièreDocumento22 páginasJean-Luc Nancy & Jacques Rancièremallaguerra100% (1)
- Ideologia Trabalho de FilosofiaDocumento9 páginasIdeologia Trabalho de FilosofiaMichael Vinicius de AlmeidaAinda não há avaliações
- Dissertação - 17 Até 23 - Conceitos de DemocraciaDocumento12 páginasDissertação - 17 Até 23 - Conceitos de DemocraciagabrielfelipekmAinda não há avaliações
- Tempestade de IdeiasDocumento11 páginasTempestade de IdeiassouzabessamarisolAinda não há avaliações
- Democracia Moderna PDFDocumento17 páginasDemocracia Moderna PDFingridvan1Ainda não há avaliações
- Carlos Nelson - Democracia, Um Conceito em DisputaDocumento15 páginasCarlos Nelson - Democracia, Um Conceito em DisputaeduseshalltAinda não há avaliações
- Guerras NapoleônicasDocumento12 páginasGuerras NapoleônicasRaissa SiqueiraAinda não há avaliações
- MIGUEL, Luís Felipe. - Teoria Democrática Atual Esboço de Mapeamento. In. BIB, São Paulo, Nº 59, 2005, Pp. 5-42 (1) - 6-42Documento37 páginasMIGUEL, Luís Felipe. - Teoria Democrática Atual Esboço de Mapeamento. In. BIB, São Paulo, Nº 59, 2005, Pp. 5-42 (1) - 6-42papi KAinda não há avaliações
- Notas Sobre Cidadania e Modernidade Nelson Coutinho1Documento25 páginasNotas Sobre Cidadania e Modernidade Nelson Coutinho1Rute SouzaAinda não há avaliações
- SCHUMPETER, Capitalismo, Socialismo e DemocraciaDocumento11 páginasSCHUMPETER, Capitalismo, Socialismo e DemocraciaGustavo Canova0% (1)
- Noções de Direito ConstitucionalDocumento15 páginasNoções de Direito ConstitucionalThe RockAinda não há avaliações
- Hannah Arendt: A Sociedade de Massas e A LiberdadeDocumento14 páginasHannah Arendt: A Sociedade de Massas e A LiberdadeAdrianus ClaudiusAinda não há avaliações
- Filosofia Política e Direitos HumanosDocumento14 páginasFilosofia Política e Direitos HumanosMargareth LeisterAinda não há avaliações
- A Crise Do Liberalismo Político e A Ascensão Do Liberalismo Econômico e Do Populismo AutoritárioDocumento30 páginasA Crise Do Liberalismo Político e A Ascensão Do Liberalismo Econômico e Do Populismo AutoritárioEdro Gomes RibeiroAinda não há avaliações
- Habermas Soberania PopularDocumento14 páginasHabermas Soberania PopularJuliana Morosino100% (1)
- HistDirPPolítico - Aula Dia 11 de MarçoDocumento20 páginasHistDirPPolítico - Aula Dia 11 de MarçoLetícia XavierAinda não há avaliações
- Historia Da Sociedade MiguelDocumento12 páginasHistoria Da Sociedade MiguelribeiroAinda não há avaliações
- NOTAS SOBRE CIDADANIA E MODERNIDADE Carlos Nelson CoutinhoDocumento24 páginasNOTAS SOBRE CIDADANIA E MODERNIDADE Carlos Nelson CoutinhoGuilherme MoreiraAinda não há avaliações
- Artigo-WPS OfficeDocumento7 páginasArtigo-WPS OfficeChanel de mandalena ZinenguaAinda não há avaliações
- Tocqueville e Stuart Mill - Reflexões Sobre o Liberalismo e A DemocraciaDocumento9 páginasTocqueville e Stuart Mill - Reflexões Sobre o Liberalismo e A DemocraciaMatheus JorgeAinda não há avaliações
- A Democracia Finita e Infinita NancyDocumento9 páginasA Democracia Finita e Infinita NancySil Deluchi100% (1)
- Anotações Sobre A Ideologia Nos Partidos Políticos No BrasilDocumento18 páginasAnotações Sobre A Ideologia Nos Partidos Políticos No BrasilHélvio Alberto FiedlerAinda não há avaliações
- TrabalhofilosofiaDocumento6 páginasTrabalhofilosofiaarihzzxAinda não há avaliações
- Módulo 1Documento14 páginasMódulo 1Victoria Regina Gomes AzevedoAinda não há avaliações
- Luis Felipe Miguel - Teoria Democrática Atual - Esboço de MapeamentoDocumento38 páginasLuis Felipe Miguel - Teoria Democrática Atual - Esboço de MapeamentoMaurina NascimentoAinda não há avaliações
- KAWAUCHE - Nem Tão Livres, Nem Tão Iguais - Revista de HistóriaDocumento4 páginasKAWAUCHE - Nem Tão Livres, Nem Tão Iguais - Revista de HistóriaDanilo NogueiraAinda não há avaliações
- DR LuisDocumento45 páginasDR LuisALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA MENDESAinda não há avaliações
- A Sombra Da Razão2Documento11 páginasA Sombra Da Razão2Leonardo PortoAinda não há avaliações
- Teoria Política 30.11.2023Documento6 páginasTeoria Política 30.11.2023Francisco PereiraAinda não há avaliações
- Democracia Moderna e FascismoDocumento13 páginasDemocracia Moderna e FascismoRe_RenzAinda não há avaliações
- Revisão - Av2 - 2022.2Documento10 páginasRevisão - Av2 - 2022.2Misrahim AndradeAinda não há avaliações
- Neoliberalismo e Direitos Humanos (Coimbra)Documento10 páginasNeoliberalismo e Direitos Humanos (Coimbra)jesiozamboniAinda não há avaliações
- QUESTIONARIODocumento25 páginasQUESTIONARIOSilvania CruzAinda não há avaliações
- UntitledDocumento21 páginasUntitledRita PintoAinda não há avaliações
- Antônio Pereira - Elistismo e Pluralismo Na Teoria Democrática - As Considerações de Schumpeter e DahlDocumento11 páginasAntônio Pereira - Elistismo e Pluralismo Na Teoria Democrática - As Considerações de Schumpeter e DahlFilipe WisleyAinda não há avaliações
- Desafios ContemporâneosDocumento37 páginasDesafios ContemporâneosVivi LealAinda não há avaliações
- 1-Armand Mattelart-Direito A Comunicação PDFDocumento17 páginas1-Armand Mattelart-Direito A Comunicação PDFcandidaAinda não há avaliações
- 20 Anos de Democracia - 1985-2005 - Carlos Estevam Martins PDFDocumento26 páginas20 Anos de Democracia - 1985-2005 - Carlos Estevam Martins PDFPaulo MasseyAinda não há avaliações
- Trabalho FinalDocumento7 páginasTrabalho FinalAndrey BragaAinda não há avaliações
- Artigo Livro MS LegalidadeDocumento24 páginasArtigo Livro MS LegalidadeJoão FrancoAinda não há avaliações
- A LIBERDADE COMO PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA Vinícius Dos Santos PDFDocumento17 páginasA LIBERDADE COMO PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA Vinícius Dos Santos PDFJuliana AggioAinda não há avaliações
- Aula 2 Cultura e DemocraciaDocumento39 páginasAula 2 Cultura e DemocraciaMarcelo OliveiraAinda não há avaliações
- Direito de GreveDocumento57 páginasDireito de Greveizael100% (3)
- BOBBIO, Norberto. As Ideologias e o Poder em Crise PDFDocumento240 páginasBOBBIO, Norberto. As Ideologias e o Poder em Crise PDFDyotima DiniAinda não há avaliações
- Caso Pratico RespostaDocumento6 páginasCaso Pratico Respostafabiano aozaniAinda não há avaliações
- Tópicos Do Exame de Direito Constitucional IDocumento7 páginasTópicos Do Exame de Direito Constitucional Ixanoca13100% (2)
- Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci - Conselhos de Fabrica-Brasiliense (1981)Documento64 páginasAmadeo Bordiga, Antonio Gramsci - Conselhos de Fabrica-Brasiliense (1981)Juliana RodriguesAinda não há avaliações
- Simulado 2 CNU Conhecimentos GeraisDocumento18 páginasSimulado 2 CNU Conhecimentos Geraisvictorreboucas36Ainda não há avaliações
- Tributário 2023 - Legislação TributáriaDocumento4 páginasTributário 2023 - Legislação TributáriaThiago OserfiscalAinda não há avaliações
- Livro Inteligência ArtificialDocumento646 páginasLivro Inteligência ArtificialgomestiagovipAinda não há avaliações
- 2023-01 Silvia PatuzziDocumento1 página2023-01 Silvia PatuzziJefferson de AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Direitos e Garantias FundamentaisDocumento8 páginasDireitos e Garantias FundamentaisCarlos Alexandre SantosAinda não há avaliações
- Ciência, Política e Gnosticismo de Eric VoegelinDocumento80 páginasCiência, Política e Gnosticismo de Eric VoegelinHANDERSON LEVIAinda não há avaliações
- 080109Documento6 páginas080109Maria Da Paz RodriguesAinda não há avaliações
- 07 Jsnelb Aldo Nogueira VenncioDocumento15 páginas07 Jsnelb Aldo Nogueira VenncioJoana MendesAinda não há avaliações
- CANOTILHO Estado de DireitoDocumento9 páginasCANOTILHO Estado de DireitoGustavo Fernandes SalesAinda não há avaliações
- 1 - Ação Declaratória CorreçãoDocumento5 páginas1 - Ação Declaratória CorreçãoKaren Lugobane ConceiçaoAinda não há avaliações
- NT AcsDocumento8 páginasNT AcsRegina MatosAinda não há avaliações
- A Contribuicao de Plinio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale para A Construcao de Um Estado - NacaoDocumento8 páginasA Contribuicao de Plinio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale para A Construcao de Um Estado - NacaoLeandro TorresAinda não há avaliações
- Aula 01Documento113 páginasAula 01kelvinAinda não há avaliações
- Tea Rico Direito Internacional Aula 01 PDFDocumento33 páginasTea Rico Direito Internacional Aula 01 PDFFernando MeirellesAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado PMMG SoldadoDocumento51 páginasEdital Verticalizado PMMG SoldadoLucas SerraAinda não há avaliações
- AvaliaçõesDocumento46 páginasAvaliaçõesmtadeuAinda não há avaliações
- Sociedade e ContemporaniedadeDocumento146 páginasSociedade e ContemporaniedadeLeda DovAinda não há avaliações
- Concurso Senado Consultor HomologadoDocumento5 páginasConcurso Senado Consultor HomologadoPORTGAS704Ainda não há avaliações
- Pmni de 27-06-2022 - Segunda-Feira Finall 26121516Documento13 páginasPmni de 27-06-2022 - Segunda-Feira Finall 26121516Sales SalesAinda não há avaliações
- Manual Códigos de Afastamento - SUBGEP - 1Documento174 páginasManual Códigos de Afastamento - SUBGEP - 1Artur LopesAinda não há avaliações
- Texto Era VargasDocumento2 páginasTexto Era VargasPaulo César100% (1)
- Almerindo Janela Afonso - Artigo AvaliaçaoDocumento12 páginasAlmerindo Janela Afonso - Artigo AvaliaçaoSergio Noite100% (3)
- Sociologia Jurídica e AntropologiaDocumento22 páginasSociologia Jurídica e AntropologiaLokomia Quechebara0% (1)
- Sobre A Democracia - R. DahlDocumento116 páginasSobre A Democracia - R. Dahllianevba1Ainda não há avaliações
- 1206 PDFDocumento776 páginas1206 PDFJoaoAinda não há avaliações