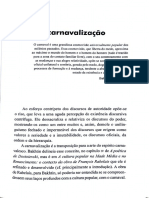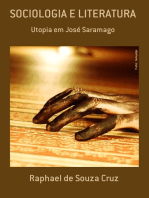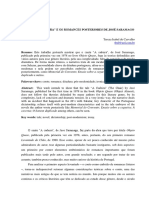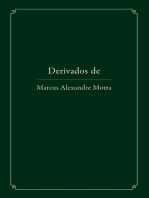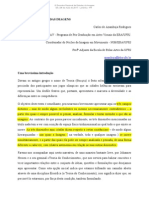Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sobre Os Limites Da Interpretação
Enviado por
Julia ScampariniDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Sobre Os Limites Da Interpretação
Enviado por
Julia ScampariniDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez.
2002
1
Sobre os limites da interpretao. O debate entre
Umberto Eco e Jacques Derrida
Eduardo R. Rabenhorst
*
1 Introduo
At o final dos anos setenta, a crtica literria esteve
profundamente influenciada pelo estruturalismo e pela primazia,
atribuda por esse movimento, ao texto em si. A partir dos anos 80,
no entanto, o quadro terico inverteu-se e os estudos no campo da
teoria literria passaram a priorizar os problemas da recepo dos
textos.
Os representantes desta guinada no campo da crtica literria,
so vagamente chamados de ps-estruturalistas. Contudo, bom
lembrar que esses autores, apesar de certa reciprocidade temtica,
esto longe de constituir uma unidade de pensamento. Alis, um dos
principais pontos de discordncia no mbito destas teorias ps-
estruturalistas concerne exatamente maneira como se deve
entender o processo de leitura de um texto.
Afinal, se estamos diante de um impulso cooperativo por meio
do qual a leitura realizaria o sentido da obra, como devemos
entender essa interferncia autoral do leitor? Qual , finalmente, o
campo da interpretao?
Um bom exemplo desta controvrsia aparece no debate
travado entre o semilogo italiano Umberto Eco e o filsofo francs
Jacques Derrida acerca dos limites do processo interpretativo.
Podemos dizer que, de certa maneira, tal controvrsia j um
exerccio de interpretao acerca de uma clebre frase de Paul
Valry: Il ny a pas de vrai sens dun texte (no h verdadeiro
sentido de um texto). Com efeito, h pelo menos duas interpretaes
possveis para a fala de Valry: a primeira diria que o significado de
um texto sempre e interminavelmente posposto; a segunda,
*
*
Dr. pela Universit de Strasbourg III Frana. Professor do Programa de Ps-Graduao em Direito da
Universidade Federal da Paraba.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
2
por sua vez, ressaltaria simplesmente o fato de que um texto pode
ser utilizado da forma mais livre possvel.
De acordo com a primeira interpretao, o processo
interpretativo seria entendido como um jogo interminvel, pois se um
texto, nos termos de Derrida, um tecido de signos, uma malha de
relaes, interpretar, por sua vez, seria simplesmente tecer um
tecido com os fios extrados de outros tecidos-textos.
De acordo com a segunda interpretao, ao contrrio, o
processo interpretativo no seria aleatrio, pois no entendimento de
Umberto Eco, haveria uma grande diferena entre usar um texto e
interpret-lo. O uso ampliaria o universo de sentido do texto. A
interpretao, ao contrrio, respeitaria a coerncia do texto, ou seja,
a unidade e a continuidade de sentido que ele possui.
Nosso objetivo, neste pequeno texto, apresentar os termos
desta polmica apontando as diferenas e proximidades entre as
duas perspectivas em tela. No nosso entendimento, ainda que
existam grandes divergncias entre as concepes de Umberto e
Jacques Derrida acerca da interpretao, tais discordncias podem
ser minimamente aplainadas a partir da identificao de alguns
pontos em comum nas perspectivas dos referidos autores.
2 A crtica ao estruturalismo
O estruturalismo pode ser genericamente definido como a
tentativa de se utilizar o modelo lingstico saussuriano como
paradigma das cincias humanas. Como mostra Franois Dosse, o
estruturalismo foi largamente empregado no apenas no campo da
filosofia e da crtica literria (M. Foucault, R. Barthes, A. Greimas,
por exemplo), mas tambm na antropologia (Lvi-Strauss) e na
psicanlise (Lacan), tomando rapidamente o lugar do existencialismo
como moda intelectual francesa
1
.
A noo central do estruturalismo, como a prpria expresso j
anuncia, a de estrutura, entendida como um todo no qual as partes
s ganham sentido em relao umas s outras. Tal noo remete
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
3
crtica realizada pelo lingista suo Ferdinand Saussure s
concepes aristotlica e agostiniana da linguagem, segundo as
quais as palavras se relacionam com a percepo de uma realidade
do mundo. Para Saussure, ao contrrio, a linguagem no pode ser
definida pelo seu contedo substancial, pois ela compe um sistema
de diferenas no qual cada signo recebe seu valor por uma
negatividade ou oposio aos outros signos.
Umberto Eco e Jacques Derrida so igualmente herdeiros do
modelo saussuriano, mas tambm so empreendedores de uma
crtica severa aos seus postulados.
O semilogo italiano apresentou suas reservas lingstica
estruturalista em um texto publicado em 1968, cujo ttulo A
estrutura ausente. Nesse livro, Eco no apenas ataca a tese de que
a linguagem poderia remeter a uma estrutura objetiva, mas retoma a
idia contida em um dos seus livros iniciais, Obra aberta (1960), de
que os textos seriam continuamente reinventados pelas diversas
interpretaes que deles so feitas. Tais interpretaes, conforme
veremos adiante, no seriam aleatrias, pois ainda que uma obra de
arte seja uma mensagem fundamentalmente ambgua, uma
pluralidade de significados que convivem num s significante e,
que, por conseguinte, possibilite uma gama virtualmente inesgotvel
de leituras, ela tambm impe uma estrutura reguladora para essas
leituras.
Um signo, entende Eco, no apenas alguma coisa que est
no lugar de outra coisa, mas ele aquilo que sempre nos faz
conhecer algo mais. A condio de um signo no s a
substituio, mas a de que exista uma possvel interpretao. Dessa
forma, se o signo sempre o que me abre para algo mais, no h
interpretante que, ao conformar o signo que interpreta, no
modifique, mesmo que s um pouco, seus limites.
2
Isso no
significa dizer que o processo de interpretao seja incontrolvel,
1
Ver a propsito Franois Dosse. Histoire du structuralisme, 2 vols, Paris,
ditions de la dcouverte, 1991-1992.
2
Cf. Umberto Eco, Semitica e filosofia da linguagem, trad. de Mariarosaria
Fabris e Jos Luiz Fiorin, So Paulo, tica, 1991, p. 60.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
4
pois um signo, como mostraremos a seguir, sempre, no
entendimento de Eco, uma instruo para a interpretao.
A crtica empreendida por Jacques Derrida lingstica
estruturalista possui uma outra envergadura. Ao contrrio de seu
colega italiano, Derrida no se contenta em denunciar o realismo
ontolgico de seus mestres estruturalistas, mas ele parte para um
projeto muito mais ambicioso que recebe o nome de
desconstruo.
O prprio Derrida reconhece que esse termo criado numa
interpretao dos termos Destruktion e Abbau utilizados pelo
filsofo alemo Martin Heidegger um tanto ambguo em virtude
da sua prpria composio gramatical negativa. Desconstruo
sugere destruio, negao, niilismo... Entretanto, aos olhos de
Derrida a desconstruo uma estratgia afirmativa e no negativa.
Ela no uma tcnica, um modelo ou um novo mtodo, mas uma
postura de desmonte dos pressupostos fundamentais da metafsica
europia. A estratgia consiste em buscar numa herana da qual
no podemos nos livrar (a metafsica ocidental), os recursos
necessrios para a desconstruo dessa mesma herana
3
.
O projeto do filsofo francs aparece em trs obras publicadas
no ano de 1967: De la grammatologie, Lcriture et la diffrance e La
3
Cf. Jacques Derrrida, A escritura e a diferena, So Paulo, Perspectiva, 1971, p.
235 e 238. De uma forma inigualvel, Richard Freadman e Seumas Miller
resumem tal estratgia nos seguintes termos: Derrida afirma que a histria do
pensamento ocidental baseia-se em e condicionada por um conjunto de
pressuposies metafsicas que so especficas da cultura do Ocidente. Esse
conjunto de pressuposies, e a tradio na qual elas esto inscritas, ele
chama de logocentrismo. Sua exposio desse fenmeno supostamente
etnocntrico direciona-se em grande parte para a filosofia ocidental, e o
fenmeno, com sua descrio, caracterizado por uma srie de traos. Em
primeiro lugar, ele acarreta comprometimentos com grupos de conceitos ou
categorias: por exemplo, matria/forma, essncia/circunstncia, mente/corpo.
Em segundo lugar, esses conceitos existem em relaes opositivas de uns para os
outros e so ordenados hierarquicamente. Dessa forma, no que diz respeito ao
grupo mente/corpo, mente se ope a corpo; alm disso mente priorizada. Em
quarto lugar, um comprometimento com o logocentrismo o comprometimento
com algum tipo de fundamentalismo conceitual, isto , com o projeto de busca
de determinados conceitos ou categorias fundamentais em termos das quais
possamos explicar a realidade em geral. Isso significa que o logocentrismo inclui
um comprometimento com a existncia de algum tipo de realidade que admite
ou requer explicao. Em quinto lugar, todas essas categorias, em sua
diversidade, so subordinveis a uma supercategoria ou rubrica de presena.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
5
voix et le phnomne. Nelas Derrida compartilha da idia
saussuriana de interdependncia das unidades lingsticas, mas ele
sustenta que o lingista suo e os estruturalistas no foram capazes
de conduzir essa idia at as suas ltimas conseqncias. Para
Derrida, o estruturalismo terminou por admitir o mito metafsico de
um significado transcendental anterior prpria linguagem, ao
postular que os diferentes sistemas lingsticos organizam seus
elementos com base em um contedo anterior a qualquer lngua.
Dessa forma, entende Derrida, a lingstica estrutural, apesar de
romper com as concepes tradicionais, permanece prisioneira dos
postulados da metafsica ocidental.
Para combater esta posio, Derrida sustenta que o signo no
remete a qualquer ponto fixo (um sistema estvel ou as intenes
daqueles que o utilizam), mas ele se refere, invariavelmente, a
contextos anteriores (passados) e posteriores (futuros), operando
uma desintegrao de sua prpria unidade, permanncia ou
estabilidade. O significado de um signo, entende o filsofo francs,
nunca est presente, mas ele se encontra sempre diferido nos
dois sentidos do verbo latino diferir, qual sejam, divergir e de
protelar em um movimento denominado de diffrance. Com tal
neologismo, Derrida procura acentuar que o processo de
significao remete no ao encontro de uma presena anterior
linguagem, mas a um infinito processo de adiamentos e
remisses.
4
A crtica de Derrida noo estruturalista de signo conduz o
autor da Gramatologia a vislumbrar uma nova concepo da
produo e leitura de um texto. O mvel dessa concepo a idia
de iterabilidade (outro neologismo criado por Derrida), ou seja, a
repetio ou recorrncia de um signo que acarreta sempre na
modificao de seu significado.
Cf. Richard Freadman e Seumas Miller, Re-pensando a teoria, So Paulo, Editora
Unesp, 1994.
4
Cf. Cristina Carneiro Rodrigues, Traduo e diferena, So Paulo, Editora
UNESP, 2000, p. 198.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
6
Para Derrida, a escritura, mais do que a fala, representa um
ntido rompimento com o seu contexto de produo, pois ela se
exerce independentemente das intenes de seu agente. A leitura,
por sua vez, ao realizar um movimento de iterao ou repetio,
parasita e contamina aquilo que ela repete
5
.
Como no existe um significado fixo e imutvel (transcendental
ou vinculado s intenes de um autor), a atividade interpretativa
nunca esgotar o significado de um texto. A escritura est livre sua
repetio, e toda interpretao, afirma Derrida numa aluso a
semitica de C. S. Peirce, se constitui como um processo semntico
de regresso infinita
6
.
3 Abertura e limites
Da forma como acabamos de expor, no parece existir uma
grande divergncia entre os pensamentos de Umberto Eco e
Jacques Derrida. Afinal, a crtica empreendida por esses autores ao
modelo estruturalista conduz, aparentemente, s mesmas
concluses. Contudo, apesar da existncia de diversos pontos em
comum, as obras de Eco e Derrida divergem acerca da maneira
como devemos compreender o processo interpretativo de um texto.
Tais diferenas no apareciam claramente na poca em que
Eco publicou sua Obra aberta. Naquele momento, como j
sublinhamos, o semilogo italiano propunha um enfoque
absolutamente inovador da teoria da recepo, ao defender a idia
de que o espectador recriaria a obra de arte, ao tomar contato com
ela. Essa idia de uma interferncia autoral do receptor (que deixa
de ser um mero decodificador passivo dos significados postos por
5
Este processo de repetio assim exemplificado por Rosemary Arroyo:
Enquanto escrevo este texto, estou construindo uma trama que, para mim,
neste momento, tem apenas uma possibilidade de significado, aquela que lhe
atribuo agora. No entanto, este texto, colocado no papel e lido por outra
pessoa, inclusive por mim mesma, em outro momento, ser uma nova escritura;
a primeira trama, j desfeita, ser tecida novamente, mas formando outros
desenhos, novas formas, e junto com ela tecendo-se, a cada vez, a iluso de se
prender o signo na nova malha. Cf. Rosemary Arroyo (Org.), O signo
desconstruido, Campinas, Pontes, 1992 , p. 32.
6
Cf. Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Les ditions de Minuit, 1967,
p. 72.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
7
um autor) igualmente assumida por Derrida em sua crtica ao mito
de um significado transcendental.
Contudo, passados trinta anos da apario de Obra aberta,
Eco publicou um livro que, para muitos, representa uma espcie de
revisonismo com relao aos seus trabalhos de juventude: Os
limites da interpretao. O prprio Eco, no entanto, no v qualquer
descontinuidade entre a Obra Aberta e Os Limites da interpretao.
Nos dois casos, sustenta o semilogo italiano, os objetivos eram
idnticos: tratava-se de identificar a dialtica existente entre a
iniciativa do intrprete e a fidelidade obra
7
.
Para Eco, a Obra Aberta, a despeito de seu ttulo, j concebia a
interpretao como um ato cooperativo
8
. Porm, ele reconhece que
essa idia s aparece com toda sua clareza em um texto posterior
intitulado Lector in Fabula. Nesse trabalho, Eco sustenta que o leitor
manteria uma relao dialtica com o autor de uma obra, pois ele
seria co-participante do processo de construo de um texto
narrativo. Para o semilogo italiano, todo texto conceberia um leitor-
modelo capaz de cooperar com o autor da obra, ou seja, um leitor
que ajudaria o texto a funcionar:
O texto est, pois, entremeado de espaos brancos, de
interstcios a serem preenchidos, e que o emitiu previa que
7
Quando publiquei o meu trabalho Obra aberta, escreve Eco, eu me perguntava
como que uma obra podia postular, de um lado, uma livre interveno
interpretativa a ser feita pelos prprios destinatrios e, de outro, apresentar
caractersticas estruturais que ao mesmo tempo estimulassem e
regulamentassem a ordem das suas interpretaes. Conforme aprendi mais
tarde, sem saber eu estava ento s voltas com a pragmtica do texto (...) ou
seja, a atividade cooperativa que leva o destinatrio a tirar do texto aquilo que
o texto no diz (mas que pressupe, promete, implica e implicita), a preencher
espaos vazios, a conectar o que existe naquele texto com a trama da
intertextualidade da qual aquele texto se origina e para qual acabar
confluindo. Cf. Umberto Eco. Lector in fabula. A cooperao interpretativa nos
textos narrativos, trad. de Attlio Cancian, So Paulo, Perspectiva, 1986,
introduo.
8
Eco ressaltou em vrias oportunidades que o ttulo Obra Aberta representava
um oxmoro, ou seja, a ocorrncia de dois termos contrrios. A propsito, no
apndice escrito para a traduo francesa de Obra aberta, ele conta que quando
o livro foi publicado, muitos artistas vieram lhe indagar acerca da maior ou
menor abertura de suas produes. Ora, escreve Eco, o que estes artistas no
entenderam que inexistem obras mais ou menos abertas, pois a noo mesma
de abertura indissocivel da prpria noo de obra. Uma obra, observa o
semilogo italiano, aberta enquanto ela for uma obra e, reciprocamente, uma
obra considerada como tal enquanto permanecer aberta.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
8
esses espaos e interstcios seriam preenchidos e os deixou
brancos por duas razes. Antes de tudo, porque um texto um
mecanismo preguioso (ou econmico) que vive da valorizao
de sentido que o destinatrio ali introduziu (...) Em segundo
lugar, porque medida que passa da funo didtica para a
esttica, o texto quer deixar ao leitor a iniciativa interpretativa,
embora costume ser interpretado com uma margem de
univocidade. Todo texto quer que algum o ajude a funcionar
9
.
O leitor modelo no deve ser confundido com o leitor emprico
ou concreto. Trata-se de uma construo realizada pelo prprio
autor do texto que funciona como uma condio indispensvel da
prpria comunicao. O leitor modelo criao de um autor-modelo,
pois esse ltimo, ao gerar um texto, move-se como um jogador de
xadrez que prev os lances do outro jogador. O autor, afirma Eco,
movimenta-se gerativamente, concebendo um leitor que, por sua
vez, se movimentar interpretativamente : prever o prprio leitor-
modelo no significa somente esperar que ele exista, mas significa
tambm mover o texto de modo a constru-lo.
10
Estamos, portanto,
diante de um jogo com uma estrutura circular: o texto postula um
leitor-modelo que, por sua vez, d forma imaginria a um autor-
modelo.
Quais so os movimentos cooperativos que o leitor de um texto
realiza? Em primeiro lugar, sublinha Eco, o leitor depara-se com o
texto entendido como manifestao linear. Com efeito, o texto deve
determinar com preciso uma lngua L, comum ao emissor e ao
destinatrio. Em seguida, o leitor parte para a identificao do
contexto lingstico do texto e das circunstncias de sua enunciao.
Para Eco, no ato de leitura, o leitor trabalha com sua enciclopdia,
ou seja, com o registro de funcionamento de uma determinada
lngua em toda a sua complexidade, contemplando regras de
significao e instrues pragmaticamente orientadas
11
Graas
enciclopdia, uma espcie de biblioteca das bibliotecas, que
estabelece um roteiro ou script prvio e que contm o registro de
todas as interpretaes anteriores, o leitor pode ir alm dos
9
Cf. Umberto Eco, Lector in fabula, op. cit., p. 37.
10
Cf. Umberto Eco. Lector in fabula, op. cit., p. 40.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
9
significados lexicais e detectar os diversos sentidos de uma
expresso
12
.
Esta idia de que um texto postula um pacto de cooperao
com o leitor como condio prpria de sua atualizao, ser
retomada em Os limites da interpretao. Nesse trabalho tambm
encontramos a distino proposta em Lector in fabula, entre o uso
de um texto e sua interpretao. Conforme assinalamos
anteriormente, no entendimento de Eco a interpretao ocorre
sempre que respeitamos a coerncia de um texto, ou seja, quando
temos em vista o mundo possvel de um texto e o lxico de uma
poca. O uso, por sua vez, d-se quando tomamos o texto da forma
a mais livre possvel, ampliando o universo do discurso. Uso e
interpretao so duas formas igualmente vlidas de aproximao
de um texto. O que importa, ressalta Eco, saber distingui-las
13
.
Se o uso de um texto ilimitado, a sua interpretao no o .
Para demonstrar essa tese, Eco analisa a clssica oposio entre a
interpretao como busca da intentio auctoris (o que o autor quis
dizer), e a interpretao como atribuio de uma intentio lectoris (o
que, no texto, o destinatrio encontra com relao ao seu prprio
sistema de significao). Entre a defesa do carter autotlico de um
texto e a defesa da recepo do leitor, Eco escolhe uma via
intermediria, a saber, a do respeito a intentio operis (a inteno da
prpria obra).
Contudo, a intentio operis entendida por Eco em uma
acepo bastante especfica. No se trata de defender que a
interpretao a busca daquilo que a obra diz revelia de seu
11
Cf. Umberto Eco, Semitica e filosofia da linguagem, op. cit., pp. 76-77.
12
Sobre o conceito de enciclopdia ver Lector in fabula, op. cit., p.1 e passim.
Ver tambm Umberto Eco, Tratado geral de semitica, So Paulo, Perspectiva,
1997, p. 101.
13
No entendimento do semilogo italiano, ao demarcarmos as fronteiras entre o
uso e a interpretao, podemos verificar que certas leituras de um texto
conduzem a interpretaes ilegitimveis. Com efeito, podemos seguir a sugesto
de Borges no sentido de ler a Imitao de Cristo como se fosse escrito por Cline.
No caso, o jogo consistiria em trocar no texto a palavra Graa por Desgraa.
No caso, ento, estaramos fazendo um uso do texto e no uma interpretao.
Por mais que a sugesto de Borges seja maravilhosa como experincia esttica,
conclui Eco, ela no caracterizaria uma cooperao com o autor de A Imitao de
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
10
autor. Se um texto, conforme j foi assinalado, um artefato
concebido com o propsito de produzir um leitor modelo, a
interpretao move-se, portanto, em um crculo: o leitor interpreta o
texto, mas o prprio texto, atravs de sua cartografia, procura levar
ao seu intrprete o sentido que preconiza
14
. Dessa forma, interpretar
emitir uma conjectura sobre a intentio operis, tomando o texto
como um todo orgnico. Tais conjecturas so a princpio infinitas,
mas a partir de um teste de coerncia textual, algumas delas sero
descartadas.
O limite da interpretao dado, em primeiro lugar, pela idia
segundo a qual um texto um todo coerente. Com efeito, ao
interpretar um texto o leitor extrai certa poro do mesmo, poro
que ser confirmada ou rejeitada pelas demais pores do texto. Em
outras palavras, a interpretao de uma parte do texto validada se
ela funciona para todo o texto. Neste sentido, conforme assinala
Eco, reconhecer a intentio operis perceber uma espcie de
estratgia semitica:
Como provar uma conjectura acerca da intentio operis? A
nica maneira verifica-la a partir do texto enquanto conjunto
coerente. Tambm esta idia uma idia antiga e vem-nos de
Agostinho (De doctrina christiana): qualquer interpretao dada
de certa parte de um texto poder ser admitida se confirmada
por e dever ser rejeitada se for contrariada por uma
outra parte do mesmo texto. Neste sentido a coerncia textual
interna controla as derivas de outro modo incontrolveis do
leitor.
15
Mas o ato interpretativo, alm de considerar o texto como um
todo orgnico, leva em conta tambm as condies de produo
desse texto. Afinal, quando um amigo nos escreve uma carta, por
exemplo, no podemos deixar de nos interessar por suas intenes,
portanto, por aquilo que o autor emprico quis dizer. O mesmo no
ocorre quando o texto endereado no a algum em particular,
Cristo, mas, ao contrrio, seria uma espcie de violncia com relao ao
contexto de criao dessa obra.
14
Cf. Umberto Eco, Les limites de linterprtation, Paris, Bernard Grasset, 1992,
p. 41.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
11
mas para uma comunidade de leitores. Neste caso, a inteno do
autor emprico torna-se intil. Um texto deste tipo ser interpretado
segundo uma estratgia complexa que envolve os leitores e a lngua
entendida como enciclopdia. Se o intrprete ignorar tais exigncias,
acredita Eco, ele no produzir uma interpretao correta do texto,
mas apenas uma sobreinterpretao (overinterpretation) ou
interpretao paranica.
Uma sobreinterpretao aquela que no respeita os
princpios de economia textual. Um exemplo, fornecido por Eco,
seria a tentativa de se atribuir ao termo gay na frase de
Wordsworth, A poet could not but be gay, uma conotao sexual.
Agir assim seria desrespeitar o mundo possvel da obra e o sistema
lexical de seu tempo. No entendimento do semilogo italiano o
conceito de sobreinterpretao funciona como uma espcie de
falibilismo hermenutico inspirado no falibilismo epistemolgico de
Karl Popper: no se trata de dizer que uma interpretao
verdadeira, mas simplesmente de refutar uma determinada
interpretao considerada sem xito. Isto acontece quando uma
leitura desrespeita a coerncia do texto, os critrios pblicos do
mundo da obra e de seu sistema lexical, e torna-se incapaz de ser
confrontada com as interpretaes anteriores.
4 O grau zero da linguagem
A defesa do carter limitado do processo interpretativo conduz
o semilogo italiano a sustentar uma idia aparentemente pouco
compatvel com os seus trabalhos de juventude: a existncia de um
sentido literal que funcionaria como uma espcie de grau zero da
linguagem.
Contudo, necessrio entender que Eco no concebe o
sentido literal nos moldes tradicionais. Em geral, a literalidade
associada a uma estabilidade de significado que preservaria uma
palavra ou signo de qualquer interferncia contextual ou
interpretativa. Mas esse no o ponto de vista de Eco. No se trata
15
Cf. Umberto Eco, Sobreinterpretao dos textos, in Stefan Collini (Dir.),
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
12
de sustentar a existncia de um sentido neutro e independente dos
sujeitos e, menos ainda, de defender a pressuposio do significado
transcendental to combatido por Derrida.
Na verdade, a concepo de Eco acerca da literalidade se
esclarece na prpria reavaliao que o mesmo faz do sentido
figurado da linguagem, principalmente, o sentido metafrico. Uma
metfora, sublinha Eco, surge quando, com base numa identidade
de metonmias (duas propriedades iguais em dois sememas
diferentes), se substitui um semema pelo outro.
16
Assim, por
exemplo, na metfora O homem uma fera h uma substituio do
semema homem por fera, tomando como ponto de partida o fato
de que os dois sememas contm a crueldade como sema.
Todavia, sustenta Eco, a compreenso de uma metfora no
universal, mas depende do contexto e das circunstncias nas quais
ela aparece. Com essa afirmao, Eco toma suas distancias com
relao idia de John Searl e e Donald Davidson (combatidas com
veemncia por Derrida) de que as metforas estariam relacionadas
com as intenes do locutor. Nesse sentido, sublinha Eco, A
interpretao metafrica nasce da interao entre um intrprete e
um texto metafrico, mas o resultado dessa interpretao
autorizado tanto pela natureza do texto quanto pelo quadro geral dos
conhecimentos enciclopdicos de uma certa cultura, e em regra
geral, ela no tem nada a ver com as intenes do locutor.
17
5 Eco versus Derrida?
Interpretao e sobreinterpretao, Lisboa, Presena, 1993, p. 60.
16
Cf. Umberto Eco, Semitica e filosofia da linguagem, op. cit., p. 181.
17
Cf. Umberto Eco, Les limites de linterprtation, op. cit., p. 163. Para Searle e
Davidson a significao metafrica de um termo de ordem pragmtica e no
semntica. Em outras palavras, no existe um significado metafrico distinto do
significado literal, mas apenas utilizao diferente (imaginativa ou esttica) dos
termos em funo das intenes do locutor. A construo da metfora, acredita
Davidson, pode ser comparada a construo da mentira, pois mentir no
concerne ao significado de um enunciado (semntica), mas a sua enunciao
(pragmtica). Em geral, observa o filsofo americano, pensamos que mentir
enunciar uma falsidade. Contudo, mentir no afirmar uma falsidade; afirmar
a verdade de algo que o locutor sabe ser falso. Da mesma forma, o locutor
produz uma metfora quando, conhecendo o sentido literal do termo, decide
utiliza-lo em um outro sentido. Ver a propsito Donald Davidson. Enquetes sur la
verit et linterprtation, Nimes, ditions Jacqueline Chambon, 1993.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
13
Ao introduzir o conceito de sobreinterpretao Eco procurou
combater os desvios de uma semiose ilimitada segundo a qual um
texto seria indefinidamente aberto e suas interpretaes infinitas.
Para Eco, um texto pode ter mltiplos sentidos, mas disso no se
infere que ele possa ter qualquer sentido.
O alvo visado , quase sempre, Derrida (ou os derridarianos).
Em Semitica e filosofia da linguagem, ao examinar o debate
travado entre Derrida e John Searle, Eco j havia observado que a
postura terica do primeiro conduz a uma espcie de paradoxo.
Naquela ocasio, Derrida acusou Searle de no ter interpretado
corretamente sua Gramatologia, quando, na verdade, o que a teoria
expressa nesse livro postula exatamente a inexistncia de uma
forma correta de se ler os textos
18
.
Em Os limites da interpretao, Eco retoma esta mesma crtica
em termos diferentes. Para Eco, Derrida alude s idias de Peirce
na fundamentao de sua tese de que os textos podem ser
infinitamente interpretados. O prprio semilogo italiano reconhece
que algumas afirmaes de Peirce parecem autorizar tal leitura,
ainda que esse ltimo tenha enfatizado o carter intersubjetivo de
toda interpretao. O problema, porm, que, paradoxalmente,
Derrida assume a sua interpretao de Peirce como filosoficamente
correta, descartando outras possveis leituras
19
.
Obviamente, ao contrrio de outros filsofos que tambm foram
acusados de cometer este tipo de contradio formal (Popper, por
exemplo, com seu critrio de falseabilidade que no no
falsificvel), Derrida no pode fazer uso da distino entre linguagem
e metalinguagem, pois a prpria noo de metalinguagem
considerada pela desconstruo como um resqucio do
logocentrismo. O que se pode alegar a favor de Derrida, no entanto,
o fato do filsofo francs ser o primeiro a reconhecer em suas
obras que no existe uma linguagem estranha histria da
metafsica e que no possvel formular um enunciado destruidor
18
Cf. Umberto Eco, Semitica e filosofia da linguagem, op. cit., p. 226.
19
Cf. Umberto Eco, Les limites de linterprtation, op. Cit., p. 376.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
14
que no deslize, ele prprio, para a forma daquilo mesmo que ele
busca destruir.
Em todo caso, as crticas formuladas por Eco, como ele mesmo
reconhece, no visam invalidar o projeto filosfico proposto por
Derrida. Esse ltimo, reconhece o primeiro, diz coisas que nenhum
semilogo pode negligenciar. Na verdade, o que Derrida objetiva
instaurar uma prtica desafiadora da idia de um significado
transcendental. Seu confronto, sublinha Eco, menos com o sentido
de um texto qualquer, e mais com aquilo que ele denomina de
metafsica da presena. O que a desconstruo pretende mostrar
o poder da linguagem e sua capacidade de dizer mais do que
pretende dizer denotativamente.
20
Por ocasio das conferncias proferidas nas Tanner Lectures
em 1990, reunidas por Stefan Collini sob o ttulo Interpretao e
sobreinterpretao, Eco retoma seu confronto com o modelo da
descontruo. Nesse embate, o semilogo italiano no apresenta
novas idias, mas resume, de forma magistral, as teses defendidas
no conjunto de sua obra. Interpretao e sobreinterpretao um
livro interessante no apenas porque condensa as principais idias
de Eco acerca da interpretao, mas tambm porque contm uma
rplica aos seus crticos. Interessante notar que, nestas
conferncias, Eco teve como principal opositor no os
desconstrucionistas, ali representados pelo professor Jonathan
Culler, mas os pragmatistas liderados por Richard Rorty.
Retomando sua distino entre uso e interpretao, Eco volta
a insistir na tese de que no se deve inferir da premissa de que um
texto seja potencialmente sem fim, a concluso de que todo ato de
interpretao possa ter um final feliz. Nesse aspecto, Jonathan
Culler, retomando as idias de Derrida, reconhece que a
interpretao ocorre em um contexto social e histrico que
20
Idem ibidem, p. 373.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
15
circunscreve a polissemia. Se o sentido limitado pelo contexto, o
contexto, por sua vez, que ilimitado
21
.
Dessa forma, como mostra Peter Hadreas, Derrida ao
contrrio do que supem muitos desconstrucionistas no
apenas aquele que diz que il ny a pas de hors-texte (no h nada
fora do texto) mas tambm aquele que afirma que il nexiste rien
hors contexte (no h nada fora do contexto)
22
.
Todo signo, escreve Derrida, lingstico ou no lingstico,
falado ou escrito (no sentido corrente dessa oposio), em
pequena ou em grande unidade, pode ser citado, colocado
entre aspas; da ele pode romper com todo contexto dado,
engendrar ao infinito novos contextos, de forma absolutamente
no saturvel. Isso no supe que a marca vale fora do
contexto, mas ao contrrio que s h contextos sem qualquer
centro de ancoragem absoluto.
23
Minimizando as diferenas que existiriam entre a semitica e a
desconstruo, Culler afirma que a interpretao no precisa de
defesa. A interpretao s se torna realmente interessante quando
extrema. Uma interpretao que articula o consenso, ainda que
importante em certas situaes, de interesse reduzido. No mais,
insiste Culler, aquilo que Eco chama de sobreinterpretao pode de
fato ser a prtica de levantar precisamente as questes que no so
necessrias comunicao normal mas que nos tornam capazes de
refletir sobre o seu funcionamento. Dessa forma, para o filsofo
americano, em vez de falarmos de interpretao e
sobreinterpretao, deveramos falar de compreenso e
aprofundamento dos textos. A compreenso seria semelhante ao
que Eco imaginou ao conceber a idia de um leitor-modelo.
Compreender, diz Culler, pr as perguntas e descobrir as
respostas em que o texto insiste. Era uma vez trs porquinhos
21
Em verdade, para Derrida todo texto se d em uma cena que tambm contm
um fundo latente, ou seja, um Arrire-plan. Por conseguinte, o contexto tambm
uma espcie de texto.
22
Cf. Peter Hadreas, Searle versus Derrida?, Philosophiques, vol. XXIII, n.2
(texto citado a partir da verso eletrnica publicada em
http://www.cam.org/~gagnonc/ph.html).
23
Cf. Jacques Derrida, Signature vnement et Contexte, in Limited Inc. P36.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
16
pede que perguntemos: E depois o que aconteceu? e no Por
que trs? (...) O aprofundamento, por contraste, consiste em
procurar questes que o texto no coloca ao seu leitor
modelo.
24
Eco, em sua rplica, concorda com Culler, e reconhece que
mesmo as sobreinterpretaes podem ser proveitosas. Contudo, o
semilogo italiano volta a insistir na idia de um mnimo de
aceitabilidade de uma interpretao na base de um consenso da
comunidade. Nesse ponto, porm, no h grandes discordncias
entre as idias de Eco e as do modelo proposto pela desconstruo.
Afinal, nem mesmo o desconstrucionista mais radical negaria o fato
de que a despeito de toda a polissemia, existe uma possibilidade de
compreenso intersubjetiva. Como diria Stanley Fish que mesmo
no sendo um desconstrutivista compartilha de algumas das idias
de Derrida no podemos atribuir s palavras e aos textos
qualquer sentido em funo dos nossos desejos, pois estamos
situados em uma comunidade interpretativa que produz significados
de forma pblica e convencional
25
.
6 Referncias bibliogrficas
COLLINI, Stefan (Dir.).Interpretao e sobreinterpretao, Lisboa:
Presena, 1993.
DAVIDSON, Donald. Enquetes sur la verit et linterprtation, Nimes:
ditions Jacqueline Chambon, 1993.
DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferena. So Paulo:
Perspectiva, 1971.
_____. De la grammatologie, Paris, Les ditions de Minuit, 1967.
ARROYO, Rosemary (Org.). O signo desconstruido, Campinas:
Pontes, 1992.
DOSSE, Franois. Histoire du structuralisme, 2 vols, Paris: ditions
de la dcouverte, 1991-1992.
24
Cf. Jonathan Culler, Em defesa da sobreinterpretao, in Stefan Collini (Dir.)
Interpretao e sobreinterpretao, Lisboa, Presena, 1993, p. 101.
25
Cf. Stanley Fish, Is there a text in this class? The autority interpretive
communities, Cambridge: Havard University Press, 1980.
Prim@ Facie ano 1, n. 1, jul./dez. 2002
17
ECO, Umberto. Obra aberta. Forma e indeterminao nas poticas
contemporneas, trad. de Giovanni Cutolo, So Paulo: Perspectiva,
1988.
_____ . Les limites de linterprtation. Paris: Bernard Grasset, 1992.
_____ . Semitica e filosofia da linguagem. Trad. de Maria Rosaria
Fabris e Jos Luiz Fiorin. So Paulo: tica, 1991.
_____ . Lector in fabula. A cooperao interpretativa nos textos
narrativos, trad. de Attlio Cancian. So Paulo: Perspectiva, 1986.
_____ . Sobre os espelhos e outros ensaios, trad. de Beatriz Borges.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.
FISH, Stanley. Is there a text in this class? The autority interpretive
communities, Cambridge: Havard University Press, 1980.
FREADMAN, Richard e MILLER, Seumas. Re-pensando a teoria.
So Paulo: UNESP, 1994.
GLOSSRIO DE DERRIDA. trabalho realizado pelo Departamento
de Letras da PUC/RJ, superviso geral de Silviano Santiago, Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1976.
HADREAS, Peter. Searle versus Derrida?. Philosophiques. vol.
XXIII, N. 2 (verso eletrnica publicada em
http://www.cam.org/~gagnonc/ph.html).
PEALVER, Patrcio. Desconstruccin. Escritura y filosofia,
Barcelona: Montesinos, 1990.
RODRIGUES, Cristina Carneiro. Traduo e diferena, So Paulo:
UNESP, 2000.
SALOMO, Sonia. Tradio e inveno. A semitica literria
italiana, So Paulo: tica, 1993.
SCHIFFER,Daniel Salvatore. Umberto Eco. O labirinto do mundo.
Rio de Janeiro: Globo, 2000.
ZIMA, Pierre V., La dconstruction.Une critique, Paris: PUF, 1994.
Você também pode gostar
- Gêneros Textuais E O Ensino De Língua PortuguesaNo EverandGêneros Textuais E O Ensino De Língua PortuguesaAinda não há avaliações
- O Leitor-Modelo de Umberto Eco e o Debate Sobre Os Limites Da InterpretaçãoDocumento18 páginasO Leitor-Modelo de Umberto Eco e o Debate Sobre Os Limites Da InterpretaçãoTarcyanie SantosAinda não há avaliações
- (ARTIGO) TEIXEIRA, Lucia. A Pesquisa em SemióticaDocumento19 páginas(ARTIGO) TEIXEIRA, Lucia. A Pesquisa em SemióticaAnaAinda não há avaliações
- A Natureza Heterogênea Do DiscursoDocumento7 páginasA Natureza Heterogênea Do DiscursoKaiser GoldAinda não há avaliações
- Leitura e Produção Do Texto Criativo 2Documento14 páginasLeitura e Produção Do Texto Criativo 2Midiã EllenAinda não há avaliações
- Robert Stam - Intertextualidade PDFDocumento35 páginasRobert Stam - Intertextualidade PDFCarol BenazzatoAinda não há avaliações
- Iser Wolfgang o Ficticc81cio e o Imaginacc81rioDocumento10 páginasIser Wolfgang o Ficticc81cio e o Imaginacc81rioHailton GuiomarinoAinda não há avaliações
- Traços Pós-Modernos Na Ficção Portuguesa Actual - Isabel Pires de LimaDocumento13 páginasTraços Pós-Modernos Na Ficção Portuguesa Actual - Isabel Pires de LimaSilvio Cesar dos Santos AlvesAinda não há avaliações
- NODIER Do Fantastico em LiteraturaDocumento17 páginasNODIER Do Fantastico em LiteraturaRenato Bradbury de OliveiraAinda não há avaliações
- Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos - O Romance Como Gênero Planetário PDFDocumento9 páginasSandra Guardini Teixeira Vasconcelos - O Romance Como Gênero Planetário PDFLucas AlvesAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro o Obvio e ObtusoDocumento5 páginasResenha Do Livro o Obvio e ObtusoKeltrynWendlandAinda não há avaliações
- JaussDocumento22 páginasJaussRafael Dias100% (2)
- Sobre O Direito À Literatura, de Antonio CandidoDocumento8 páginasSobre O Direito À Literatura, de Antonio CandidoAdilson Dos SantosAinda não há avaliações
- A Carnavalização Introdução Ao Pensamento de Bakhtin de José Luiz FiorinDocumento14 páginasA Carnavalização Introdução Ao Pensamento de Bakhtin de José Luiz FiorinLucas D'AlessandroAinda não há avaliações
- A Prosa Brasileira Contemporânea - PellegriniTania PDFDocumento230 páginasA Prosa Brasileira Contemporânea - PellegriniTania PDFMidiã EllenAinda não há avaliações
- Bronckart PDFDocumento24 páginasBronckart PDFlaioAinda não há avaliações
- A Narrativa de Jose de AlencarDocumento195 páginasA Narrativa de Jose de AlencarClaudia IturrietaAinda não há avaliações
- Candido Realidade e Realismo Via Marcel Prosut PDFDocumento5 páginasCandido Realidade e Realismo Via Marcel Prosut PDFBinhaAinda não há avaliações
- Texto FiorinDocumento6 páginasTexto FiorinrsebrianAinda não há avaliações
- BAKHTIN - Estrutura Do EnunciadoDocumento20 páginasBAKHTIN - Estrutura Do EnunciadoGregório PereiraAinda não há avaliações
- Letramento Literario Por Vielas e AlamedasDocumento9 páginasLetramento Literario Por Vielas e AlamedasPaulo André CorreiaAinda não há avaliações
- A Formação Do Leitor e o Ensino Da LiteraturaDocumento10 páginasA Formação Do Leitor e o Ensino Da LiteraturapatssbarretoAinda não há avaliações
- As Metáforas Do FantásticoDocumento7 páginasAs Metáforas Do FantásticoTaïse RochaAinda não há avaliações
- Apostila - Teoria Da Literatura - Narrativa PDFDocumento95 páginasApostila - Teoria Da Literatura - Narrativa PDFAlexReblimBraunAinda não há avaliações
- Literatura Infantil: A Poesia - de Alice Áurea Penteado MarthaDocumento15 páginasLiteratura Infantil: A Poesia - de Alice Áurea Penteado MarthaRicardinho de SalesAinda não há avaliações
- EVEN-ZOHAR, Itamar. O Sistema LiterárioDocumento24 páginasEVEN-ZOHAR, Itamar. O Sistema LiteráriopgcAinda não há avaliações
- A Arte Narrativa Segundo Borges e o Ex-Mágico RubiãoDocumento7 páginasA Arte Narrativa Segundo Borges e o Ex-Mágico RubiãoJosé Luiz100% (1)
- Do Professor Suposto Pelos PCNs Ao Professor Real Da Língua Portuguesa - São Os PCNs PraticáveisDocumento18 páginasDo Professor Suposto Pelos PCNs Ao Professor Real Da Língua Portuguesa - São Os PCNs PraticáveisMarkus Santos100% (1)
- Bakhtin Desmascarado PDFDocumento3 páginasBakhtin Desmascarado PDFBeneditaF.SiprianoAinda não há avaliações
- A História Da Literatura Do Rio Grande Do Sul, de Guilhermino Cesar - Inventário Do Período de Formação Da Literatura Sul-Rio-GrandenseDocumento181 páginasA História Da Literatura Do Rio Grande Do Sul, de Guilhermino Cesar - Inventário Do Período de Formação Da Literatura Sul-Rio-Grandenseviniciusestima100% (1)
- A Teoria Da Literatura e As DesumanidadesDocumento18 páginasA Teoria Da Literatura e As DesumanidadesÍtalo CoutinhoAinda não há avaliações
- Leitura LiteráriaDocumento19 páginasLeitura LiteráriaSamuelPenteadoUrbanAinda não há avaliações
- LAFETÁ, João Luiz. Estética e Ideologia - o Modernismo em 1930. in A Dimensão Da NoiteDocumento7 páginasLAFETÁ, João Luiz. Estética e Ideologia - o Modernismo em 1930. in A Dimensão Da NoiteKamila BorgesAinda não há avaliações
- Mattoso-Variabilidade e Invariabilidade Na LínguaDocumento5 páginasMattoso-Variabilidade e Invariabilidade Na LínguaRoberta Mathias100% (1)
- Alcmeno Bastos - Estilos de ÉpocaDocumento21 páginasAlcmeno Bastos - Estilos de ÉpocaFrancisco Souza Nunes Filho100% (1)
- CURSO DE LETRAS - PRA QUÊ - Marcos BagnoDocumento5 páginasCURSO DE LETRAS - PRA QUÊ - Marcos BagnokristinreisAinda não há avaliações
- Semantica e Estilistica PDFDocumento36 páginasSemantica e Estilistica PDFFernando da SilvaAinda não há avaliações
- Entre o Boom e o Pós BoomDocumento16 páginasEntre o Boom e o Pós BoomMatheus GaudardAinda não há avaliações
- O Pós Colonialismo Inocência MataDocumento7 páginasO Pós Colonialismo Inocência MataadenizefrancoAinda não há avaliações
- 1 Fichamento - Brena Távora UchôaDocumento4 páginas1 Fichamento - Brena Távora UchôaAylana DuarteAinda não há avaliações
- Variacoes Sobre o Romance PDFDocumento350 páginasVariacoes Sobre o Romance PDFYasmin LimaAinda não há avaliações
- PERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000Documento6 páginasPERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000TatianeCostaSousaAinda não há avaliações
- Autoria, Obra e Público Na Poesia Colonial - Gregório de Matos - Por João A. HansenDocumento27 páginasAutoria, Obra e Público Na Poesia Colonial - Gregório de Matos - Por João A. HansenmoyseshootsAinda não há avaliações
- CALÍOPE - Presença Clássica PDFDocumento117 páginasCALÍOPE - Presença Clássica PDFEdgar Henrique Paschoal100% (1)
- Artigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFDocumento8 páginasArtigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFLemuel DinizAinda não há avaliações
- Eugenio CoseriuDocumento19 páginasEugenio CoseriuAnonymous yv9GkgcoAinda não há avaliações
- MODOS CULTURAIS PÓS-MODERNOS (Teixeira Coelho)Documento12 páginasMODOS CULTURAIS PÓS-MODERNOS (Teixeira Coelho)Jussara AlmeidaAinda não há avaliações
- O Sistema LiterárioDocumento24 páginasO Sistema Literárioian de melloAinda não há avaliações
- Respostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoDocumento57 páginasRespostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- Fiorin (1988) - O Regime de 1964Documento159 páginasFiorin (1988) - O Regime de 1964yvantelmack67% (3)
- Literatura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)No EverandLiteratura, Ensino e Formação em Tempos de Teoria (com "T" Maiúsculo)Ainda não há avaliações
- Principios e questões de philosophia politica (Vol. II)No EverandPrincipios e questões de philosophia politica (Vol. II)Ainda não há avaliações
- A Construção Artística em Sagarana: Uma Análise Estrutural Semiótica em João Guimarães RosaNo EverandA Construção Artística em Sagarana: Uma Análise Estrutural Semiótica em João Guimarães RosaAinda não há avaliações
- Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasNo EverandPáginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasAinda não há avaliações
- Várias tessituras: Personagens marginalizados da literaturaNo EverandVárias tessituras: Personagens marginalizados da literaturaAinda não há avaliações
- Guerini, A., e Arrigoni, M. T. Antologias Bilingues - Classicos Da Teoria Da Traducao - Volume 3 - Italiano-PortuguesDocumento224 páginasGuerini, A., e Arrigoni, M. T. Antologias Bilingues - Classicos Da Teoria Da Traducao - Volume 3 - Italiano-PortuguesJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Catálogo - Pasolini PDFDocumento91 páginasCatálogo - Pasolini PDFJulia Scamparini100% (2)
- Guerini, A., e Arrigoni, M. T. Antologias Bilingues - Classicos Da Teoria Da Traducao - Volume 3 - Italiano-PortuguesDocumento224 páginasGuerini, A., e Arrigoni, M. T. Antologias Bilingues - Classicos Da Teoria Da Traducao - Volume 3 - Italiano-PortuguesJulia ScampariniAinda não há avaliações
- O Ensino Instrumental de LInguas Estrangeiras PDFDocumento119 páginasO Ensino Instrumental de LInguas Estrangeiras PDFJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Afetos e RessentimentosDocumento6 páginasAfetos e RessentimentosJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Estratégias de Ensino de Língua Instrumental - Olga-MordenteDocumento10 páginasEstratégias de Ensino de Língua Instrumental - Olga-MordenteJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Catálogo - Pasolini PDFDocumento91 páginasCatálogo - Pasolini PDFJulia Scamparini100% (2)
- Dolz Noverraz Schneuwly 2004Documento34 páginasDolz Noverraz Schneuwly 2004Valdete Passos100% (2)
- O Retorno Do RealDocumento25 páginasO Retorno Do RealVeri Chiari GattoAinda não há avaliações
- O Tradutor e A MelancoliaDocumento5 páginasO Tradutor e A MelancoliaJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Letramento MultimidiáticoDocumento12 páginasLetramento MultimidiáticoJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Nietzsche e Foucault A Vida Como Obra de ArteDocumento14 páginasNietzsche e Foucault A Vida Como Obra de ArteJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Manual de Linguistica IndigenaDocumento272 páginasManual de Linguistica IndigenaTonka3cAinda não há avaliações
- Citação, Destacabilidade e Aforização No Texto Imagético: Possibilidades?Documento20 páginasCitação, Destacabilidade e Aforização No Texto Imagético: Possibilidades?Julia ScampariniAinda não há avaliações
- Visão Panorâmica Das Pesquisas Sobre Texto No BrasilDocumento13 páginasVisão Panorâmica Das Pesquisas Sobre Texto No BrasilJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Dolz Noverraz Schneuwly 2004Documento34 páginasDolz Noverraz Schneuwly 2004Valdete Passos100% (2)
- Koch, I.G.v. Linguistic A Textual. Quo Vadis.Documento13 páginasKoch, I.G.v. Linguistic A Textual. Quo Vadis.Tâmara KovacsAinda não há avaliações
- Narrativas SensóriasDocumento272 páginasNarrativas SensóriasJônathas AraujoAinda não há avaliações
- Fronteiras Da Literatura - Poesia, Mídia, CinemaDocumento2 páginasFronteiras Da Literatura - Poesia, Mídia, CinemaJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Artigo Luciana Hidalgo Revista Alea PDFDocumento14 páginasArtigo Luciana Hidalgo Revista Alea PDFmairamathiasAinda não há avaliações
- Sobre o Documentário Biográfico ContemporâneoDocumento32 páginasSobre o Documentário Biográfico ContemporâneoJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Koch, I.G.v. Linguistic A Textual. Quo Vadis.Documento13 páginasKoch, I.G.v. Linguistic A Textual. Quo Vadis.Tâmara KovacsAinda não há avaliações
- O Sujeito Na Tela - Cap 1Documento7 páginasO Sujeito Na Tela - Cap 1Julia ScampariniAinda não há avaliações
- A Imposiçao Do Eu - Luciana HidalgoDocumento10 páginasA Imposiçao Do Eu - Luciana HidalgoJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Afetos e RessentimentosDocumento6 páginasAfetos e RessentimentosJulia ScampariniAinda não há avaliações
- A Trindade Infernal de LacanDocumento11 páginasA Trindade Infernal de LacanJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Notícias Da Literatura Brasileira No Século 21Documento5 páginasNotícias Da Literatura Brasileira No Século 21Julia ScampariniAinda não há avaliações
- Autor e AutoriaDocumento15 páginasAutor e AutoriaJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Paisagens Afetivas em Viajo Porque PreCiso, Volto Porque Te AmoDocumento10 páginasPaisagens Afetivas em Viajo Porque PreCiso, Volto Porque Te AmoJulia ScampariniAinda não há avaliações
- O Que É Semiótica by LUCIA SANTAELLADocumento18 páginasO Que É Semiótica by LUCIA SANTAELLANicolau CentolaAinda não há avaliações
- PDF - Ana Simony Ferreira de OliveiraDocumento96 páginasPDF - Ana Simony Ferreira de OliveiraJúlia NascimentoAinda não há avaliações
- O Que É Semiótica - Lucia SantaellaDocumento18 páginasO Que É Semiótica - Lucia Santaellaapi-382770995% (22)
- Semiótica ImagéticaDocumento8 páginasSemiótica ImagéticaJoão MemoriaAinda não há avaliações
- T - Ines Lacerda AraujoDocumento239 páginasT - Ines Lacerda AraujoJoão Francisco CossaAinda não há avaliações
- Flaviano Maciel Vieira Poeticas DigitaisDocumento35 páginasFlaviano Maciel Vieira Poeticas DigitaisAdriana MeloAinda não há avaliações
- NOTH Maquinas-SemioticasDocumento25 páginasNOTH Maquinas-SemioticasP TAinda não há avaliações
- Curso de SemióticaDocumento139 páginasCurso de SemióticaPaulo S. Reis100% (2)
- Parte Escrita SemioticaDocumento8 páginasParte Escrita SemioticaZerp XdXdAinda não há avaliações
- Manual SV IDocumento111 páginasManual SV IWilson OliveiraAinda não há avaliações
- Artigo - Ciência e Metafísica em Popper e PeirceDocumento13 páginasArtigo - Ciência e Metafísica em Popper e PeirceRaquel Rosalia AdamiAinda não há avaliações
- LEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãoDocumento49 páginasLEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãopoeticacontemporaneaAinda não há avaliações
- EsteticaPlataoPierce SantaellaDocumento182 páginasEsteticaPlataoPierce SantaellaSilvio Luiz Rutz Da Silva100% (1)
- LAURENTIZ, Silvia. Imagem e ImaterialidadeDocumento10 páginasLAURENTIZ, Silvia. Imagem e ImaterialidadeFabio RamalhoAinda não há avaliações
- Arquivo1059 1Documento168 páginasArquivo1059 1Mario Jorge Carvalho de LimaAinda não há avaliações
- Introdução A SemióticaDocumento20 páginasIntrodução A SemióticaRodrigo Oliveira100% (1)
- El CroquisDocumento13 páginasEl CroquisjvicentesantosAinda não há avaliações
- Contemporanea n04 CompletaDocumento279 páginasContemporanea n04 CompletaMARIA 2016Ainda não há avaliações
- Charles Sanders Peirce em Suas Próprias PalavrasDocumento179 páginasCharles Sanders Peirce em Suas Próprias PalavrasOtávio de LimaAinda não há avaliações
- 2509-6229-1-PB Chaparro e o Jornalismo Social PDFDocumento11 páginas2509-6229-1-PB Chaparro e o Jornalismo Social PDFVivianne Lindsay CardosoAinda não há avaliações
- Aula V - PeirceDocumento21 páginasAula V - PeirceLatícia AraujoAinda não há avaliações
- Call of Cthulhu A Imagem Das Criaturas LovecraftiaDocumento14 páginasCall of Cthulhu A Imagem Das Criaturas LovecraftiaDavi GaioAinda não há avaliações
- A Fotografia Como SignoDocumento12 páginasA Fotografia Como SignoCarmen Lucia FagundesAinda não há avaliações
- Semiótica Do Riso Auto Da CompadecidaDocumento14 páginasSemiótica Do Riso Auto Da CompadecidaDiego Marques CavalcanteAinda não há avaliações
- 1 SMDocumento29 páginas1 SMJéssica Lays RibeiroAinda não há avaliações
- Curso de Semiótica Geral - Lauro (2007)Documento117 páginasCurso de Semiótica Geral - Lauro (2007)Rachael Cooper100% (1)
- Teoria Geral Dos SignosDocumento22 páginasTeoria Geral Dos SignosJéssica Guedes50% (4)
- AZAMBUJA RODRIGUES, Carlos de - As Três Dimensões Da ImagemDocumento7 páginasAZAMBUJA RODRIGUES, Carlos de - As Três Dimensões Da ImagemGerson LessaAinda não há avaliações
- O Que É Semiótica - Lucia SantaellaDocumento20 páginasO Que É Semiótica - Lucia SantaellaLetícia KushidaAinda não há avaliações