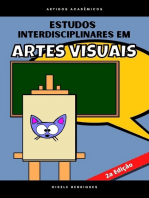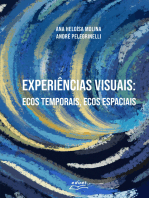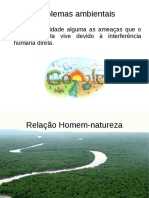Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Arte Do Grafismo Guarani e Suas Diferentes Articulações
A Arte Do Grafismo Guarani e Suas Diferentes Articulações
Enviado por
Elis FerroDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Arte Do Grafismo Guarani e Suas Diferentes Articulações
A Arte Do Grafismo Guarani e Suas Diferentes Articulações
Enviado por
Elis FerroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
A arte do grafismo Guarani e suas diferentes articulaes
Glauco Constantino Perez 1
Lcio Tadeu Mota 2
Resumo
Perpassando pelos conceitos da antropologia esttica e a etnoarte pretendemos, neste trabalho,
elucidar as variadas maneiras como a arte indgena, especificamente a arte indgena Guarani
encarada na bibliografia. Utilizando como fonte o acervo cermico Guarani do Laboratrio de
Arqueologia, Etnologia e Etno-histria (LAAE/UEM) ser possvel compreender como um
objeto deve ser observado dentro de uma cultura.
Palavras-chave: grafismo Guarani, antropologia esttica e etnoarte
Abstract
In this work we intend to elucidate through the concepts of esthetic anthropology and etnoarte
the varied ways as the aboriginal art, specifically the aboriginal art Guarani is faced in the
bibliography. Using as source the ceramic quantity Guarani of the Laboratrio de
Arqueologia, Etnologia e Etno-histria (LAAE/UEM) will be possible to understand as an
object must inside be observed of a culture.
Keywords: artistic drawing Guarani, esthetic anthropology and etnoart
Neste trabalho pretendemos apresentar as mais variadas formas que a arte indgena,
especificamente a arte indgena Guarani apresentada pela bibliografia analisada;
perpassando pelos conceitos da antropologia esttica e a etnoarte classificando tudo aquilo
que considerado arte para o mundo ocidental moderno.
O principal trabalho elencado para o entendimento das teorias da antropologia esttica
o trabalho de Vidal (1992), j que nele so agrupados diversos artigos relacionados pintura
corporal pensando a pintura e a ornamentao do corpo como algo que est a se construir para
a sociedade, para o grupo em si na forma de afirmao de sua cultura. Estes desenhos no so
pensados como uma simples forma de decorao do corpo, mas so carregados de um sentido
social.
A antropologia esttica apresentada por Vidal (1992) relata que o processo esttico
no inerente ao objeto, ela esta ligada na ao humana. possvel entender que o fenmeno
esttico feito de experincias, mas Vidal (1992) descreve que problemtico estabelecer sua
natureza, j que no se tem como afirmar o quanto de emoo e o quanto de cognio
1
Mestrando do Programa de Ps-graduao em Histria da Universidade Estadual de Maring UEM e
Pesquisador do Laboratrio de Arqueologia, Etnologia e Etno-histria da Universidade Estadual de Maring
Maring/PR.
Ps-doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ; Pesquisador do Laboratrio de Arqueologia,
Etnologia e Etno-histria da Universidade Estadual de Maring Maring/PR e orientador da pesquisa.
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
influenciam e esto envolvidas na experincia deste fenmeno. As formas de observar e
entender um contexto, uma situao ou mesmo uma cultura, tudo isso contribui para a criao
de um evento esttico.
Para Vidal (1992),
Segundo a tradio ocidental, as artes so conceitualmente separadas de outras
esferas da vida social e cultural, ainda que nem sempre tanto quanto se pretenda.
Nas sociedades indgenas, as artes so uma ornamentao para as manifestaes
pblicas e os talentos manuais, mesmo os mais individualizados, so bastante
compartilhados pela populao: as coisas so feitas por artesos locais e por
intermdio de processos que todos conhecem. (VIDAL, 1992: 281)
Nesse sentido, o artista se comunica com os seus iguais e estes compreendem o que
est sendo expresso. Tudo o que estampado pelo artista possui o mesmo leque de
significados tanto para o artista, quanto para sua platia que est no seu entorno.
A maneira pela qual os antroplogos conseguem entender todo esse processo de
criao do fenmeno esttico diz respeito sua maneira de abordar as manifestaes estticas,
afirma Vidal (1992). Para a autora, desde os trabalhos publicados por Lvi-Strauss e mais
recentemente Geertz pode-se notar que quando se pretende entender um simbolismo da arte,
busca-se a compreenso da sociedade que produziu este artefato. Por isso, a arte envolve todo
um sistema de signos compartilhados pelo grupo envolvente e que possibilita a comunicao.
Nesse sentido,
Nas artes grficas, por outro lado, o estilo formal transmite muita informao a
respeito dos produtores e de sua respectiva cultura. Todas as artes, e o grafismo em
especial, empregam certas convenes formais para representar objetos, eventos,
entidades, processos, emoes, etc. Um observador precisa conhecer o contexto dos
estilos para poder ler seus componentes formais. (VIDAL, 1992: 284.)
Lvi-Strauss relata Vidal (1992), acredita que no se pode entender um fenmeno sem
que se possa definir antes o conjunto ao qual ele pertence. Entende-se assim que para
obtermos o conhecimento transmitido por um grafismo devemos conhecer o grupo ao qual ele
pertence e se possvel o maior nmero de esferas em que esse grupo populacional esta
inserido. Toda interpretao de grafismo deve levar em conta o contexto sociocultural onde
foi produzido.
A autora acredita que o significado imediato que uma arte grfica indgena expressa,
muitas vezes, conceitos abstratos que encontram interpretao em representaes figurativas
ou em desenhos geomtricos e grafismos puros que dizem, ou melhor, grafam o que no
possvel transmitir de forma oral; torna visvel, o que dissimulado ou o que est disperso e
subjacente e imperceptvel para os indivduos.
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
Acredita-se tambm, expe Vidal (1992), que os grafismos podem corresponder a
contedos de ordem cosmolgica e fixando-se a ateno nas formas grficas das culturas
estudadas pode-se conhecer qual a mensagem transmitida, como transmitida e para quem
transmitida. Assim pode-se fazer uma relao do que transmitido pelos grafismos com
outras esferas da sociedade estudada. Ressalta-se, assim, que os grafismos poderiam ter
funes sociais, mgico-religiosas, simblicas e estticas.
Os significados culturais expressos pela iconografia indgena no se restringem,
portanto, a informaes meramente relativas identificao do grupo ou estados dos membros
desse grupo. Vidal (1992) completa seu pensamento acrescentando numa ordem filosfica
inserida no grafismo; relativas prpria definio da humanidade, o lugar que esse grupo
social ocupa no cosmo e assim as maneiras corretas ou desejveis do grupo de relacionar-se
com o diferente que est a todo o momento compondo seu universo de relaes.
Para Andr Prous (2005) o grafismo encarado como uma forma de adornar um
objeto, ligados aos mitos de criao e morte. Este autor acredita que entre as comunidades
Guaranis, o grafismo associado mitologia e entre os desenhos deixados nas cermicas
pensa poder encontrar rostos ou formas humanas estilizadas e que se tratam, muitas vezes, de
representaes figurativas extremamente geometrizadas em meio aos arabescos gravados.
Por tanto este autor aps pesquisas mais aprofundadas dos motivos geometrizados
expe em seu artigo A pintura em cermica Tupiguarani que os traos esconderiam
representaes precisas; particularmente relacionadas s cerimnias da morte, elas estariam
ligadas preparao do cauim (caguba) e do corpo dos sacrificados nas festas antropofgicas
(bacias cariocas), ou destinadas a receber os corpos dos guerreiros mortos (cambuchi ou
igaaba).
Prous (2005) complementa expondo que os cronistas do sculo XVI que tiveram o
primeiro contato com os Tupis do litoral relatavam que o orgulho das mulheres tupinamb era
sua capacidade de preparar a cermica, sua decorao e o cauim. Seriam nessas tarefas que as
mulheres indgenas participavam do evento constitutivo da sua sociedade. Ela seria a
responsvel pelo invlucro funerrio dos guerreiros destinados ao sacrifcio capturados
durante a guerra. Portanto, Prous (1992) acredita que temas relacionados a essas medidas
estariam sendo grafados nas vasilhas cermicas. Em um dos seus artigos ele relata ter
identificado em meio aos tringulos e retngulos, rostos humanos estilizados escondidos no
fundo dos pratos e tambm, grandes figuras estruturantes representando corpos humanos
abertos, com a coluna vertebral e os intestinos mostra, alm de ter observado em outros
pratos ossos dos membros e, talvez, crebros.
3
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
Por outro lado, o grafismo Guarani para La Salvia e Brochado (1989) tem uma
explicao voltada ao tempo transcorrido entre a vinda de um centro dispersor e o momento
da sua criao. Para eles o trao detalhista criado pelo arteso sofreu uma perda pelo
inconsciente, mantendo apenas os traos de ordem mais gerais e mais representativos,
inclusive este processo sendo amplificado e alterado pelo processo de transmisso de gerao
a gerao colocando em cheque a habilidade do arteso de reproduzi-los e comunic-los aos
outros indivduos da comunidade.
Estes autores acreditam que a pintura e o motivo grafado esto mais vinculados aos
processos tradicionais que aos modais internos ao grupo. Para estes autores os aspectos
ecolgicos no podem ser vistos como um momento que poderiam influenciar na
representao do motivo, o que poderia influenciar seria na ausncia ou a presena de
matria-prima para a construo desses motivos, apesar de acreditarem que sempre existiu um
substituto para os elementos bsicos e sua produo estar sempre assegurada.
Estes autores complementam a idia de que esse processo de construo dos motivos
tradicional, partindo do princpio que os motivos no so distribudos aleatoriamente nas
cermicas, e sim cada qual em seu lugar. Para eles os motivos seriam semelhantes, mas nunca
iguais e sua alternncia demonstraria a mesma fora das entidades espirituais sobre o que
realizam. Acredita-se que a emprego de motivos completos e amplos, principalmente
internamente a vasilha, seria a possibilidade de demonstrar toda a expresso estilstica e
pictrica da entidade e seu tamanho e distribuio complementaria o seu vigor e sua fora.
Para tanto, os motivos decorativos teriam uma ao mgico-religiosa para alguns
casos, mas em essncia a representatividade seria de carter mtico-religiosa, sendo desse
modo, o arteso o detentor de todo um conhecimento do processo de origem e
desenvolvimento do grupo. Os autores levantam a hiptese de que na cermica pintada
estariam representados os dolos destrudos pelos Jesutas quando dada a catequizao
indgena.
Quanto ao motivo desenhado, La Salvia e Brochado (1989) dizem que deveria existir
um vnculo entre a forma e a utilizao, e esta relao de cunho tradicional. As variaes
dos motivos estariam associadas prpria variao da origem de um grupo:
[...] embora tenham razes comuns sua expanso determina uma variao. Se
comparssemos com os vegetais e animais, vemos que, embora pertencendo a uma
mesma famlia, existem variaes acentuadas, como diferentes so os
comportamentos da lngua embora tenham um tronco comum. (LA SALVIA &
BROCHADO, 1989: 96)
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
Nesse sentido, os autores acreditam que de uma mesma raz cultural e devido ao
tempo e espao percorrido pelos vrios grupos sociais, apareceriam diversos motivos estticos
com traos semelhantes que remeteriam a um passado comum.
La Salvia e Brochado (1989), pensam que para realizar o entendimento da pintura esta
deve passar por um processo interpretativo que preze pelo conjunto. Os motivos e a pintura
devem sofrer uma anlise estrutural devendo-se observar o conjunto que ela forma.
A pintura um conjunto de partes, de representaes que associadas criam um
motivo e a continuidade de sua representao d um processo decorativo. S
podemos entender e estabelecer uma diferena entre motivos e sua representao se
o decodificarmos. (LA SALVIA & BROCHADO, 1989: 99)
Assim, esse processo passaria por um mtodo de decodificao com o intuito de
separar os elementos que compem o conjunto representativo do motivo. Este processo
assegura os autores estabelece uma diferena entre motivos que aparentemente so iguais,
mas que estruturalmente apresentam semelhanas. La Salvia e Brochado (1989) acreditam
que um mesmo arteso pode repetir um motivo e estabelecer uma pequena diferena, porm
mantendo a semelhana no significado e assim comprovando a relao com a tradicionalidade
representada pelo grafismo dentro do grupo, tornando muito complicado o acesso ao
significado real simbolizado.
Com isso, esses autores acreditam que para realizar o entendimento do significado do
grafismo impresso, estes devem ser observados em dois momentos: durante a decomposio
do motivo e posteriormente com a anlise do conjunto do desenho. Esses autores relatam que
deve haver leis que permitem determinadas aes e conjunturas dentro do complexo social
estuda. A partir destas leis, que regeria as culturas, associadas aos usos compatveis com
instituies tradicionais que permitiriam o acesso ao significado dos motivos representados.
Novamente podemos perceber que as idias de La Salvia e Brochado (1989) so
prximas s idias de Lux Vidal (1992) e Lvi-Strauss quando entendem que, quanto maior o
conhecimento do grupo social estudo, maior o entendimento das pinturas, corporais ou o
adorno de cermicas com grafismos, sendo necessria a compreenso do significado da
tradio para o grupo estudado.
Para Kelly de Oliveira (2008) a decorao e os grafismos encontrados nas cermicas
Guarani podem ser encaradas como uma linguagem visual iconogrfica e estes so marcadas
por regionalismos estabelecendo espaos de utilizao de uma determinada estampa em meio
a um territrio de ocupao.
Oliveira (2008) destaca que os objetos entre os indgenas no so arquitetados
invariavelmente, com relao sua forma, muito menos com relao arte. Pelo contrrio, a
5
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
maior parte das culturas ocidentais, no tem palavras para designar o que os ocidentais
chamam de arte, pois todo o objeto tem uma funo, e por isso mesmo, no existem objetos
que sirvam apenas para serem contemplados.
Nesse sentido, tudo o que fabricado por esses grupos, tem de ser bonito, e essa
concepo vai alm da beleza, o objeto tem que ser bom, afirma Oliveira (2008). As
sociedades indgenas no fazer qualquer diferenciao tecnolgica de arte, trabalho de lazer
nem fazer distines sobre a beleza e a qualidade. Estes acreditam que se algo bom
porque, durante a construo desse objeto, foram adotados os padres de qualidade
referenciados pela sua cultura. Assim, quando aparece algum fator novo neste processo de
construo do objeto, no reprovado pelo grupo, desde que no fuja aos padres tradicionais
do grupo. Aquele que considerado artista o sujeito que consegue criar dentro de padres
particulares j existentes da sua cultura destaca Oliveira (2008).
Esta autora busca entender os grafismos Guarani analisando-os como signos de origem
sobrenatural, sendo estes transmitidos por seres mticos e que foram adotados pela
comunidade. Este vis de observao utilizado nos estudos realizados por Denise Pahl
Schaan (1996) com a cermica marajoara do norte do Brasil. Estas autoras utilizam da
semitica como uma ferramenta de entendimento da estrutura mnima do grafismo.
Assim, para um indivduo que no est inserido nessa sociedade, os elementos
mnimos que podem ser observados nos grafismos, podem parecer demasiadamente
simplificados ou anlogos em relao ao objeto, porm Oliveira (2008) acredita que isto
ocorre porque, para quem no pertence a este sistema cultural, o cone torna-se fraco ou
simplesmente nulo; ao contrrio do que acontece com o indivduo integrado, para quem seria
perfeitamente compreensvel.
O grafismo Guarani seria um cdigo que se apresenta de forma bastante peculiar,
sendo uma criao, ou melhor, uma conveno social. Oliveira (2008) acredita que os
elementos mnimos poderiam ser considerados como letras de um alfabeto, que formariam
possveis palavras (palavras-conceito) de um discurso embutido no grafismo e nos motivos de
adorno, com um ou mais elementos mnimos, tornando possvel ao integrante do grupo uma
espcie de leitura visual, comportando uma mensagem informando aspectos do contexto
scio-cultural, sobre o passado, seu modo de ser e de agir, enquanto membro pertencente
quela conjuntura cultural.
Esta autora pensa que a decorao cermica no deve ser vista somente por sua
capacidade funcional e esttica, enquanto um artefato cerimonial que comporta apenas
adornos apenas estticos, ela acredita que o grafismo encerra em si uma capacidade de
6
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
veicular informaes da sociedade, e assim tais informaes no esto mais acessveis nos
seus reais significados, porm as possibilidades de serem levantados questionamentos a esse
propsito no so descartadas e nessa proposta que ela acredita que esses grafismos
funcionem como sistemas de significaes socialmente compartilhados.
Em se tratando de uma sociedade grafa, o que todos podemos concordar, que o
cdigo compartilhado pelo grupo transmitido atravs das geraes pela educao, num
processo de ensino-aprendizagem e que perpassa pela lngua e as expresses artsticas
estilsticas, sendo essas, afirma Oliveira (2008) as formas encontradas pelo grupo de
manuteno e perpetuao dos seus padres culturais.
Nesse sentido, a expresso artstica pode ser encarada como uma maneira de
representao presente o tempo todo na vida dos indgenas nos meios sociais, estticos e
simblicos, j que so neles que o grupo diz o que pensa sobre si. Atravs disso o que se
destaca nos desenhos grafados em cermicas e a ornamentao em geral, so marcas distintas
que ao serem concebidas como tal, so traduzidas pelos membros da comunidade e estes
servem como demarcadores de uma fronteira tnica. Os grafismos e as suas variadas formas
de agrupamento dentro do estilo Guarani poderiam marcar uma forma de especificidade
interna ao grupo. Para Oliveira (2008) as parcialidades tnicas seriam marcadas e
evidenciadas pelos grafismos e pelas maneiras de distribuio na cermica.
Outro autor que se destaca pelos estudos dos grafismos, tanto da etnia Kaingang,
quanto da Guarani Srgio Batista da Silva (2001). Ele tenta a partir de estudos de analogia
entender o significado e a nominao dos grafismos dadas pelos atuais representantes dos
Guarani e dos Kaingang. Sua tese de doutorado dedicada ao entendimento dos grafismos
Kaingang, sendo uma nova forma para o entendimento da sociedade Proto-J meridional.
Neste trabalho encontra-se um contrabalano ao qual discute as origens do grafismo Guarani.
Este autor realiza uma interface entre a etnologia indgena e a arqueologia na busca de
dados referentes a essa populao. Seu preza pela anlise simblica, isto , entender o
significado simblico do grafismo para a populao, os mesmos meios que Oliveira (2008)
tentou quando buscou desvendar o significado dos desenhos mnimos da cermica. O
diferencial de Silva (no prelo) que ele trabalha num vis mais antropolgico com
populaes do sul do pas.
O fato deste autor utilizar da analogia como princpio de estudo na tentativa de
compreenso de uma sociedade do passado e a utilizao de informaes etnolgicas colhidas
num passado recente ou no presente, causa desconforto entre os pesquisadores da rea. Este
tipo de viso consequncia de antigos estudos relacionados aculturao e sobre a frico
7
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
intertnica realizadas no Brasil entre os anos de 1940 e 1960, afirma Silva (no prelo), sendo
que os efeitos destes trabalhos ainda no tiveram oportunidade de serem calculados pelos
estudiosos da rea da arqueologia.
Por esse motivo, acredita-se que na esfera cultural que as relaes entre poder e a
cultura se do nas sociedades indgenas e ainda nesta esfera que as comunidades indgenas
articulam seus processos de resistncia sociedade envolvente. Especificamente em se
tratando dos grafismos seria de grande convenincia que os significados dos desenhos
impressos so perpetuados e a analogia cultural uma boa ferramenta para o entendimento
desses artifcios culturais. A partir disso, Silva entende que os elementos culturais so
continuamente reinterpretados e as diferenas entre as sociedades indgenas e a sociedade
envolvente no so suprimidas, mas continuamente reformuladas.
Silva (no prelo) destaca que:
A origem dos grafismos, considerados sagrados pelo discurso, est ligada origem
dos cestos. Segundo o mito, o filho de Nhanderuvuu, criador da Yvy Tenond (A
primeira Terra), chamado de Kuaray (Sol, um dos gmeos ancestrais), ensinou a
confeco de cestos aos Mby. Conforme o mito colhido, o ajak (cesto) mby est
relacionado metaforicamente mulher, e os grafismos nele presentes, pintura
facial feminina. (SILVA, no prelo)
Nesse sentido podemos entender que nascimento do grafismo Guarani estaria ligado
mitologia Guarani conhecida como o ciclo dos Gmeos ao qual sol e a lua seriam filhos
gmeos de pais diferentes. Silva (no prelo) destaca que nesse contexto mito-cosmolgico, os
grafismos Guarani so pensados e denominados por dois sistemas classificatrios nativos
diferentes, mas que se interrelacionam.
Os estudos de Silva (no prelo) apontam que a maioria dos grafismos presentes na
cultura material mby e nhandeva foi possvel estabelecer uma relao com os dois sistemas
de classificao apresentados, por tanto o autor acredita ter conseguido atingir o significado o
desenho para o grupo. J aos grafismos proto-guarani 3 , os obstculos para a identificao
foram mais complicados segundo o autor, j que seus interlocutores apenas reconheceram
parte dos grafismos.
Dessa forma quando so comparados os grafismos Proto-Guarani das cermicas com
os padres etnolgicos Mby e Nhandeva atuais observados nos artesanatos e outros padres
de outros falantes da lngua Tupiguarani, podem ser reatadas as semelhanas formais entre
3
O autor refere-se a proto (proto-guarani) quando apresenta a populaes e no aos estudos da lingustica.
Ele designa proto-guarani para as primeiras populaes Guarani do sul do Brasil, adjacncias, ou seja, os
Guarani pr-coloniais, ou ainda, os grupos populacionais vinculados tradio cermica Tupiguarani ou
Subcultura Guarani da Tradio Policroma Amaznica, como estas populaes pr-contato costuma ser
denominadas pelos estudos arqueolgicos recorrentes.
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
esses grafismos, j que muitos se perpetuam na lembrana do grupo, alm do reconhecimento
dos mesmos por essas comunidades.
Nesse sentido acreditamos que com esse trabalho de apresentao e comparao entre
as idias vigentes em relao construo de um grafismo dentro de uma cultura indgena so
dadas a oportunidade ao pesquisador de observar o quanto idia de interpretao de uma
estampa pode variar, afastando-se uma da outra e tambm, em um sentido oposto,
complementando-se, no intudo de conhecer a decorao dos objetos no dia-dia dos grupos
indgenas.
Consideraes finais
Este trabalho foi elaborado tendo como objetivo apresentar as idias e os vrios
conceitos de arte indgena que esto em vigncia nas discusses atuais e estabelecer um
conceito de etnoarte para.
Buscamos agrupar dados sobre as manifestaes estticas para poder conhecer as
relaes que os povos estabelecem com a produo artstica, criando assim uma base de
informaes a respeito da gama de vises que a arte, ou melhor, a etnoarte tem no meio
acadmico. Estes demonstram que faz parte da natureza humana a necessidade de narrar
experincias, de conceitualizar percepes e de trocar esses conceitos com os outros. Alm
disso, o homem sente a necessidade de saber suas origens e seu papel no mundo. Praticamente
todas as sociedades humanas, desde o neoltico, afirma Schaan (1996) remetem a explicao
para essas questes aos mitos de criao, que narram histrias a respeito da origem do grupo.
So mitos que se referem a um tempo em que o homem ainda no existia enquanto ser
humano, apenas enquanto um grupo.
A partir disso, entendemos que a arte permeia todas as esferas do social: ela pode se
manifestar no teatro, na pintura corporal, ou na decorao dos objetos. Tudo esta ligado a um
sentido a que chamamos cosmolgico, afirma Schaan (1996), mais uma vez entendendo que a
arte insere o ser humano no mundo a qual vive. Essa viso trata da origem do homem e de
como ele deve comportar-se no mundo e dita maneiras do comportamento humano entre os
seus semelhantes e assim, a arte confunde-se com a prpria cultura do grupo.
Comentamos nesse captulo sobre a arte grfica evidenciada por Vidal (1992), sendo
que seja ela qual for o suporte da materializao, para esta autora vem no sentido de transmitir
o conhecimento do grupo e mesmo trazendo conceitos muitas vezes abstratos para pessoas de
fora do grupo, dentro dele as representaes figurativas ou os desenhos geomtricos grafam, o
que no transmitido de forma oral.
9
ANPUH XXV SIMPSIO NACIONAL DE HISTRIA Fortaleza, 2009.
A diversidade das manifestaes humanas uma caracterstica peculiar das culturas e
nos evidenciam os elementos de uma natureza humana comum entre os grupos. Assim, a
natureza humana no um denominador comum em que todas as culturas se incluem, mas
deve ser buscada nas diferenas que enriquecem a viso de uma natureza comum. A imensa
diversidade de formas que assumiram as adaptaes do homem ao ambiente tm se dado
sempre no sentido de demonstrar uma lgica interna, a partir da qual se revelam similaridades
em sociedades aparentemente diferentes. A cultura indgena representada no grafismo
Guarani deve ser encarada como uma forma de fronteira interna ao grupo, mas que, mesmo
assim, expe a singularidade deste perante os grupos tnicos que o permeiam.
Referncias
LA SALVIA, Fernando; BROCHADO, J. P. Cermica Guarani. Porto Alegre, Posenato
Arte e Cultura, 1989.
NEUMANN, Mariana. ande rek: diferentes jeitos de ser Guarani. 2008. Dissertao de
Mestrado. UNISINOS. Rio Grande do Sul, 2008.
NOELLI, Francisco Silva. Sem tekoh no h tek (em busca de um modelo
etnoarqueolgico da aldeia e da subsistncia Guarani e sua aplicao a uma rea de domnio
no Delta do Rio Jacu-RS.1993. Dissertao de Mestrado. PUCRS, Porto Alegre, 1993.
OLIVEIRA, Kelly. Estudando a cermica pintada da tradio Tupiguarani: a coleo
Itapiranga, Santa Catarina. 2008. Dissertao de Mestrado - PUCRS, Porto Alegre, 2008.
PROUS, Andr. Arqueologia brasileira. Braslia, DF: Editora Universidade deBrasilia,
1992.
PROUS, Andr. A pintura em cermica guarani. Cincia Hoje. V. 36, n 213, p. 22-28,
maro 2005.
SCHAAN, Denise Pahl. A linguagem iconogrfica da cermica Marajoara. 1996.
Dissertao de Mestrado PUCRS, Proto Alegre. 1996.
SILVA, Sergio Baptista da. Iconologia e ecologia simblica: retratando o cosmo guarani. IN:
PROUS, A. LIMA, Tnia Andrade (orgs.) Ceramistas Tupiguarani. No prelo.
SILVA, Sergio Baptista da. Etnoarqueologia dos grafismos Kaingang: um modelo para a
compreenso das sociedades Proto-J meridionais. 2001. Tese de doutorado Departamento
de Antropologia, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2001
VIDAL, Lux. Antropologia esttica: enfoques tericos e contribuies metodolgicas. IN:
VIDAL, Lux (org.). Grafismo indgena. So Paulo, EDUSP. 1992.
10
Você também pode gostar
- Apostila - Metodologia Do Ensino Das Artes Visuais PDFDocumento218 páginasApostila - Metodologia Do Ensino Das Artes Visuais PDFEmerson Luis Gonçalves80% (5)
- Artigo Zeca Ligiero Motrizes CulturaisDocumento16 páginasArtigo Zeca Ligiero Motrizes CulturaisCapitu Nascimento100% (2)
- BARDlN, L. (1977) - Análise de Conteúdo. Lisboa - Edições, 70, 225.Documento5 páginasBARDlN, L. (1977) - Análise de Conteúdo. Lisboa - Edições, 70, 225.Autes AGAinda não há avaliações
- A IMAGEM ENCARNADA Processos Poeticos emDocumento14 páginasA IMAGEM ENCARNADA Processos Poeticos emNathalia UlianaAinda não há avaliações
- Linguagem Iconografica Diss CompletaDocumento232 páginasLinguagem Iconografica Diss Completaarv2401Ainda não há avaliações
- Els Logrou - ARTE OU ARTEFATODocumento24 páginasEls Logrou - ARTE OU ARTEFATOAndressa AlvesAinda não há avaliações
- Formas de Expressão Artística IntegradasDocumento62 páginasFormas de Expressão Artística IntegradasFelipe GregórioAinda não há avaliações
- Rogeria de IpanemaDocumento6 páginasRogeria de IpanemaProfessor MarinhoAinda não há avaliações
- LAGROU, Els. VELTHEM, Van Hussak Lucia. As Artes Indígenas. Olhares CruzadosDocumento24 páginasLAGROU, Els. VELTHEM, Van Hussak Lucia. As Artes Indígenas. Olhares CruzadosVinicius RomeiroAinda não há avaliações
- A5D00023Documento8 páginasA5D00023HIGHERAinda não há avaliações
- Grafismo Na Comunidade Kaiowá de Itay Ka'AguyrusuDocumento16 páginasGrafismo Na Comunidade Kaiowá de Itay Ka'AguyrusuVera Lúcia Silva VieiraAinda não há avaliações
- A Simbologia e A Função Artística Da Cerâmica Marajoara - Relações Entre Imagem e CulturaDocumento15 páginasA Simbologia e A Função Artística Da Cerâmica Marajoara - Relações Entre Imagem e CulturaGil Del CarmoAinda não há avaliações
- 505 990 1 PBDocumento10 páginas505 990 1 PBLeonardo KerberAinda não há avaliações
- Linguagen Da ArtDocumento122 páginasLinguagen Da ArtJeffersonAlmeida100% (1)
- A Dimensão Estética Na Arte Negro-Africana TradicionalDocumento10 páginasA Dimensão Estética Na Arte Negro-Africana TradicionalJoão Alberto RodriguesAinda não há avaliações
- Um Olhar Sobre o Início Da Colonização Alemã No RS Por Meio Das Pinturas de Pedro WeingärtnerDocumento12 páginasUm Olhar Sobre o Início Da Colonização Alemã No RS Por Meio Das Pinturas de Pedro WeingärtnerChristian LealAinda não há avaliações
- Apostila Historia Da ArteDocumento122 páginasApostila Historia Da Artejhon100% (4)
- Marlene Binder Meli - Artigo Oficial FinalDocumento16 páginasMarlene Binder Meli - Artigo Oficial FinalmarlenebinmelAinda não há avaliações
- COBERTA NO TEMPO E NA HISTÓRIA: ANA MENDIETA (1948-1985) EM PERSPECTIVA - Lucas Cardoso Do Espírito SantoDocumento5 páginasCOBERTA NO TEMPO E NA HISTÓRIA: ANA MENDIETA (1948-1985) EM PERSPECTIVA - Lucas Cardoso Do Espírito SantoLucas CardosoAinda não há avaliações
- A Xilogravura de Mestre Noza - Um Estudo PreliminarDocumento19 páginasA Xilogravura de Mestre Noza - Um Estudo PreliminarPedro PerêraAinda não há avaliações
- Duas Artesãs Do Rio de JaneiroDocumento20 páginasDuas Artesãs Do Rio de JaneiroDesiree BastosAinda não há avaliações
- Aprendendo e Ensinando Artes Atrav S Sua Hist Ria e Conceitualiza oDocumento12 páginasAprendendo e Ensinando Artes Atrav S Sua Hist Ria e Conceitualiza oJoc Joc100% (1)
- Maria Geralda Paisagens Uma ContribuiçãoDocumento18 páginasMaria Geralda Paisagens Uma ContribuiçãoErcilia SobralAinda não há avaliações
- A Histórica Relação Entre Arte e AntropologiaDocumento31 páginasA Histórica Relação Entre Arte e AntropologiaDaiane MarquesAinda não há avaliações
- Historia de Arte e EsteticaDocumento127 páginasHistoria de Arte e EsteticamirificorikinhoAinda não há avaliações
- Joias de Crioula PDFDocumento14 páginasJoias de Crioula PDFLaura FerAinda não há avaliações
- Prous, A. - As Categorias Estilísticas PDFDocumento11 páginasProus, A. - As Categorias Estilísticas PDFJohni Cesar Dos SantosAinda não há avaliações
- Sofia Dyminski e As Moças Da Ilha - História, Arte e Gênero - 2021Documento18 páginasSofia Dyminski e As Moças Da Ilha - História, Arte e Gênero - 2021Mauricio Marcelino de LimaAinda não há avaliações
- NEIVA, Suria S. e TRINCHÃO, Gláucia M. C. MEMÓRIA DA CORIOPLASTIA SERTANEJADocumento14 páginasNEIVA, Suria S. e TRINCHÃO, Gláucia M. C. MEMÓRIA DA CORIOPLASTIA SERTANEJASuria Seixas100% (1)
- 63 Livros de ArtistaDocumento14 páginas63 Livros de ArtistaYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Corpo e Ancestralidade Resignificacao de Uma Heranca CulturalDocumento4 páginasCorpo e Ancestralidade Resignificacao de Uma Heranca CulturalPri NunesAinda não há avaliações
- A Ressignificação Da Arte Fora Dos MuseusDocumento19 páginasA Ressignificação Da Arte Fora Dos MuseusTeresa Cristina AlvesAinda não há avaliações
- Van Velthem - Notas Sobre A Lógica Dos Corpos e ArtefatosDocumento12 páginasVan Velthem - Notas Sobre A Lógica Dos Corpos e ArtefatosajazzmessengerAinda não há avaliações
- Aula 01 - Arte Cultura e EstéticaDocumento34 páginasAula 01 - Arte Cultura e EstéticaViviane GomesAinda não há avaliações
- Silvia Dolinko-Gráfica Expandida-Sobre Algunas Relaciones Entre Espacio Público-Imágenes y TextosDocumento30 páginasSilvia Dolinko-Gráfica Expandida-Sobre Algunas Relaciones Entre Espacio Público-Imágenes y TextosNancy RojasAinda não há avaliações
- Artelogie 1428Documento8 páginasArtelogie 1428Dario PousoAinda não há avaliações
- Arte Ou Artefato Agência e Signicado Nas Artes Indígenas - ElslagrouDocumento26 páginasArte Ou Artefato Agência e Signicado Nas Artes Indígenas - ElslagrouLuis Felipe K. HiranoAinda não há avaliações
- Pintura IiDocumento89 páginasPintura Iierika.akire.salesAinda não há avaliações
- Prova de Arte - 8º ANODocumento3 páginasProva de Arte - 8º ANOmarcileytromboneAinda não há avaliações
- Arte Popular - Ana Mae Barbosa PDFDocumento10 páginasArte Popular - Ana Mae Barbosa PDFCristiane Carolina De Almeida SoaresAinda não há avaliações
- Metodologia Do Ensino de Artes: Cléa Coitinho Escosteguy Romualdo CorrêaDocumento25 páginasMetodologia Do Ensino de Artes: Cléa Coitinho Escosteguy Romualdo CorrêaMatheusAinda não há avaliações
- Arte Nas Imagens Do CotidianoDocumento44 páginasArte Nas Imagens Do CotidianoGleicy Kellen PaniagoAinda não há avaliações
- Da Representação Das Sobras À Reantropofagia PDFDocumento29 páginasDa Representação Das Sobras À Reantropofagia PDFMaclau GorgesAinda não há avaliações
- A Função Social Da ArteDocumento3 páginasA Função Social Da ArteNikoliCorrêaAinda não há avaliações
- Os Processos de Desmaterialização Do Objeto Artístico e A Dissolução Dos Limites Entre Arte e VidaDocumento16 páginasOs Processos de Desmaterialização Do Objeto Artístico e A Dissolução Dos Limites Entre Arte e VidabonilhacarolineAinda não há avaliações
- 2021 Art&sensorium CompletoDocumento4 páginas2021 Art&sensorium CompletopedernestoAinda não há avaliações
- Sesc São Paulo - Caminhos para A Mediação Cultural - Revistas - OnlineDocumento4 páginasSesc São Paulo - Caminhos para A Mediação Cultural - Revistas - OnlineJOVANI DALA BERNARDINAAinda não há avaliações
- SOILO, A. N. A Arte Da Fotografia Na Antropologia - o Uso de Imagens Como Instrumento de Pesquisa SocialDocumento8 páginasSOILO, A. N. A Arte Da Fotografia Na Antropologia - o Uso de Imagens Como Instrumento de Pesquisa SocialPôlipìpô SalamandraAinda não há avaliações
- Especifícidades Das Linguagens ArtísticasDocumento4 páginasEspecifícidades Das Linguagens ArtísticasBeto CavalcanteAinda não há avaliações
- Natureza MortaDocumento6 páginasNatureza MortaSamuel Da SilvaAinda não há avaliações
- Participação Das Mulheres No Trabalho e Na Intelectualidade GregaDocumento35 páginasParticipação Das Mulheres No Trabalho e Na Intelectualidade Gregagabriela.nogueiraAinda não há avaliações
- Unidade IVDocumento22 páginasUnidade IVMarcelo Correa Educador100% (1)
- Projeto Mestrado UFBA - Processos de Criação ArtísticaDocumento12 páginasProjeto Mestrado UFBA - Processos de Criação ArtísticaRynnardAinda não há avaliações
- 2022 Andredesouza Mateusraynner Desracializao A Partir Da Esttica e Das ArtesDocumento116 páginas2022 Andredesouza Mateusraynner Desracializao A Partir Da Esttica e Das ArtesDinara CarvalhoAinda não há avaliações
- Arte Rupestre - Unidade IIDocumento32 páginasArte Rupestre - Unidade IIPaulo PetrellaAinda não há avaliações
- Arte, Cultura e Estetica - Unidade 1Documento33 páginasArte, Cultura e Estetica - Unidade 1Vanessa Da PaixãoAinda não há avaliações
- Iv Enecult - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 28 A 30 de Maio de 2008 Faculdade de Comunicação/Ufba, Salvador-Bahia-BrasilDocumento15 páginasIv Enecult - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 28 A 30 de Maio de 2008 Faculdade de Comunicação/Ufba, Salvador-Bahia-Brasilsyuhope7Ainda não há avaliações
- CESTARIADocumento8 páginasCESTARIAHerlon Chagas Dos SantosAinda não há avaliações
- Pet 2 - 2º Ano (Só Arte)Documento23 páginasPet 2 - 2º Ano (Só Arte)Daniela Duarte Martins100% (1)
- Experiências visuais:: ecos temporais, ecos espaciaisNo EverandExperiências visuais:: ecos temporais, ecos espaciaisAinda não há avaliações
- Teatro Escola Macunaíma - Jogos 2011Documento76 páginasTeatro Escola Macunaíma - Jogos 2011Eduardo BernardtAinda não há avaliações
- Bornheim Brecht A Estética Do Teatro Parte 2Documento11 páginasBornheim Brecht A Estética Do Teatro Parte 2Eduardo BernardtAinda não há avaliações
- Adote Um Artitsa - Não Deixe Ele Virar Um ProfessorDocumento176 páginasAdote Um Artitsa - Não Deixe Ele Virar Um ProfessorEduardo BernardtAinda não há avaliações
- Cibele Forjaz Simões - À Luz Da Linguagem - Um Olhar Histórico Sobre As Funções Da Iluminação CênicaDocumento19 páginasCibele Forjaz Simões - À Luz Da Linguagem - Um Olhar Histórico Sobre As Funções Da Iluminação CênicaEduardo BernardtAinda não há avaliações
- Técnica Vocal - Rayre MotaDocumento5 páginasTécnica Vocal - Rayre MotaEduardo BernardtAinda não há avaliações
- Um Estudo Comparativo Entre O Sacy-Perêrê - Resultado de Um Inquérito (1918) e O Saci (1921) de Monteiro LobatoDocumento482 páginasUm Estudo Comparativo Entre O Sacy-Perêrê - Resultado de Um Inquérito (1918) e O Saci (1921) de Monteiro LobatoEduardo BernardtAinda não há avaliações
- Antônio Bivar - As Três Primeiras PeçasDocumento334 páginasAntônio Bivar - As Três Primeiras PeçasEduardo BernardtAinda não há avaliações
- WhatsgdDocumento146 páginasWhatsgdabu nasirAinda não há avaliações
- Hepatite BDocumento8 páginasHepatite BEnzoAinda não há avaliações
- Cálculo Numérico - Bisseção e Newton Raphson em PythonDocumento9 páginasCálculo Numérico - Bisseção e Newton Raphson em PythonJackboysAinda não há avaliações
- Caderno de QuestoesDocumento10 páginasCaderno de QuestoesBeaga Languages & TrainingAinda não há avaliações
- Tema O Grande AvivamentoDocumento5 páginasTema O Grande AvivamentoArlei VelosoAinda não há avaliações
- A Avaliao Da Aprendizagem Do Aluno Dislxico Um Estudo A PDocumento0 páginaA Avaliao Da Aprendizagem Do Aluno Dislxico Um Estudo A PVívian GamaAinda não há avaliações
- Texto - Comportamentos DesviantesDocumento10 páginasTexto - Comportamentos DesviantesVictor Rezende MoreiraAinda não há avaliações
- Gestão Estratégica FácilDocumento10 páginasGestão Estratégica FácilglaucocardozoAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio Curricular IIDocumento35 páginasRelatório de Estágio Curricular IIAlyne Matos de Menezes100% (1)
- Passo A Passo WampServer PDFDocumento10 páginasPasso A Passo WampServer PDFLeandrinho WalkerAinda não há avaliações
- Como Limpar A Energia SexualDocumento2 páginasComo Limpar A Energia Sexualevandoferreira7992100% (1)
- Feno TransDocumento2 páginasFeno TransVitor CarvalhoAinda não há avaliações
- Idade MédiaDocumento4 páginasIdade MédiaFelipe RubensAinda não há avaliações
- Apostila de Psicanalise - 2012 PDFDocumento74 páginasApostila de Psicanalise - 2012 PDFDaniel Barboza100% (2)
- Seguro Automóvel PDFDocumento38 páginasSeguro Automóvel PDFIsabel Torres Oliveira100% (1)
- Dieta Simples - ManualDocumento40 páginasDieta Simples - ManualdarstrondAinda não há avaliações
- CPC100TD1Documento32 páginasCPC100TD1red_henriqueAinda não há avaliações
- Cultura Corporal Apostila Cefab - 231029 - 215545Documento2 páginasCultura Corporal Apostila Cefab - 231029 - 215545Anna Laura da Silva MottaAinda não há avaliações
- Homem-Natureza: "Divórcio Ético"Documento30 páginasHomem-Natureza: "Divórcio Ético"João PauloAinda não há avaliações
- Cifra Club - Zeca Pagodinho - Água Da Minha SedeDocumento1 páginaCifra Club - Zeca Pagodinho - Água Da Minha SedeLuiz Gustavo ZagoAinda não há avaliações
- Jogos NoturnosDocumento37 páginasJogos NoturnosRicardo Azeredo Feitosa100% (1)
- Arteterapia, Psicopedagogia e Neurociências: Estratégias para o Auxílio Da Compreensão LeitoraDocumento20 páginasArteterapia, Psicopedagogia e Neurociências: Estratégias para o Auxílio Da Compreensão LeitoraBianca AcamporaAinda não há avaliações
- Topofolia - TUANDocumento11 páginasTopofolia - TUANThaís BezerrilAinda não há avaliações
- Resenha Descritiva Do Capitulo I Do Livro Discurso Desde A Marginalização e A Barbárie de Leopoldo ZeaDocumento3 páginasResenha Descritiva Do Capitulo I Do Livro Discurso Desde A Marginalização e A Barbárie de Leopoldo Zeatitanominotauro45Ainda não há avaliações
- "Contatinho" É para Quem Prioriza Quantidade e Menospreza QualiDocumento6 páginas"Contatinho" É para Quem Prioriza Quantidade e Menospreza QualiChristiano SantosAinda não há avaliações
- Ser Companheiro - Marcos Furtado Ramos - O Prumo 153Documento3 páginasSer Companheiro - Marcos Furtado Ramos - O Prumo 153marcelo monteAinda não há avaliações
- Bandeira Do Brasil IbgeDocumento35 páginasBandeira Do Brasil IbgeDaniel PetersAinda não há avaliações
- Estudo Oração 05Documento4 páginasEstudo Oração 05Igreja Batista AtlânticoAinda não há avaliações