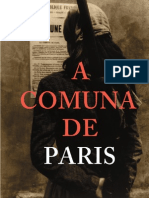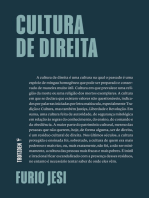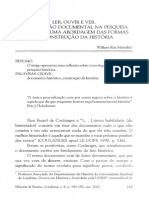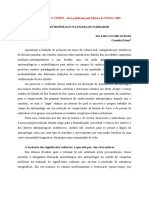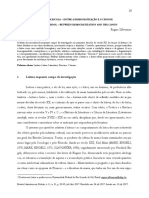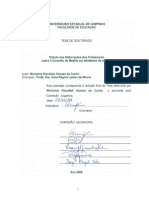Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
"Escutar Os Mortos Roger Chartier
Enviado por
ConferencistRosePradoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
"Escutar Os Mortos Roger Chartier
Enviado por
ConferencistRosePradoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Humanidades
estudos avançados 24 (69), 2010 5
“Escutar os mortos
com os olhos”1
Roger Chartier
Exmo. Senhor Administrador,
Caros colegas,
Senhoras e Senhores,
“E
scutar os mortos com os olhos” (“Escuchar a los muertos con los
ojos”). Ocorre-me esse verso de Quevedo no momento de inaugurar
um ensino consagrado aos papéis do escrito nas culturas europeias
entre o fim da Idade Média e o nosso presente. Pela primeira vez na história do
Collège de France, uma cátedra é consagrada ao estudo das práticas do escrito,
não nos mundos antigos ou medievais, mas no longo tempo de uma modernida-
de que se desfaz, talvez, diante de nossos olhos. Um ensino como esse teria sido
impossível sem os trabalhos de todos aqueles que transformaram profundamen-
te as disciplinas que constituem seu embasamento: a história do livro, a história
dos textos, a história da cultura escrita. É lembrando minha dívida para com dois
deles, hoje desaparecidos, que gostaria de iniciar esta lição.
São poucos os historiadores cujo nome ficou vinculado à invenção de uma
disciplina. Henri Jean Martin, falecido em janeiro deste ano, é um deles. A obra
que ele redigiu por inspiração de Lucien Febvre e foi publicada em 1958 com o
título de O aparecimento do livro é tida com razão como fundadora da história
do livro ou, pelo menos, de uma nova história do livro. Como o escreveu
Febvre, ao estudar com rigor as condições técnicas e legais de sua publicação, as
conjunturas de sua produção ou a geografia de sua circulação, ele fazia os textos
descerem “do céu para a terra”. Nos trabalhos que seguiram, Henri-Jean Martin
não poupou esforços para ampliar o questionamento, deslocando a atenção para
os ofícios e o mundo do livro, as mutações na paginação e na apresentação dos
textos e, finalmente, as sucessivas modalidades de sua legibilidade. Fui discípulo
dele sem ser seu aluno. Teria sido uma grande satisfação ter podido lhe dizer
nesta noite aquilo que lhe devo e também a feliz lembrança dos empreendimen-
tos intelectuais realizados com ele.
Há outra ausência, outra voz que temos que “ouvir com os olhos”: a de
Don Mckenzie. Era um sábio que vivia entre dois mundos: Aotearoa, essa Nova
Zelândia onde nascera e na qual foi um incansável defensor dos direitos do povo
maori, e Oxford que lhe confiou a cátedra de Textual Criticism. Perito por exce-
lência das técnicas eruditas da “nova bibliografia”, ensinou-nos a superar-lhe os
estudos avançados 24 (69), 2010 7
limites, mostrando-nos que o sentido de qualquer texto, seja ele conforme aos
cânones ou sem qualidades, depende das formas que o oferecem à leitura, dos
dispositivos próprios da materialidade do escrito. Assim, por exemplo, no caso
dos objetos impressos, o formato do livro, a construção da página, a divisão do
texto, a presença ou ausência das imagens, as convenções tipográficas e a pon-
tuação. Ao assentar a “sociologia dos textos” no estudo de suas formas mate-
riais, Don Mckenzie não se afastava das significações intelectuais ou estéticas das
obras. Pelo contrário. E é na perspectiva por ele aberta que situarei um ensino
que se propõe a nunca separar a compreensão histórica dos escritos da descrição
morfológica dos objetos que os trazem.
A essas duas obras, sem as quais esta cátedra não poderia ter sido idealiza-
da, devo acrescentar uma terceira; a de Armando Petrucci, infelizmente retido
hoje em Pisa. Ao prestar atenção às práticas que produzem ou mobilizam o
escrito, ao atropelar as compartimentações clássicas – entre o manuscrito e o
impresso, a pedra e a página, os escritos comuns e as escritas literárias –, seu tra-
balho transformou nossa compreensão das culturas escritas que se sucederam
na muito longa duração de história ocidental. Descobrindo a desigualdade no
domínio do escrito e as múltiplas possibilidades oferecidas pela “cultura gráfica”
de determinado tempo, o trabalho de Armando Petrucci é um exemplo mag-
nífico da ligação necessária entre uma erudição escrupulosa e a mais inventiva
das histórias sociais. Gostaríamos aqui de reter a lição fundamental que ele nos
dá, a de sempre associar, numa mesma análise, os papéis atribuídos ao escrito, as
formas e suportes da escrita, e as maneiras de ler.
Henri-Jean Martin, Don Mckenzie, Armando Petrucci, cada um deles po-
deria ou deveria ter estado no lugar que ocupo na frente dos senhores. As con-
junturas ou acasos intelectuais não o permitiram. Mas suas obras, construídas a
partir de horizontes muito diferentes – a história do livro, a bibliografia mate-
rial, a paleografia –, estarão presentes em cada momento do ensino que hoje
inauguro. Seguindo os passos deles, esforçar-me-ei por compreender qual foi o
lugar do escrito na produção dos saberes, na troca das emoções e sentimentos,
nas relações que os homens mantiveram uns com os outros, consigo mesmos,
ou com o sagrado.
As mutações do presente ou os desafios da textualidade digital
Trata-se sem dúvida de uma tarefa urgente hoje, numa época em que as
práticas do escrito se encontram profundamente perturbadas. As mutações de
nosso presente transformam, ao mesmo tempo, os suportes da escrita, a técnica
de sua reprodução e disseminação, assim como os modos de ler. Tal simulta-
neidade é inédita na história da humanidade. A invenção da imprensa não mo-
dificou as estruturas fundamentais do livro, composto, depois como antes de
Gutenberg, por cadernos, folhetos e páginas, reunidos em um mesmo objeto.
Nos primeiros séculos da era cristã, a forma nova do livro, a do codex, se impôs
em detrimento do rolo, porém não foi acompanhada por uma transformação
8 estudos avançados 24 (69), 2010
da técnica de reprodução dos textos, sempre assegurada pela cópia manuscrita.
E se é verdade que a leitura conheceu várias revoluções, reconhecidas ou dis-
cutidas pelos historiadores, essas ocorreram na longa duração do codex: assim
as conquistas medievais da leitura silenciosa e visual, o furor de ler que tomou
conta do século das Luzes, ou então, a partir do século XIX, o ingresso maciço
na leitura de recém-chegados: os meios populares, as mulheres e, dentro ou fora
da escola, as crianças.
Ao quebrar o vínculo antigo estabelecido entre textos e objetos, entre dis-
cursos e sua materialidade, a revolução digital obriga a uma revisão radical dos
gestos e das noções que associamos ao escrito. Apesar das inércias do vocabulá-
rio, que tentam acomodar a novidade, designando-a com palavras familiares, os
fragmentos de textos que aparecem no monitor não são páginas, mas composi-
ções singulares e efêmeras. E ao contrário de seus predecessores, rolo ou codex,
o livro eletrônico não mais se diferencia pela evidência de sua forma material das
outras produções da escrita.
A descontinuidade existe até mesmo nas aparentes continuidades. Ante o
monitor, a leitura é uma leitura descontínua, segmentada, mais ligada ao frag-
mento do que à totalidade. Não seria ela, por essa razão, a herdeira direta das
práticas permitidas e suscitadas pelo codex? Com efeito, esse convida a folhetear
os textos, ora recorrendo a seus índices, ora “aos saltos e cabriolas” como dizia
Montaigne. O codex convida a comparar diversas passagens, como o queria a lei-
tura tipológica da Bíblia, ou a extrair e copiar citações e sentenças, como o exigia
a técnica humanista dos lugares-comuns. Todavia, a similitude morfológica não
deve nos iludir. A descontinuidade e fragmentação da leitura não têm o mesmo
sentido quando acompanhadas pela percepção da totalidade textual encerrada
no objeto escrito e quando a superfície luminosa que apresenta à leitura os frag-
mentos de escritos já não torna imediatamente visíveis os limites e a coerência
do corpus ao qual pertencem como extratos.
As interrogações do presente acham suas razões nessas rupturas decisi-
vas. Como manter o conceito de propriedade literária, definido desde o século
XVIII a partir de uma identidade perpetuada das obras, reconhecível, qualquer
que seja a forma de sua publicação, num mundo em que os textos são móveis,
maleáveis, abertos e nos quais, como o desejava Michel Foucault, cada um pode,
no momento de começar, “encadear, continuar a frase, e, sem que ninguém se
preocupe realmente com isso, alojar-se nos seus interstícios”? Como reconhe-
cer uma ordem dos discursos, que sempre foi uma ordem dos livros ou, para
dizer melhor, uma ordem do escrito associando estreitamente autoridade de
saber e forma de publicação, quando as possibilidades técnicas permitem, sem
controles nem prazos, a circulação universal das opiniões e dos conhecimentos,
como também dos erros e das falsificações? Como preservar modos de ler que
constroem a significação partindo da coexistência de textos num mesmo objeto
(livro, revista, jornal), enquanto o novo modo de conservação e transmissão dos
estudos avançados 24 (69), 2010 9
Cortesia Acervo Biblioteca Nacional (RJ)
O impressor gráfico alemão Johannes Gutenberg (1398-1468).
10 estudos avançados 24 (69), 2010
escritos impõe à leitura uma lógica analítica e enciclopédica na qual os textos
têm como único contexto aquele que lhes vem de seu pertencimento a uma
mesma rubrica?
O sonho da biblioteca universal parece hoje mais próximo de se tornar
realidade do que jamais o foi, até na Alexandria dos Ptolemeus. A conversão
digital das coleções existentes promete a constituição de uma biblioteca sem
muros, onde poderiam ser acessíveis todas as obras que um dia foram publica-
das, todos os escritos que constituem o patrimônio da humanidade. A ambição
é magnífica, e, como escreve Borges: “quando foi proclamado que a Biblioteca
incluiria todos os livros, a primeira reação foi uma felicidade extravagante”. Mas
a segunda é provavelmente uma interrogação sobre essa violência a que são sub-
metidos esses textos, apresentados à leitura em formas que não são mais aquelas
em que os encontraram os leitores do passado. Poderão alguns dizer que essa
mutação tem precedentes, e foi em livros, os quais já não eram os rolos de sua
primeira circulação, que os leitores medievais e modernos apropriaram-se das
obras antigas – ou, ao menos, daquelas que puderam ou quiseram copiar. Sem
dúvida. Mas, para entender as significações que os leitores deram aos textos dos
quais se apoderaram, é necessário proteger, conservar e compreender os objetos
escritos que os trouxeram. A “felicidade extravagante”, suscitada pela biblioteca
universal, poderia tornar-se uma impotente amargura, se ela devesse traduzir-se
pela relegação ou, pior, pela destruição dos objetos impressos que, no decorrer
do tempo, alimentaram os pensamentos e os sonhos daqueles e daquelas que os
leram. A ameaça não é universal e os incunábulos não têm nada a temer, mas
o caso é diferente para publicações mais humildes e mais recentes, sejam elas
periódicas ou não.
Tais questões já foram discutidas à exaustão pelos inumeráveis discursos
que tentam, pela própria abundância, conjurar o desaparecimento anunciado do
livro, do escrito e da leitura. Ao deslumbramento diante das promessas incríveis
das navegações por entre os arquipélagos de textos digitais, foi oposta a nostal-
gia por um mundo do escrito que já teríamos perdido. Mas será que havemos
realmente de escolher entre o entusiasmo e a deploração? Para situarmos me-
lhor grandezas e misérias do presente, talvez seja útil convocar a única compe-
tência da qual podem gabar-se os historiadores. Foram sempre eles lastimáveis
profetas, mas, algumas vezes, ao lembrarem que o presente é feito de passados
sedimentados ou emaranhados, puderam contribuir para um diagnóstico mais
lúcido sobre as novidades que seduziam ou assustavam seus contemporâneos.
Essa certeza audaciosa é que me dá coragem no limiar deste ensino.
A tarefa do historiador
Foi essa certeza que animava Lucien Febvre quando, numa Europa ainda
ferida pela guerra, ele pronunciou, em 1933, a lição inaugural da cátedra de
“História da civilização moderna”. Sua vibrante argumentação, a favor de uma
história capaz de construir problemas e hipóteses, não estava separada da ideia
estudos avançados 24 (69), 2010 11
segundo a qual a história, como toda e qualquer ciência, “não se constrói numa
torre de marfim. Ela se constrói na vida mesma, e por pessoas vivas que estão
mergulhadas no século”. Dezessete anos mais tarde, em 1950, Fernand Braudel,
que lhe sucedeu na mesma cátedra, insistia mais ainda nas responsabilidades da
história num mundo mais uma vez transtornado e privado das certezas recons-
truídas a duras penas. Para ele, seria distinguindo as temporalidades articuladas
que caracterizam cada sociedade que se tornaria possível entender o diálogo per-
manente instaurado entre a longa duração e o acontecimento, ou ainda, segun-
do os próprios termos do mestre, entre os fenômenos situados “fora do alcance
e da mordedura do tempo” e as “profundas rupturas, para além das quais muda
tudo quanto é vida dos homens”.
Se citei esses dois exemplos atemorizadores, deve ter sido porque as pro-
postas desses gigantes generosos ainda podem guiar o trabalho de um historia-
dor. Mas foi também para apreciar melhor a distância que deles nos separa. Nossa
obrigação não é mais a de reconstruir a história, como o exigia um mundo, por
duas vezes levado à ruína, mas a de entender melhor e aceitar que, nos dias de
hoje, os historiadores já não têm o monopólio das representações do passado.
As insurreições da memória, tanto como as seduções da ficção, fazem-lhes fortes
concorrências. De resto, não se trata de uma situação totalmente nova. As dez pe-
ças históricas compostas por Shakespeare e reunidas no Fólio de 1623 sob rubrica
própria, a das histories, pouco conforme à poética aristotélica, moldaram, sem
dúvida nenhuma, uma história da Inglaterra mais forte e “verdadeira” que aquela
relatada pelas crônicas nas quais o dramaturgo se inspirou. Em 1690, o dicionário
de Furetière registra, a seu modo, essa proximidade entre história verídica e ficção
verossímil quando designa a história como a “narração das coisas ou ações como
elas aconteceram, ou como teriam podido acontecer”. O romance histórico, que
fez bom proveito de tal definição, assume em nosso presente a construção dos
passados imaginados com uma energia tão poderosa quanto aquela que habitava
as obras teatrais no tempo de Shakespeare ou de Lope de Vega.
As reivindicações da memória, individual ou coletiva, experimentada ou
institucionalizada, abalaram, elas também, as pretensões do saber histórico, jul-
gado frio e inerte quando comparado à relação viva que faz com que se reco-
nheça o passado na imediatez de sua reminiscência. Como o mostrou, magnifi-
camente, Paul Ricoeur, a tarefa da história não é nada fácil quando a memória
assume a representação do passado e opõe a força e a autoridade da lembrança
ao “mal-estar na historiografia”, segundo uma expressão que empresta de Yosef
Yerushalmi. A história deve respeitar as exigências da memória, necessárias para
curar as infinitas feridas, mas, ao mesmo tempo, ela deve reafirmar a especifici-
dade do regime de conhecimento que lhe é próprio, o qual supõe o exercício da
crítica, a confrontação entre as razões dos atores e as circunstâncias constrange-
doras que eles ignoram, assim como a produção de um saber possibilitada por
operações controladas por uma comunidade científica. É marcando sua diferença
12 estudos avançados 24 (69), 2010
Cortesia Acervo Biblioteca Nacional (RJ)
Página da Bíblia impressa por Johannes Gutenberg por volta de 1455.
estudos avançados 24 (69), 2010 13
em relação a poderosos discursos, ficcionais ou memoriais, que, eles também,
dão uma presença àquilo que já passou, que a história tem condição de assumir
a própria responsabilidade: tornar inteligíveis as heranças acumuladas e as des-
continuidades fundadoras que nos fizeram o que somos.
O fato, no começo de um ensaio de historiador consagrado ao escrito, de
evocar uma lição inaugural, a de Lucien Febvre, cujo propósito era exatamente
o de libertar a história da tirania dos textos e do vínculo exclusivo que a ligava à
escrita, não deixa talvez de ser um tanto paradoxal. Teríamos esquecido os avisos
do mestre, engajado numa guerra contra uma pobre história de “textuários” (a
palavra é dele)? Espero que não seja nada disso. Em primeiro lugar porque, para
mim, tratar-se-á de sempre vincular o estudo dos textos, quaisquer que sejam,
com o das formas que lhes conferem a própria existência e com aquele das apro-
priações que lhes proporcionam o sentido. Febvre zombava desses historiadores
“cujos camponeses, em matéria de terra gorda, pareciam cultivar somente ve-
lhos cartulários”. Não vamos incorrer no mesmo erro, esquecendo-nos de que
o escrito é transmitido a seus leitores ou auditores por objetos ou vozes, cujas
lógicas materiais e práticas precisamos entender. É exatamente esta a proposta
da cátedra, da qual cabe-me agora justificar o título.
Escrito e culturas escritas na Europa moderna
Os limites de minha competência, ou melhor, as imensas extensões de
minhas incompetências, definem seu espaço geográfico: a Europa. Mas tratar da
Europa, principalmente ocidental, não proíbe comparações com outras civiliza-
ções que usaram o escrito e, no caso de algumas delas, conheceram a imprensa.
Para uma abordagem desse tipo, não existe uma instituição mais auspiciosa do
que esta casa, já que ela reúne cientistas que as instituições costumam separar.
Portanto, Europa, mas moderna. Será que terei a ousadia de dizer que a am-
biguidade desse termo me convém? No jargão dos historiadores, “moderna”
abrange pelo menos três séculos, que vão do século XV (devo dizer: a partir da
descoberta da América, da queda de Constantinopla ou da invenção da impren-
sa?) até as revoluções do fim do século XVIII, das quais a mais importante é
evidentemente a francesa, tida como um acabamento ou um surgimento. Meus
cursos vão se inscrever nessa primeira modernidade, decisiva para a evolução
das sociedades ocidentais e cujo estudo nunca foi interrompido aqui, desde a
criação da cátedra ocupada por Lucien Febvre, depois por Fernand Braudel,
até os ensinos de Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Delumeau e Daniel Roche,
que foi o mestre junto do qual aprendi o ofício de historiador como o faziam
os aprendizes nas antigas oficinas. Mas “moderno”, para nós que pensamos ou
queremos sê-lo ainda, é também uma maneira de designar o tempo que é nosso
hoje. Convém-me igualmente essa acepção, uma vez que ela remete ao projeto
fundamental em que se baseia esse ensino: identificar as durações sedimentadas
da cultura escrita para compreender mais acertadamente as mutações que a afe-
tam no presente.
14 estudos avançados 24 (69), 2010
A partir do século XV, e provavelmente antes, a utilização do escrito cum-
priu um papel essencial em várias evoluções maiores das sociedades ocidentais.
A primeira foi a construção do Estado de justiça e de finanças, o qual supôs a
criação de burocracias, a constituição de arquivos, a comunicação administrativa
e diplomática. É verdade que os poderes desconfiaram do escrito e, de diversos
modos, esforçaram-se por censurá-lo e controlá-lo. Mas é verdade também que
se apoiaram cada vez mais para o governo dos territórios e dos povos, na corres-
pondência pública, no registro escrito, na ostentação epigráfica e na propaganda
imprensa. As exigências novas dos processos judiciais, a gestão dos corpos e das
comunidades ou a administração da prova multiplicaram assim os usos e as obri-
gações de escrita.
O vínculo estabelecido entre experiência religiosa e usos do escrito cons-
titui outro fenômeno essencial. Muitos são os vestígios deixados pelas escrituras
inspiradas: autobiografias espirituais e exames de consciência, visões e profecias,
viagens místicas e relatos de peregrinação, orações e conjurações. Em terra cató-
lica, mas não unicamente, esses testemunhos da fé não deixam de preocupar as
autoridades eclesiásticas que se esforçam por contê-los ou, quando lhes parecem
ultrapassar os marcos da ortodoxia, por proibi-los e destruí-los.
A imposição de novas regras de comportamento, exigidas pelo exercício
absolutista do poder, formuladas pelos pedagogos ou moralistas, difundidas pe-
las instruções nobiliárias ou os tratados de civilidade, apoiou-se, ela também, no
escrito. Designada por Norbert Elias como um longo processo de civilização,
que obriga ao controle dos afetos e ao domínio das pulsões, ao afastamento dos
corpos e à elevação do limite do pudor, essa profunda transformação da estru-
tura da personalidade mudou os preceitos em condutas, as normas em habitus,
os escritos em práticas.
Enfim, no decorrer do século XVIII, foram as correspondências, as leitu-
ras e as conversações letradas que fundaram a emergência de uma esfera pública,
num primeiro tempo estética, depois política, quando foram colocadas em dis-
cussão e submetidas a exame todas as autoridades – a dos doctos, a dos clérigos,
a dos príncipes. Em O que são as Luzes?, é na confrontação das opiniões argu-
mentadas e das propostas reformadoras permitida pela circulação do escrito que
Kant constrói o projeto e a promessa de uma sociedade esclarecida, na qual, sem
distinção de estamento ou condição, cada um poderá, alternadamente, ser leitor
e autor, sábio e crítico.
Desenhadas a traços demasiadamente largos, essas evoluções não andam
ao mesmo passo em toda a Europa e não implicam da mesma forma “a corte e
a cidade”, os leitores e o popular ou, como teriam dito no Século de Ouro, o
discreto e o vulgo. Daí, provavelmente, a imprudência perigosa que me levou, na
denominação desta cátedra, a designar pelo termo “culturas” (no plural), essa
fragmentação social, na qual, muito diversa e desigualmente, penetram os usos
do escrito e a capacidade de dominá-lo – ou produzi-lo. Na proliferação das
estudos avançados 24 (69), 2010 15
acepções da palavra “cultura”, fico com uma delas, toda provisória: a que arti-
cula as produções simbólicas e as experiências estéticas subtraídas às urgências
do cotidiano, com as linguagens, os rituais e as condutas, graças aos quais uma
comunidade vive e reflete sua relação ao mundo, aos outros e a si mesma.
O que é um livro?
Assim circunscrito, este programa de ensino e pesquisa será organizado a
partir de uma série de questões legadas por importantes antecessores, começan-
do pela mais simples: o que é um livro? Em 1796, Kant formula a interrogação
na “Doutrina do Direito” da Metafísica dos costumes. Ele estabelece uma distin-
ção fundamental entre o livro como opus mechanicum, como objeto material,
que pertence a seu adquiridor, e o livro como discurso dirigido a um público,
que permanece como propriedade de seu autor e só pode ser distribuído por
aqueles que são seus mandatários. Mobilizado para denunciar a ilegalidade das
contrafações na Alemanha daquela época, esse reconhecimento da dupla natu-
reza do livro, material e discursiva, oferece sólido ponto de apoio para vários
trabalhos de pesquisa.
Uns, genealógicos e retrospectivos, dedicar-se-ão à longa história das me-
táforas do livro, menos as que designam o corpo humano, a natureza ou o des-
tino como um livro – Curtius já disse quase tudo a esse respeito – do que as que
têm o livro como uma criatura humana, dotada de uma alma e de um corpo.
Na Espanha do Século de Ouro, a metáfora traz, para fins muito diversos, duas
figuras frente a frente: a do Deus impressor, que pôs sua imagem no prelo para
“que a cópia fosse conforme à forma que haveria de ter” e “quis ser regozijado
pelos exemplares – que eram tantos – de seu misterioso original”, como escreve
o advogado Melchor de Cabrera em 1675; e a figura do impressor demiurgo,
que dá à alma de sua criatura a forma corporal que lhe convém. Foi assim que
Alonso Victor de Paredes, que conhecia bem o ofício, já que era impressor em
Madri, declara no primeiro tratado sobre a arte de imprimir, redigido numa lín-
gua vulgar, que ele compõe por volta de 1680:
Um livro perfeitamente acabado consiste numa boa doutrina, apresentada pelo
impressor e pelo corretor na disposição que lhe é conveniente; é isso que con-
sidero como a alma do livro; e é uma bela impressão no prelo, limpa e bem
cuidada, que me faz compará-lo a um corpo gracioso e elegante.
Outros levantamentos, baseados na distinção de Kant, seguirão o fluxo do
tempo, partindo do paradoxo fundador da propriedade literária, formulado de
diversas maneiras no decorrer do século XVIII. Com efeito, foi somente quan-
do as obras escritas foram separadas de qualquer materialidade particular que
as composições literárias puderam ser consideradas como bens imóveis. Daí, o
oxímoro que faz designar o texto como uma “coisa imaterial”. Daí, a separação
fundamental entre a identidade essencial da obra e a pluralidade indefinida de
seus estados ou, para usar o vocabulário da bibliografia material, entre substan-
tivas e acidentais, entre o texto ideal e transcendente, e as formas múltiplas de
16 estudos avançados 24 (69), 2010
sua publicação. Daí, enfim, as hesitações históricas, que nos conduzem até o
presente, a respeito das justificações intelectuais e dos critérios de definição da
propriedade literária, a qual supõe que uma obra possa ser reconhecida como
sempre idêntica a si mesma, qualquer que seja o modo de sua publicação e de
sua transmissão. É esse fundamento da propriedade imprescritível, porém trans-
missível, dos escritores sobre seus textos que Balckstone situava na singularidade
da linguagem e do estilo, Diderot, nos sentimentos do coração, e Fichte, no
modo sempre único pelo qual um autor liga, umas às outras, as ideias.
O que é um autor?
Em todos os casos, supõe-se uma relação originária e indestrutível entre a
obra e seu autor. Ora, uma ligação como essa não é universal nem imediata, pois,
se todos os textos foram realmente escritos ou pronunciados por alguém, nem
por isso todos são atribuídos ao nome de uma pessoa. O reconhecimento desse
fato justificava a pergunta feita por Foucault em 1969 e retomada em a Ordem
do discurso: “O que é um autor?”. Sua resposta, que considera o autor como um
dos dispositivos para pôr ordem na preocupante proliferação dos discursos, não
esgota, ao que me parece, a força heurística da interrogação, a qual nos obriga
a abandonar a tentação de, implícita e indevidamente, considerar como univer-
sais categorias cuja formação ou uso são historicamente bastante variáveis. Duas
pesquisas o poderão mostrar.
A primeira será consagrada à “escrita em colaboração” (em especial, no
caso das obras teatrais dos séculos XVI e XVII) e contrastará a frequência des-
sa prática com a lógica da publicação impressa, que prefere o anonimato ou o
nome único, e com aquela, literária e social, que leva a reunir num único livro
os textos de um mesmo escritor, às vezes acompanhados de sua biografia – assim
a de Shakespeare na edição de Rowe, em 1709, ou a de Cervantes por Mayans
y Síscar na edição londrina, mas em castelhano, de Dom Quixote, publicada por
Tonson, em 1738. À construção do autor partindo da agregação, poder-se-ia
dizer até da encadernação, de seus textos (ao menos de alguns deles) no mesmo
volume ou no mesmo corpus, opõe-se o processo inverso, o qual dissemina as
obras na forma de citações ou extratos.
São muitos os exemplos que podem ilustrar essa dupla modalidade da
circulação dos escritos – começando pelo de Shakespeare. Se o Fólio de 1623
inaugura a canonização do dramaturgo, já, em 1600, citações de seus poemas,
o Estupro de Lucrécia e Vênus e Adonis, e de cinco de suas dramaturgias haviam
aparecido em coletâneas de lugares-comuns, inteiramente compostas a partir de
autores que escreveram ou escrevem em inglês, e não em latim. Na primeira, O
Bel-Vedere, or The Garden of The Muses, as citações são dadas sem serem atribu-
ídas a um ou outro dos escritores cuja lista é publicada no início da obra. Na
segunda, intitulada England’s Parnassus, os extratos vêm seguidos pelo nome de
seu autor. Esse único exemplo já mostra as contradições ou hesitações de uma
genealogia da “função autor”, para dizer como Foucault, ao mesmo tempo que
estudos avançados 24 (69), 2010 17
incita a levar adiante a pesquisa e a reconhecer outras formas da fragmentação
dos textos na idade das obras completas, desde os “espíritos” do século XVIII,
que destilam os textos como perfumes, até as “coletâneas” que estruturam as
pedagogias escolares.
A segunda pesquisa dedicar-se-á aos conflitos relacionados com o sobre-
nome do autor e a paternidade dos textos num tempo, aquele que antecede a
propriedade literária, em que as histórias pertencem a todo mundo, os florilé-
gios de lugares-comuns fazem circular exemplos prontos para o reemprego, e o
delito de plágio não é juridicamente constituído – diferentemente do delito de
contrafação, definido como violação de um privilégio de livraria ou de um “right
in copy”. Sendo assim, como entender as polêmicas a respeito das continuações
apócrifas (como a de Dom Quixote pelo malvado Avellaneda) ou as queixas con-
tra as usurpações da identidade de autores famosos a fim de facilitar a venda de
obras escritas por outros (aquilo de que Lope de Vega se lastima quando vê seu
nome utilizado por editores que publicam comedias que não são de sua autoria,
e que ele julga detestáveis), ou ainda as condenações por furtos de textos, peças
teatrais ou sermões, apoiados nas técnicas da memória e, ao menos na Ingla-
terra, em um ou outro dos métodos estenográficos difundidos desde o fim do
século XVI?
Responder a tais perguntas supõe, evidentemente, que se cruzem os prin-
cípios que, de formas diversas conforme as épocas, regem a ordem dos discur-
sos, com os regulamentos e as convenções que, de modo igualmente diverso,
governam a ordem dos livros, ou, de modo mais geral, o regime da publicação
do escrito. Assim, poderão ser traçados os limites entre aquilo que era e aquilo
que não era aceitável, numa situação histórica em que a propriedade das obras
não era em primeiro lugar a do próprio autor, nem a originalidade o primeiro
critério a comandar a sua composição ou apreciação.
Cultura escrita e literatura
Refletir sobre os modos de atribuição dos textos ou sobre a dupla natureza
do livro é aproximar-se de uma terceira questão que o historiador não enuncia
sem apreensão: a das relações entre a história do escrito e a literatura. E, no en-
tanto, não há história de longa duração das culturas escritas que possa esquivar-
se às fortes dependências que ligam os textos sem qualidades, pragmáticos e
práticos, e aqueles habitados pelo estranho poder de fazer sonhar, levar a pensar
ou suscitar o desejo. Os historiadores deveriam então bater em retirada e perma-
necer na margem que lhes é mais familiar? Escaldados pelas severas advertências
dirigidas a alguns imprudentes, foi o que eles creram por muito tempo.
É, no entanto, semelhante imprudência que me estimulará nesse ensino:
isso por pelo menos duas razões. A primeira se refere à impossibilidade de aplicar
retrospectivamente as categorias associadas, desde pelo menos o século XVIII,
com um termo, o de “literatura”, cujo sentido antes era totalmente outro. Apre-
ender as produções escritas em suas definições antigas, e não partindo das distin-
18 estudos avançados 24 (69), 2010
ções contemporâneas, estabelecer parentescos morfológicos inesperados (como
o fez, por exemplo, Petrucci, entre as minutas notariais e os manuscritos de au-
tores do Trecento), relacionar os discursos do saber ou da ficção com as técnicas
de leitura e escrita que tornavam possíveis uns e outros: exigências essas que nos
previnem contra o pecado mais capital para um historiador, o esquecimento da
diferença dos tempos.
Há uma segunda razão para minha temeridade. A culpa recai sobre Bor-
ges, que escreve num prólogo a Macbeth: “Art happens (Irrompe a arte), decla-
rou Whistler, mas a ideia de que não há como nos ver livres jamais de decifrar
o mistério estético não se opõe ao exame dos fatos que o tornaram possível (los
hechos que le hicieron posible)”. Se Borges tem razão, cada um pode e deve assu-
mir sua parte no exame desses “fatos” que dão a certos textos, e não a todos, a
força perpetuada do encanto.
As ficções borgesianas acompanharam, em cada uma de suas etapas, a defi-
nição desse programa de ensino. Uma de modo todo especial: El espejo y la más-
cara [O espelho e a máscara]. Como numa modelização implacável, mas habitada
pela graça, Borges nela faz variar, para um mesmo texto, todos os elementos que
regem sua escrita e sua recepção. Por três vezes, o poeta Ollan volta diante de
seu rei vencedor para lhe dirigir uma ode de louvor. E, por três vezes, mudam
a natureza do auditório (o povo, os doctos, somente o soberano), o modo da
publicação do poema (lido em voz alta, recitado, salmodiado), a estética de sua
composição (imitação, invenção, inspiração) e a relação estabelecida entre as pa-
lavras e as coisas, entre os versos do poeta e os altos feitos do rei, sucessivamente
inscrita no regime da representação, da ekphrasis e do sagrado. Com o terceiro
poema, que consiste em um único verso, murmurado e misterioso, o poeta e seu
rei conheceram a beleza. Eles devem expiar esse favor proibido aos homens. O
poeta recebera um espelho para sua primeira ode, a qual refletia toda a literatura
da Irlanda, depois uma máscara para a segunda, que tinha a força da ilusão te-
atral. Com a adaga, que é o último presente de seu rei, ele se mata. Quanto ao
soberano, ele se condena a errar pelas terras que foram outrora as de seu reino.
Invertendo os papéis, Borges é o cego que nos indica, na fulgurância poética
da fábula, que as magias da ficção sempre dependem das normas e práticas do
escrito que as habitam, apoderam-se delas e as transmitem.
É provavelmente essa preocupação que explica o lugar cada vez mais im-
portante ocupado no meu trabalho pela literatura de língua castelhana, a da
primeira modernidade e, às vezes, a de nosso tempo. As casualidades das viagens
e dos ensinos, a força dos encontros e das amizades têm nisso sua parte, que é
grande. Mas há algo a mais. Como já o assinalava Auerbach, com sua habitual
acuidade, as obras do Século de Ouro são marcadas por “um constante esforço
de poetização e sublimação do real”, mais forte ainda do que nos elisabetanos,
seus contemporâneos. Tal estética “que inclui a representação da vida cotidiana
mas não faz dela um fim e a supera” tem um efeito particular, sensível em núme-
estudos avançados 24 (69), 2010 19
ro muito grande de obras: transformar em matéria mesma da ficção os objetos e
as práticas do escrito. As realidades da escrita ou da publicação, as modalidades
da leitura ou da escuta são assim transfiguradas para fins dramáticos, narrativos
ou poéticos.
Um exemplo. Entrar na Sierra Morena com Don Quixote conduz a en-
contrar um objeto esquecido pela história da cultura escrita, o librillo de me-
moria que o francês do século XVII traduzia por “tablettes”. Nos librillos de
memória, era possível escrever sem tinta nem pena, e suas páginas, recobertas
por um fino revestimento envernizado, podiam facilmente ser apagadas e reu-
tilizadas. Tal é a verdadeira natureza do objeto abandonado por Cardenio, o
jovem fidalgo andaluz que também se retirou nas solidões montanhosas, e nas
páginas do qual Don Quixote, faltando-lhe papel, escreve uma carta para Dul-
cineia e outra, em forma de letra de câmbio, para Sancho. Mas, dirão, será tão
importante assim identificar a verdadeira materialidade desse modesto objeto e
indicar que não é um caderno de apontamentos comum nem um simples cader-
no de viagem como o propõem as traduções recentes? Não haveria nisso uma
curiosidade de antiquário, insignificante para quem pretende se aproximar do
“mistério estético”.
Talvez não. Ao autorizar a escrita e seu apagamento, o vestígio e seu desa-
parecimento, o librillo de Cardenio é como uma metáfora material das múltiplas
variações sobre a memória e o esquecimento que obsedam os capítulos da Sierra
Morena. Sancho, que diz esquecer até o próprio nome e não sabe ler nem es-
crever, é no entanto um ser de memória, Sancho, o memorioso, que só fala por
meio de sentenças e provérbios. Don Quixote, por seu turno, tem a memória
dos cavaleiros de literatura, que ele imita em tudo, e, a cada momento, tira dessa
memória livresca o sentido das desventuras que o acabrunham. Entre a memória
sem livro e os livros que são uma memória, o librilho de memoria de Cardenio é
um objeto contraditório, em que, como o enuncia a definição do Dictionnaire
de la langue castilhane, publicado pela Real Academia nos começos do século
XVIII, “nota-se tudo que não se quer confiar à fragilidade da memória, e que,
em seguida, é apagado para que as folhas possam servir novamente”. Nas pági-
nas das “tablettes”, e ao contrário do adágio, verba manent et scripta volant. Da
mesma maneira que o esquecimento é a condição da memória, o apagamento é
a do escrito.
As “tablettes” de Cardenio designam assim a fragilidade, deplorável ou
necessária, de toda e qualquer escrita. Em Dom Quixote, sempre o escrito está
à espera de eternidade, mas nunca protegido contra a perda e o esquecimento.
Os poemas escritos na areia ou na casca das árvores desaparecem, as páginas dos
livros de memória se apagam, os manuscritos se interrompem, como no caso
daquele que contava as saídas do cavaleiro andante, e que, não fosse a relação do
historiador árabe e seu tradutor mourisco, teria ficado suspenso. Retornar assim
ao texto de Cervantes é sugerir que, às vezes, a história material do escrito, por
20 estudos avançados 24 (69), 2010
maior que seja sua materialidade, permite entrar nas obras mais canônicas, mais
comentadas, para nelas reconhecer razões despercebidas de sua magia. É tam-
bém indicar que, ao longo de meus cursos, e sem de forma alguma pretender a
dignidade de hispanista, aqui ilustrada por grandes exemplos, espero fazer ouvir
as vozes dos escritores que escreveram na língua cujo gramático Antonio de Ne-
brija dizia, em 1492, que era perfeita, porque sem distanciamento entre aquilo
que se escreve e aquilo que se pronuncia.
Produção do texto, instabilidade do sentido,
autoridade do escrito
Como outros, melhor do que outros, os autores espanhóis do Século de
Ouro tiveram consciência dos processos que são o objeto mesmo de toda his-
tória, qualquer que seja, da cultura escrita. Três são essenciais. O primeiro é
dado pela pluralidade das intervenções implicadas na publicação dos textos. Os
autores não escrevem os livros, nem mesmo os próprios. Os livros, manuscritos
ou impressos, são sempre o resultado de múltiplas operações que supõem de-
cisões, técnicas e competências muito diversas. Por exemplo, no caso dos livros
impressos na idade do “antigo regime tipográfico”, entre os séculos XV e XVIII,
a transcrição (cópia limpa) do manuscrito do autor por um escriba profissional,
o exame dessa cópia pelos censores, as escolhas do livreiro editor em relação
ao papel, ao formato ou à tiragem, a organização do trabalho de composição e
impressão na oficina, a preparação da cópia, depois a composição do texto pelos
operários tipógrafos, a leitura das provas pelo corretor e, finalmente, a impressão
dos exemplares que, na idade do prelo manual, não impede novas correções no
decorrer da tiragem. O que aqui está em jogo não é somente a produção do
livro, mas a do próprio texto, em suas formas materiais e gráficas.
Foi essa realidade que Don Quixote percebeu quando visitou uma im-
prensa em Barcelona e “viu como aqui tiravam, ali corrigiam, lá compunham,
em outra parte revisavam, com todos os procedimentos [la máquina no texto
original] oferecidos pelas grandes imprensas”. No século XVII, os tratados e
comunicações consagrados à arte tipográfica insistem nessa partilha das tarefas
na qual os autores não têm o papel principal. Em 1619, Gonzalo de Ayala, ele
mesmo corretor de imprensa, indica que o corretor “deve conhecer a gramática,
a ortografia, as etimologias, a pontuação, a disposição dos acentos”. Em 1675,
Melchor de Cabrera, o advogado já encontrado, ressalta que o compositor deve
saber “colocar os pontos de interrogação, os de exclamação e os parênteses; por-
que, muitas vezes, a intenção dos escritores torna-se confusa pela ausência desses
elementos, necessários, e importantes para a inteligibilidade e compreensão da-
quilo que está escrito ou impresso, pois, se vier a faltar um ou outro, o sentido
se encontra mudado, invertido e transformado”. Alguns anos mais tarde, para
Alonso Víctor de Paredes, o corretor deve “compreender a intenção do autor
naquilo que ele manda imprimir, não somente para introduzir a pontuação ade-
quada, mas também para ver se ele não cometeu algumas negligências a fim de
estudos avançados 24 (69), 2010 21
avisá-lo a esse respeito”. Portanto, as formas e disposições do texto impresso não
dependem do autor, o qual delega àquele que prepara a cópia ou àqueles que
compõem as páginas as decisões quanto à pontuação, acentuação e ortografia. A
historicidade primeira de um texto é a que lhe vem das negociações estabelecidas
entre a ordem do discurso que governa sua escrita, seu gênero, seu estatuto, e as
condições materiais de sua publicação.
Ainda mais porque, muitas vezes, o papel dos homens da oficina não
se reduz a isso. Eles têm igualmente a responsabilidade de dividir a cópia de
modo que os livros, ou pelo menos alguns deles, possam ser compostos não em
conformidade com a ordem do texto, o que mobilizaria por demasiado tempo
os caracteres e deixaria desocupados os operários, mas “por formas” – isto é,
compondo seguidamente todas as páginas que devem ser reunidas num mesmo
chassi de madeira a fim de serem impressas no mesmo lado de uma folha (por
exemplo para um in-quarto em que cada caderno é constituído por duas folhas
de imprensa, o que é o caso de Dom Quixote, as páginas 1, 4, 13 e 16). Assim, a
impressão de uma folha pode iniciar-se, ainda que todas as páginas de um mesmo
caderno não tenham sido ainda compostas. Essa calibragem prévia da cópia –
que supõe a divisão exata no manuscrito das futuras páginas impressas – não era
nada fácil, tanto mais que, como o escreve, finamente, Alonso Víctor de Paredes:
“no son Angeles los que cuentam” (“não são anjos que a fazem”). Se a divisão do
texto foi mal calculada, a composição das últimas páginas de um mesmo caderno
vai exigir ajustes que, como o diz, com reprovação, o nosso impressor, podem
chegar até “o uso de maus procedimentos, que não são permitidos”, o que de-
vemos entender como adições ou supressões de palavras ou frases, que nada de-
vem à vontade do autor e tudo aos embaraços dos compositores ou às decisões
dos corretores. Como o mostrou brilhantemente Francisco Rico, apoiando-se
em uma centena de cópias de imprensa espanholas, o exame das adições ou
cortes praticados em suas páginas oferece exemplos espetaculares das alterações
textuais impostas pela técnica de composição por formas.
Assim preparada, a cópia, chamada “original” em castelhano (como se o
manuscrito autógrafo não o fosse), encontrava-se depois transformada ou defor-
mada pelo trabalho da oficina. Os erros habituais dos compositores introduziam
nessa cópia múltiplas distorções: letras ou sílabas invertidas, palavras esquecidas,
linhas puladas. Mais ainda, uma mesma cópia, lida por diversos corretores ou
compositores, podia originar, nas páginas impressas, fortes variações no uso dos
pronomes e na concordância modo-temporal ou gramatical. Na certa, os autores
não escreviam seus livros, mesmo sabendo-se que alguns deles intervinham nas
reedições de suas obras, plenamente conscientes dos efeitos produzidos pelas
formas materiais ou gráficas de sua edição. Será diferente a situação, agora que,
na maioria dos casos, os livros são impressos a partir do texto redigido e corri-
gido pelo próprio autor no monitor de seu computador? Talvez, mas nem por
isso deverão desaparecer as decisões, intervenções e mediações que distinguem a
publicação da simples comunicação; a edição eletrônica do desktop publishing.
22 estudos avançados 24 (69), 2010
Assim sendo, quem é o mestre do sentido? Será ele o leitor, “esse alguém
que tem, reunidos num mesmo campo, todos os vestígios do qual o escrito é
constituído”, como o queria Roland Barthes? De fato, a mobilidade da signifi-
cação é a segunda instabilidade que preocupou ou inspirou os autores que nos
fazem companhia. No prólogo da Tragicomédia de Calixto e Melibeu, mais co-
nhecida como Celestina, Fernando de Rojas atribui as diversas interpretações da
obra à diversidade das idades e humores de seus auditores
Uns fazem dela um conto para viagem. Outros pinçam frases de espírito e
provérbios conhecidos e, cuidando de elogiá-los bastante, negligenciam o que
seria conveniente e mais útil para eles. Mas aqueles para quem tudo é prazer
verdadeiro rejeitam a anedota boa de se contar, conservando-lhe a suma por
seu proveito, riem dos ditos engraçados e guardam na lembrança as sentenças
e máximas dos filósofos para aplicá-las, no momento certo, a seus atos e desíg-
nios. Por isso, supondo-se que, para ouvirem essa comédia, venham se reunir
dez pessoas, nas quais há tantos humores diferentes, como sempre acontece,
haverá quem negue que existam motivos de discussões em matérias que se po-
dem entender de modos tão diversos?
Quase cinco séculos depois, e de semelhante forma, Borges atribui as va-
riações do sentido das obras às mutações dos modos de ler:
A literatura é coisa inesgotável, pela suficiente e simples razão que um só livro
já o é. O livro não é uma entidade enclausurada: é uma relação, é o centro de
inúmeras relações. Seja ela anterior ou posterior, uma literatura difere de outra,
menos pelo texto do que pelo modo como ela é lida.
Com autoridades como essas, não é preciso tanto ir mais adiante, justifican-
do as razões que fundaram o projeto, amplamente compartilhado, de uma his-
tória da leitura e, tampouco, a validade heurística da noção de apropriação, que
remete às categorias intelectuais e estéticas dos diversos públicos, tanto quanto
aos gestos, aos hábitos, às convenções que pautam suas relações com o escrito.
A terceira tensão que atravessa a história da cultura escrita faz-se enfrenta-
rem as autoridades, que entendem impor seu controle ou monopólio sobre o es-
crito, e todos aqueles, e mais ainda todas aquelas, para quem o saber ler e escrever
foi a promessa de um melhor domínio de seu destino. A cada dia, para o pior e
para nossa vergonha, a crueldade com que nossas sociedades tratam os excluídos
do escrito e aqueles que a miséria do mundo e a brutalidade das leis deixaram sem
documentos relembra os desafios éticos e políticos ligados ao acesso à escrita. O
que, em outros termos, seguindo o exemplo sábio e cívico dado por Armando
Petrucci e Don Mckenzie, significa também que estudar como historiador os
enfrentamentos entre o poder estabelecido pelos poderosos sobre a escrita e o
poder que sua aquisição confere aos mais fracos leva a opor à violência exercida
pelo escrito a capacidade deste de fundar, como o enunciava Vico em 1725, “a
faculdade de os povos controlarem a interpretação dada à lei pelos chefes”.
De maneira duradoura, impresso ou manuscrito, o escrito foi investido de
um poder temido e desejado. O fundamento de tal ambivalência lê-se no texto
estudos avançados 24 (69), 2010 23
bíblico, com a dupla menção do livro ingerido, tal como aparece em Ezequiel,
3,3 (“E o Senhor disse-me: Filho do homem, seu ventre se alimentará com este
livro que lhe dou, e suas entranhas com ele serão saciadas. Comi esse livro e ele
se tornou doce como mel à minha boca”) e o eco dessa cena no Apocalipse de
João, 10,10 (“Tomei o livro da mão do anjo e o devorei: na minha boca, era
doce como mel; depois que o engoli, porém, causou amargura no meu ven-
tre”). O Livro dado por Deus é amargo como é amargo o conhecimento do
pecado, e doce como é a promessa da redenção. A Bíblia, que contém esse livro
da Revelação, é ela mesma um livro poderoso, que protege e conjura, aparta os
infortúnios, afasta os malefícios. Foi ela, em toda a cristandade, objeto de usos
propiciatórios e protetores, que não supunham necessariamente a leitura de seu
texto, mas exigiam-lhe a presença material à proximidade dos corpos.
Da mesma forma, em toda a cristandade, o livro de magia se encontrou
investido dessa carga de sacralidade, que dá saber e poder a quem o lê, mas, ao
mesmo tempo, dele se apodera. Tal captura foi enunciada em duas linguagens:
primeiro, a da possessão diabólica, depois, a da loucura provocada pelo excesso
de leitura. O perigo do livro de magia não demora a se estender a todo livro e
toda leitura, qualquer que seja, na medida em que ler absorve o leitor, afasta-o
dos outros, enclausura-o num mundo de quimeras. A única defesa, para quem
quer assenhorear-se do poder dos livros sem sucumbir a seu poderio, é copiá-los
para fazê-los seus.
Assim, o escrito é o instrumento de poderes temíveis e temidos. Bem o sabe
Caliban, que pensa que o poder de Prospero só será aniquilado se seus livros fo-
rem apreendidos e queimados: “Burn but his books”. Mas, na realidade, os livros de
Próspero são um só livro: aquele que lhe permite submeter a Natureza e os seres às
próprias vontades. Tal poder demiúrgico é uma terrível ameaça para quem o exer-
ce, e copiar o livro nem sempre é suficiente para conjurar o perigo. O livro deve
desaparecer, afogado no fundo das águas: “E mais profundamente que jamais
desceu a sonda/Afogarei meu livro (I’ll drown my book)”. Três séculos depois,
seria em outras profundidades, as dos armazéns da biblioteca, que haveria de ser
sepultado um livro, que, embora de areia, nem por isso era menos inquietante.
Tal inquietação acompanha-se, a partir do século XV, de numerosas con-
denações que, em contraponto às celebrações da invenção de Gutenberg, es-
tigmatizam os despautérios dos compositores, as ignorâncias dos corretores, as
desonestidades dos livreiros e impressores, e, mais ainda, a profunda corrupção
dos textos por leitores incapazes de os compreender. Em O sonho do inferno, de
Quevedo, os livreiros são entregues à danação eterna por terem colocado, nas
mãos de leitores ignorantes, livros que não lhes eram destinados:
Todos nós livreiros estamos nos danando por causa das más obras de outros e
porque vendemos barato os livros latinos vertidos em língua vulgar, graças aos
quais os tolos pretendem alcançar um saber que outrora só tinha preço para os
sábios – de tal modo que hoje o lacaio mete-se a latinizar e Horácio em caste-
lhano deambula pelas estrebarias.
24 estudos avançados 24 (69), 2010
Interrogar-se sobre a autoridade atribuída (ou negada) ao escrito e sobre
as lutas para o confisco (ou a divulgação) de seus poderes talvez não deixe de
ser pertinente para a compreensão do presente. A continuidade da textualidade
digital na superfície do monitor torna realmente, de imediato, menos percep-
tível do que a ordem hierarquizada dos impressos, a inegável credibilidade dos
discursos, expondo assim às falsificações os leitores menos avisados.
O crédito dado ao escrito, para melhor ou para pior, e suas conquistas em
todos os campos da experiência social não podem ser separados de seu avesso,
ou seja, uma nostalgia duradoura por uma oralidade perdida. Reconhecer-lhe
as expressões é outra das tarefas propostas a uma história de longa duração da
cultura escrita. Seus temas são muitos, entre os quais convém assinalar a irre-
dutibilidade entre a vivacidade da troca oral e a inércia da transcrição escrita, o
que fazia Molière dizer a respeito das edições de suas peças: “Não aconselho ler
esta a não ser para as pessoas que tenham olhos para descobrir na leitura todo
o jogo cênico do teatro”, ou ainda a relação estreita entre palavra e pontuação.
Depois da fixação pelos impressores da duração desigual das pausas, indicada
pelo “ponto com cauda, ou vírgula”, a “coma” ou o “ponto redondo”, confor-
me o léxico de Etienne Dolet, em 1540, o desejo de oralidade levou a procurar
a maneira de marcar no texto escrito as diferenças de intensidade que mandam
o leitor, para os outros ou para si mesmo, levantar a voz ou destacar as palavras.
O uso desviado dos pontos de exclamação ou de interrogação e o emprego das
letras capitais no início das palavras são dispositivos que permitem “acomodar”
bem a voz, como escreve Ronsard. Entender como as páginas mudas puderam
capturar e reter algo da palavra viva é uma questão que este ensino gostaria
de levantar, confrontando os projetos de reforma ortográfica, em número tão
grande na Europa do século XVI, as práticas dos tipógrafos e dos corretores,
e, em certos casos, raros de resto, os jogos com a pontuação promovidos pelos
próprios autores.
Princípios de análise
A autoridade afirmada ou contestada do escrito, a mobilidade da signifi-
cação, a produção coletiva do texto: tais são as tramas sobre as quais gostaria de
inscrever os motivos mais particulares que constituirão o objeto de meus cur-
sos. Eles mobilizarão vários princípios de análise. O primeiro situa a construção
do sentido dos textos entre imposições transgredidas e liberdades reprimidas.
Sempre, as formas do escrito ou as competências culturais dos leitores estreitam
os limites da compreensão. Mas, sempre igualmente, a apropriação é criadora,
produção de uma diferença, proposta de um sentido possível, porém inespera-
do. Afastada de todas as perspectivas, por muito tempo dominantes, que rela-
cionam o significado dos textos exclusivamente ao desdobramento automático
e impessoal da linguagem, essa abordagem visa reconhecer a articulação entre
uma diferença – essa pela qual, em modalidades variáveis, todas as sociedades
delimitaram um campo particular de produções textuais, experiências coletivas
estudos avançados 24 (69), 2010 25
ou prazeres estéticos – e determinadas dependências – aquelas que inscrevem as
criações literárias ou intelectuais nos discursos e nas práticas do mundo social
que as tornam possíveis e inteligíveis. O cruzamento inédito de disciplinas du-
rante muito tempo alheias umas às outras (a crítica textual, a história do livro, a
sociologia cultural) encerra assim um desafio fundamental: compreender como
as apropriações singulares e inventivas dos leitores, dos auditores ou dos espec-
tadores dependem, a uma só vez, dos efeitos de sentido visados pelos textos, dos
usos e significações impostos pelas formas de sua publicação, e das competências
e expectativas que comandam a relação que cada comunidade de interpretação
mantém com a cultura escrita.
Em relação ao método, uma segunda exigência, necessária para um tra-
balho que é – fundamental mas não exclusivamente – estudo de textos, leva a
retornar ao conceito de representação na dupla dimensão que Louis Marin lhe
reconheceu: “dimensão transitiva” ou transparência do enunciado, toda repre-
sentação representa alguma coisa; dimensão “reflexiva” ou opacidade enuncia-
tiva, toda representação se apresenta representando alguma coisa. No decorrer
dos anos e dos trabalhos, a noção de representação quase chegou a designar em
si mesma o procedimento de história cultural que é a base deste programa de
ensino. A observação é pertinente, mas deve evitar os mal-entendidos. Tal como
a compreendo, a noção não se afasta nem da realidade nem do social. Ao ressal-
tar a força das representações, sejam elas interiorizadas ou objetivadas, ela ajuda
os historiadores a desfazer-se de sua “bem frágil ideia do real”, como escrevia
Foucault. Tais representações não são simples imagens, verídicas ou enganosas,
de uma realidade que lhes fosse exterior. Elas possuem uma energia própria que
convence de que o mundo, ou o passado, é realmente aquilo que dizem que é.
Produzidas em suas diferenças pelos distanciamentos que fraturam as socieda-
des, as representações, por sua vez, as produzem e reproduzem. Portanto, con-
duzir a história da cultura escrita, dando-lhe como pedra angular a história das
representações, é ligar o poder dos textos escritos que as dão a ler, ou a ouvir,
com as categorias mentais, socialmente diferenciadas, que elas impõem e são as
matrizes das classificações e dos julgamentos.
Um terceiro princípio de análise consiste em colocar as obras singulares ou
os corpus de textos, que são objeto do trabalho, no cruzamento dos dois eixos
que organizam todo procedimento de história ou de sociologia cultural. Por
um lado, um eixo sincrônico, que permite situar cada produção escrita em seu
tempo, ou em seu campo, e a coloca em relação com outras, contemporâneas
dela e pertencentes a diversos registros de experiência. Por outro lado, um eixo
diacrônico, que a inscreve no passado do gênero ou da disciplina. Nas ciências
mais exatas, essa presença do passado remete geralmente a durações breves, por
vezes muito breves. Não é o que ocorre com a literatura e com as humanidades,
para as quais os passados mais antigos permanecem, de alguma forma, como
presentes ainda vivos em que se inspiram as novas criações ou dos quais elas se
26 estudos avançados 24 (69), 2010
Foto Peter Rokosch/Interfoto
O escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986).
estudos avançados 24 (69), 2010 27
desprendem. Que romancista contemporâneo poderia ignorar Don Quixote? E
que historiador poderia abrir um curso nesta casa sem citar, pelo menos uma
vez, a grande sombra de Michelet? Nem Febvre nem Braudel deixaram de fazê-
lo. Nem Daniel Roche. E, no que me diz respeito, acabei de lembrá-la.
Pierre Bourdieu via nessa contemporaneidade de passados sucessivos uma
das características próprias dos espaços da produção e do consumo culturais:
“Toda a história do campo é imanente ao funcionamento do campo, e, para es-
tar à altura de suas exigências objetivas como produtor e também consumidor, é
preciso possuir um domínio prático ou teórico dessa história”. Tal posse (ou sua
ausência) distingue o docto dos ingênuos, e ela traz as diversas relações que cada
obra nova mantém com o passado: a imitação acadêmica, a restauração kitsch, a
volta aos Antigos, a ironia satírica, a ruptura estética. Ao designar como alvos de
suas paródias os livros de cavalaria, mas também os romances pastorais (quando
Don Quixote se transforma em pastor Quijotiz) e as autobiografias picarescas
(com as alusões à narrativa de vida redigida pelo galeriano Ginés de Pasamonte),
Cervantes instala no presente de sua escrita três gêneros com temporalidades
muito diversas e contra os quais ele inventa uma maneira inédita de escrever a
ficção, concebendo-a, como escreveu Francisco Rico, “não no estilo artificial da
literatura, mas na prosa doméstica da vida”. Ele mostra assim, ele o ingenio lego,
o gênio ignorante, que os doctos não são os únicos a fazer bom uso da história
dos gêneros e das formas.
O excesso e a perda
Um temor contraditório habitou a Europa moderna – e ainda nos ator-
menta. Por um lado, o pavor diante da proliferação descontrolada dos escritos,
o amontoado de livros inúteis, a desordem do discurso. Por outro lado, o medo
da perda, da falta, do esquecimento. É a essa segunda inquietude que gostaria
de dedicar o primeiro curso que aqui darei. Levado por um projeto um tanto
borgesiano, ele se voltará para uma obra desaparecida, da qual não subsiste nem
manuscrito nem edição imprensa. Foi por duas vezes representada na corte da
Inglaterra, no início do ano de 1613. As ordens de pagamento estabelecidas
para a companhia que a representou, os King’s Men, indicam-lhe o título, Car-
denio, e nada mais. Quarenta anos mais tarde, em 1653, Humphrey Moseley,
um livreiro londrino, que queria dar a ler as obras dramáticas cuja representação
ficou interditada durante os tempos revolucionários do fechamento dos teatros,
mandou registrar seu direito sobre esta mesma peça. Ele indicou ao secretário da
comunidade dos livreiros e impressores os nomes dos dois autores da peça: “The
history of Cardenio, By Mr. Fletcher e Mr Shakespeare”. Ela nunca foi impressa, e,
desde o século XVIII, qual um fantasma, começou a obcecar as paixões e ima-
ginações shakespearianas.
Duas ordens de pagamento, uma entrada num registro de livreiro, uma
dramaturgia desaparecida. “Temos aí, dirão alguns, um começo bem medío-
cre!” Esse, no entanto, pode nos dar a oportunidade de formular algumas das
28 estudos avançados 24 (69), 2010
interrogações mais fundamentais de uma história do escrito. Em primeiro lugar,
orientando a atenção para a mobilidade das obras, de uma língua para outra, de
um gênero para outro, de um lugar para outro. Foi, de fato, um ano antes das
representações de Cardenio que foi impressa a tradução inglesa de Dom Quixote,
realizada pelo católico Thomas Shelton e publicada por Edouard Blount, o qual
foi também o editor da tradução dos Essais por Florio. Fletcher e Shakespeare
não foram os primeiros nem os últimos a transformar a história de Cervantes em
peça de teatro. Na Espanha, Guillén de Castro os precedera com sua comedia
Don Quijote de la Mancha; seguiram-nos em Paris, Pichou, autor das Folies de
Cardenio, e Guérin de Bouscal, que fez representar três peças de teatro inspira-
das em Don Quixote.
Segundo desafio: a tensão entre a perpetuação de modos tradicionais da
composição literária, que oferecem amplo espaço à colaboração, à adaptação, à
revisão, e a emergência em torno de alguns autores – assim Cervantes e Shakes-
peare, unidos por Cardenio –, da figura do escritor singular em seu gênio e
único em sua criação. Enfim, a busca do Cardenio perdido entre a Sierra Mo-
rena e os teatros londrinos é também uma história das apropriações textuais,
dos modos como foram lidos e mobilizados em diversos contextos culturais e
sociais os mesmos textos que, consequentemente, já não eram os mesmos. É o
que acontece com Dom Quixote, cujos protagonistas aparecem nas festas aristo-
cráticas ou carnavalescas desde os começos do século XVII, tanto na metrópole
quanto nas colônias espanholas, e com Shakespeare, tratado de modo tão dife-
rente na Inglaterra da Restauração e do século XVIII por respeitosos editores
e desrespeitosos dramaturgos, os quais aliás podiam ser os mesmos. “O golpe
de Cardenio é um grande clássico do mundo literário – the bread and butter for
literary lowlife”, declara um dos personagens do romance contemporâneo de
Jasper Fford, Lost in a Good Book. Espero que me perdoem dar-lhe como novo
palco esta instituição acostumada a mais severos e nobres estudos.
Escutar os mortos com os olhos. Várias sombras passaram nas minhas
palavras, lembrando por essa presença a tristeza que nos dá sua ausência. Sem
elas, sem outras também que nada escreveram, eu, nesta noite, não estaria nes-
te lugar. Mas, na hora de concluir, lembro-me dos avisos de Pierre Bourdieu,
prevenindo-nos contra a ilusão que faz enunciar no singular trajetórias parti-
lhadas. O “eu” que, vez ou outra, usei hoje imprudentemente e contra meu
costume deve ser entendido como um nós – o nós de todos aqueles e aquelas,
colegas e estudantes, com quem, ao longo dos anos, compartilhei ensinamentos
e pesquisas na Escola dos Altos Estudos em Ciências Sociais, na Universidade da
Pensilvânia, e em numerosas instituições de nossa República das letras. É com
eles e com todos os presentes, que me fazem a honra de acolher-me aqui, que
gostaria de prosseguir agora um trabalho que se propõe a assentar numa história
de longa duração da cultura escrita a lucidez crítica exigida por nossas incertezas
e inquietações.
estudos avançados 24 (69), 2010 29
Nota
1 Lição inaugural n.195 do Collège de France/Fayard, pronunciada na quinta-feira, dia
11 de outubro de 2007, Cátedra “Escrito e culturas na Europa moderna”. Desde a
fundação, em 1530, o Collège de France tem como missão principal a de ensinar não
saberes constituídos, mas “o saber se fazendo”, ou seja, a própria pesquisa científica e
intelectual. Seus cursos são abertos a todos, gratuitamente, sem matrícula nem entrega
de diploma. Conforme o seu lema (Docet omnia, “Ensina todas as coisas”), o Collège
de France organiza-se em 52 cátedras, que abrangem um amplo conjunto de disci-
plinas. Além disso, a cada ano, são estabelecidas: uma cátedra europeia, uma cátedra
internacional, uma cátedra artística e uma cátedra de inovação tecnológica. Os profes-
sores são escolhidos livremente por seus pares, de acordo com a evolução das ciências
e dos conhecimentos. Na chegada de cada novo professor, é criada uma nova cátedra,
que tanto pode retomar, pelo menos parcialmente, a herança de uma cátedra anterior,
como instaurar um ensino novo. O primeiro curso de um novo professor é sua lição
inaugural. Solenemente pronunciada, na presença de seus colegas e de amplo público,
dá-lhe a oportunidade de situar os próprios trabalhos e seu ensino em relação àqueles de
seus antecessores, assim como aos mais recentes desenvolvimentos da pesquisa. Além de
apresentarem um quadro do estágio atual de nossos conhecimentos, assim contribuin-
do para a história de cada disciplina, as lições inaugurais também nos introduzem na
oficina do cientista e do pesquisador. Em seu campo e em seu tempo, muitas delas cons-
tituíram acontecimentos marcantes, alcançando às vezes forte repercussão. Dirigem-se
a um público amplo e esclarecido, preocupado em compreender melhor as evoluções
da ciência e da vida intelectual contemporâneas.
Roger Chartier ensinou História Moderna na Escola de Altos Estudos em Ciências
Sociais (Ehess), Paris, e na Universidade da Pensilvânia. Seus trabalhos versam princi-
palmente sobre história do livro e da leitura. Escreveu Lecture et lecteurs dans la France
de l’Ancien Régime (1987), Les origines culturelles de la Révolution Française (1990),
Écrire et effacer. Culture écrite et littérature (2003), entre outros, e codirigiu Histoire
de l’édition française (1983–1986) e Histoire de la lecture dans le monde occidental
(1997). Publicou no Brasil diversas obras, dentre elas: História da vida privada: da
Renascença ao Século das Luzes, em coautoria com Philippe Ariès (Companhia das Le-
tras), A ordem dos livros: leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e
XVIII (Editora UnB), A aventura do livro: do leitor ao navegador (Editora Unesp) e
Os desafios da escrita (Editora Unesp). Desde 2007, é professor catedrático no Collège
de France da cátedra “Escrito e culturas na Europa moderna”.
@ – roger.chartier@college-de-france.fr
Traduzido por Jean Briant. O original em francês – “Écouter les morts avec les yeux” –
encontra-se à disposição do leitor no IEA-USP para eventual consulta.
Recebido em 10.8.2009 e aceito em 15.8.2009.
30 estudos avançados 24 (69), 2010
Você também pode gostar
- O Romance Histórico Brasileiro Contemporâneo (1975-2000) - Antônio R. Esteves PDFDocumento166 páginasO Romance Histórico Brasileiro Contemporâneo (1975-2000) - Antônio R. Esteves PDFAndréia ScheerenAinda não há avaliações
- Como Escrever Um Artigo Científico Passo-A-passoDocumento25 páginasComo Escrever Um Artigo Científico Passo-A-passoRicardo_BragiolaAinda não há avaliações
- Fichamento A Invensão Do CotidianoDocumento3 páginasFichamento A Invensão Do CotidianoJacsiane PieniakAinda não há avaliações
- A Comuna de Paris - Com Texto de EngelsDocumento199 páginasA Comuna de Paris - Com Texto de EngelsJuarez AnjosAinda não há avaliações
- Apostila EconometriaDocumento71 páginasApostila EconometriaAlmeida ThavicoAinda não há avaliações
- Infância e Sociedade No Brasil Uma Análise Da Literatura - Alvim e Valadares - 1987Documento35 páginasInfância e Sociedade No Brasil Uma Análise Da Literatura - Alvim e Valadares - 1987Juarez AnjosAinda não há avaliações
- BITTENCOURT Circe Ensino de Historia Fundamentos e Metodos PDFDocumento243 páginasBITTENCOURT Circe Ensino de Historia Fundamentos e Metodos PDFEric Aline100% (2)
- Intervenção Psicopedagógica No Espaço Da Clínica (Laura Monte Serrat)Documento96 páginasIntervenção Psicopedagógica No Espaço Da Clínica (Laura Monte Serrat)paula boniAinda não há avaliações
- (Série Nova Consciência) Nelly Novaes Coelho - Literatura - Arte, Conhecimento e Vida-Editora Fundação Peirópolis (2000)Documento156 páginas(Série Nova Consciência) Nelly Novaes Coelho - Literatura - Arte, Conhecimento e Vida-Editora Fundação Peirópolis (2000)João HenriqueAinda não há avaliações
- Historias de Vida - Maria Helena AbraãoDocumento18 páginasHistorias de Vida - Maria Helena AbraãoJuarez AnjosAinda não há avaliações
- Honradas e Devotas - Leila Algranti PDFDocumento369 páginasHonradas e Devotas - Leila Algranti PDFJuarez AnjosAinda não há avaliações
- Revista Pergunte e Responderemos - ANO V - No. 056 - AGOSTO DE 1962Documento46 páginasRevista Pergunte e Responderemos - ANO V - No. 056 - AGOSTO DE 1962Apostolado Veritatis SplendorAinda não há avaliações
- Resumo - História Cultural (CHARTIER)Documento4 páginasResumo - História Cultural (CHARTIER)Edson Oliveira100% (1)
- McLuhan - Visao Som e FuriaDocumento8 páginasMcLuhan - Visao Som e Furiabarbarasena6Ainda não há avaliações
- Resenha - Literatura para Quê CompagnonDocumento2 páginasResenha - Literatura para Quê Compagnonantonio brito100% (2)
- Manifesto Dos Pioneiros - Libania Nacif Xavier PDFDocumento24 páginasManifesto Dos Pioneiros - Libania Nacif Xavier PDFJuarez AnjosAinda não há avaliações
- CATROGA, Fernando. A Representificação Do AusenteDocumento12 páginasCATROGA, Fernando. A Representificação Do AusenteClaudianoSilva100% (1)
- Literatura em Campo ExpandidoDocumento2 páginasLiteratura em Campo ExpandidonegárioAinda não há avaliações
- LOurival HollandaDocumento21 páginasLOurival HollandaCristiano DurãesAinda não há avaliações
- Literatura para Quê - Antoine CompagnonDocumento9 páginasLiteratura para Quê - Antoine CompagnonJoao Paulo de Freitas100% (2)
- Do Codige Ao Monitor A Trajetoria Do EscritoDocumento15 páginasDo Codige Ao Monitor A Trajetoria Do EscritoAna ChambelAinda não há avaliações
- Do Códice Ao Monitor: A Trajetória Do EscritoDocumento15 páginasDo Códice Ao Monitor: A Trajetória Do EscritoRPAinda não há avaliações
- (1995) A Morte em Lisboa Atitudes e Representaà à Es 1700-1830Documento688 páginas(1995) A Morte em Lisboa Atitudes e Representaà à Es 1700-1830Pedro CorreiaAinda não há avaliações
- Fontes e DocumentosDocumento16 páginasFontes e DocumentosThiago ComelliAinda não há avaliações
- Cult Especial 5 - Michel FoucaultDocumento34 páginasCult Especial 5 - Michel FoucaultMaria GabrielaAinda não há avaliações
- A Revolução Documental Na PesquisaDocumento8 páginasA Revolução Documental Na PesquisaEstêvão FreixoAinda não há avaliações
- Roger Chartier 2010 Nova Escola.Documento3 páginasRoger Chartier 2010 Nova Escola.Helena PraiaAinda não há avaliações
- Babo Maria Augusta Tecnologias LiteraturaDocumento7 páginasBabo Maria Augusta Tecnologias LiteraturaViviane Mendes LeiteAinda não há avaliações
- Egito - Espelho de Uma CivilizaçãoDocumento212 páginasEgito - Espelho de Uma CivilizaçãoLuciano Lima Di Fls II100% (1)
- Pomian Do Monopolio Da EscritaDocumento20 páginasPomian Do Monopolio Da EscritajanalacerdaAinda não há avaliações
- O Antropologo Na Figura Do Narrador PDFDocumento19 páginasO Antropologo Na Figura Do Narrador PDFAna Carvalho da RochaAinda não há avaliações
- Se Toda A Cidade É Histórica Como Avaliar A Historicidade de Cidades Não Centenárias DANIELA ANDRADE COELHO DA FONSEDocumento16 páginasSe Toda A Cidade É Histórica Como Avaliar A Historicidade de Cidades Não Centenárias DANIELA ANDRADE COELHO DA FONSEAleff HenriqueAinda não há avaliações
- Fichamento Do Capítulo Filologia Oitocentista e Crítica TextualDocumento2 páginasFichamento Do Capítulo Filologia Oitocentista e Crítica TextualElisson Lopes BritoAinda não há avaliações
- O Livro LivreDocumento12 páginasO Livro Livreamir_britoAinda não há avaliações
- Hans Ulriich Gumbrecht - A Filologia e o PresenteDocumento26 páginasHans Ulriich Gumbrecht - A Filologia e o PresenteRodrigo Alexandre de Carvalho XavierAinda não há avaliações
- 2704 10023 1 PBDocumento20 páginas2704 10023 1 PBFabiMar JorgeAinda não há avaliações
- 36820-Texto Do Artigo-131413-1-10-20150714Documento19 páginas36820-Texto Do Artigo-131413-1-10-20150714Davi SpilleirAinda não há avaliações
- A Aventura Do Livro ResenhaDocumento5 páginasA Aventura Do Livro ResenhaCassiomichel100% (1)
- Nova Historia e Arquitetura Vernacula DialogosDocumento9 páginasNova Historia e Arquitetura Vernacula DialogosMatheus ViniciusAinda não há avaliações
- 2003 Um Breve Olhar Sobre A Ruptura Eletrônica Do LivroDocumento19 páginas2003 Um Breve Olhar Sobre A Ruptura Eletrônica Do LivroLívia MaggessiAinda não há avaliações
- Curto Diogo Ramada Cultura Escrita SeculDocumento5 páginasCurto Diogo Ramada Cultura Escrita SeculcruzacreAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃODocumento108 páginasDISSERTAÇÃOBárbara PiñeiroAinda não há avaliações
- Considerações sobre a Philosophia da Historia Litteraria PortuguezaNo EverandConsiderações sobre a Philosophia da Historia Litteraria PortuguezaAinda não há avaliações
- Visão, Som e Fúria - Marshall McLuhanDocumento14 páginasVisão, Som e Fúria - Marshall McLuhanmocofredoAinda não há avaliações
- O Queijo e Os Vermes - o Cosmo de Um Historiador Do Século XXDocumento20 páginasO Queijo e Os Vermes - o Cosmo de Um Historiador Do Século XXAspa PaAinda não há avaliações
- Notas Sobre Os Historiadores e Suas FontesDocumento10 páginasNotas Sobre Os Historiadores e Suas FontesMarcos CurvelloAinda não há avaliações
- 4 SignoDocumento142 páginas4 SignoRozele BenitezAinda não há avaliações
- A História Do Livro Na Era Da Reprodução Digital. Sociologia Dos Textos, Ecdótica, História Da Cultura EscritaDocumento5 páginasA História Do Livro Na Era Da Reprodução Digital. Sociologia Dos Textos, Ecdótica, História Da Cultura EscritaVivian MendesAinda não há avaliações
- O Leitor Multimídia de Harry Potter Do Livro Ao CiberespaçoDocumento16 páginasO Leitor Multimídia de Harry Potter Do Livro Ao CiberespaçoAna MunariAinda não há avaliações
- O Universal Sem Totalidade - Pierre LévyDocumento7 páginasO Universal Sem Totalidade - Pierre LévyCiberculturalAinda não há avaliações
- Ebook - Escritas e Cultura - Completo-3Documento11 páginasEbook - Escritas e Cultura - Completo-3Ianna Torres LustosaAinda não há avaliações
- Georges Duby e A Construcao Do Saber HistoricoDocumento108 páginasGeorges Duby e A Construcao Do Saber HistoricoInês NabaisAinda não há avaliações
- 43477-Texto Do Artigo-146607-1-10-20170115Documento21 páginas43477-Texto Do Artigo-146607-1-10-20170115Karoliny OliveiraAinda não há avaliações
- George Duby e A Construcao Do Saber HistoricoDocumento108 páginasGeorge Duby e A Construcao Do Saber HistoricogalileuroberAinda não há avaliações
- Arquivo TradicaoememoriacriticaambientalentreopensamentodejosebonifafioeeuclidesdacunhaDocumento15 páginasArquivo TradicaoememoriacriticaambientalentreopensamentodejosebonifafioeeuclidesdacunhaDaniela FonteneleAinda não há avaliações
- FichamentoDocumento22 páginasFichamentoJaqueline de OliveiraAinda não há avaliações
- Entrevista Cantareira AlexandreDocumento4 páginasEntrevista Cantareira AlexandreMarianaAinda não há avaliações
- Da Cultura e Das Práticas Significantes - A Importância de Uma Visão Semiótica Da Cultura para Aos Estudos em ComunicaçãoDocumento13 páginasDa Cultura e Das Práticas Significantes - A Importância de Uma Visão Semiótica Da Cultura para Aos Estudos em ComunicaçãoEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- Ceanos90, 25art8Documento5 páginasCeanos90, 25art8Esther Zamboni RossiAinda não há avaliações
- Transtemporalidade (Conclusão e Conferência)Documento5 páginasTranstemporalidade (Conclusão e Conferência)Vinícius SchuchterAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur e A Escrita Da HistóriaDocumento9 páginasPaul Ricoeur e A Escrita Da HistóriaJoachin AzevedoAinda não há avaliações
- O Leitor Nas Trilhas Do TextoDocumento108 páginasO Leitor Nas Trilhas Do TextoDamares FernandesAinda não há avaliações
- LIVRO ANTOLOGIA - Prêmio - Proex - de - Literatura - 2 ED PDFDocumento235 páginasLIVRO ANTOLOGIA - Prêmio - Proex - de - Literatura - 2 ED PDFMax TeixeiraAinda não há avaliações
- ARTIGO6 SECAO LIVRE Deise ZandonaDocumento14 páginasARTIGO6 SECAO LIVRE Deise ZandonaJoão Rafael S. RebouçasAinda não há avaliações
- 2020 - 4 Simpósio Icomos - Texto Dos AnaisDocumento16 páginas2020 - 4 Simpósio Icomos - Texto Dos AnaisHércules da Silva Xavier FerreiraAinda não há avaliações
- Tradução Do Texto de PetrucciDocumento2 páginasTradução Do Texto de PetrucciAri SacramentoAinda não há avaliações
- Entrevista - Roger Chartier - Revista de HistóriaDocumento5 páginasEntrevista - Roger Chartier - Revista de HistóriaRafael MarquesAinda não há avaliações
- A Piedade e A Forca - Bronislaw GeremekDocumento149 páginasA Piedade e A Forca - Bronislaw GeremekJuarez Anjos67% (3)
- 1847 Um Enforcamento em Curitiba Ernani C StraubeDocumento3 páginas1847 Um Enforcamento em Curitiba Ernani C StraubeJuarez AnjosAinda não há avaliações
- Tese Doutorado Daniela GuimarâesDocumento222 páginasTese Doutorado Daniela GuimarâesJuarez AnjosAinda não há avaliações
- A Escrita Da HIstória Da Infância Periodização e Fontes - Maria Cristina GouveaDocumento12 páginasA Escrita Da HIstória Da Infância Periodização e Fontes - Maria Cristina GouveaJuarez Anjos100% (1)
- Comênius e A Nova Ordem - David HamiltonDocumento13 páginasComênius e A Nova Ordem - David HamiltonJuarez AnjosAinda não há avaliações
- Qualis CAPES 2014 - EducaçãoDocumento27 páginasQualis CAPES 2014 - EducaçãoJuarez AnjosAinda não há avaliações
- Programa Disciplina Historia Da Educação IDocumento4 páginasPrograma Disciplina Historia Da Educação IJuarez AnjosAinda não há avaliações
- Caminhando para Uma Outra História - Lucien FebvreDocumento11 páginasCaminhando para Uma Outra História - Lucien FebvreJuarez AnjosAinda não há avaliações
- ANJOS, Juarez e SOUZA, Gizele De. A Criança, Os Ingenuos e o Ensino Obrigatório Na Província Do ParanáDocumento26 páginasANJOS, Juarez e SOUZA, Gizele De. A Criança, Os Ingenuos e o Ensino Obrigatório Na Província Do ParanáJuarez AnjosAinda não há avaliações
- Trabalho DerivadasDocumento13 páginasTrabalho DerivadasEverton Luis de Araujo LimaAinda não há avaliações
- O Mundo, e Suas Máquinas: Um Estudo Sobre Propagação Temática em "A Máquina Do Mundo", de Carlos Drummond de Andrade. Orlando Lopes. Tese. UERJ, 2009.Documento372 páginasO Mundo, e Suas Máquinas: Um Estudo Sobre Propagação Temática em "A Máquina Do Mundo", de Carlos Drummond de Andrade. Orlando Lopes. Tese. UERJ, 2009.Orlando Lopes100% (1)
- Jornal Interessante - Edição 10 - Outubro de 2010 - Unaí-MGDocumento12 páginasJornal Interessante - Edição 10 - Outubro de 2010 - Unaí-MGDanny Diogo SantanaAinda não há avaliações
- Aula de Escolas Psicológicas Xix e XXDocumento20 páginasAula de Escolas Psicológicas Xix e XXWendell Junior100% (1)
- A Guerra e A Paz EstrabãoDocumento9 páginasA Guerra e A Paz EstrabãoEdilane CardosoAinda não há avaliações
- Hans Hanh Inicidor de La Psicologia Experimental en Trujillo PDFDocumento6 páginasHans Hanh Inicidor de La Psicologia Experimental en Trujillo PDFestudios dorimeAinda não há avaliações
- Seminário 1 - O Conhecimento No IluminismoDocumento30 páginasSeminário 1 - O Conhecimento No IluminismoIris Barbosa LopesAinda não há avaliações
- Durkheim (Introdução Ao Pensamento Sociológico (Ana Maria de Castro e Edmundo Fernandes Dias)Documento19 páginasDurkheim (Introdução Ao Pensamento Sociológico (Ana Maria de Castro e Edmundo Fernandes Dias)CristianeAinda não há avaliações
- Transas Na Cena em TranseDocumento343 páginasTransas Na Cena em TranseAnonymous L5FdbaJzAinda não há avaliações
- Roy Wagner - A Pessoa FractalDocumento13 páginasRoy Wagner - A Pessoa FractalIago AvelarAinda não há avaliações
- Conceito de Medida - LANNER de MOURADocumento135 páginasConceito de Medida - LANNER de MOURAThaís Gomes NovaesAinda não há avaliações
- As 10 Competências Gerais Da BNCCDocumento2 páginasAs 10 Competências Gerais Da BNCCCida Moura50% (2)
- Leonardo Machado PalharesDocumento5 páginasLeonardo Machado PalharesLeonardoAinda não há avaliações
- De FIGUEIREDO, Caio Nogueira - Formalismo Russo. MonografiaDocumento42 páginasDe FIGUEIREDO, Caio Nogueira - Formalismo Russo. MonografiaTássia ÁquilaAinda não há avaliações
- 1967 - Ruy Afonso Da Costa Nunes A Origem Da Universidade de Paris (I)Documento35 páginas1967 - Ruy Afonso Da Costa Nunes A Origem Da Universidade de Paris (I)RastamanAinda não há avaliações
- Trabalho - Análise Tesauro UNESPDocumento24 páginasTrabalho - Análise Tesauro UNESPErnesto JclAinda não há avaliações
- 8628-Texto Do Artigo-22932-1-10-20120430Documento23 páginas8628-Texto Do Artigo-22932-1-10-20120430Priscila de MattosAinda não há avaliações
- Ensino de Psicologia em Cursos SuperioresDocumento12 páginasEnsino de Psicologia em Cursos SuperioresMiguel LessaAinda não há avaliações
- ANDIÑACH, Pablo. Introdução Hermenêutica Do A. T. Editora Sinodal. pp.19-35Documento9 páginasANDIÑACH, Pablo. Introdução Hermenêutica Do A. T. Editora Sinodal. pp.19-35Cássio A. MartingilAinda não há avaliações
- Almeida, Santos e Trindade, 2000 PDFDocumento11 páginasAlmeida, Santos e Trindade, 2000 PDFngsouzaAinda não há avaliações
- 2006 02 Probest t1Documento6 páginas2006 02 Probest t1silvia ribeiroAinda não há avaliações
- 169 369 1 SMDocumento1 página169 369 1 SMrichard allerrandroAinda não há avaliações
- Tradução FINAL Fundamentos Da Sociocracia - Manual de Referência - TraduçãoDocumento18 páginasTradução FINAL Fundamentos Da Sociocracia - Manual de Referência - Traduçãofabriciopdutradpdutra100% (1)
- Horario 2023 1Documento12 páginasHorario 2023 1Giovanna BluntAinda não há avaliações
- Parte Vi - Atividades Multidisciplinares - 9º AnoDocumento24 páginasParte Vi - Atividades Multidisciplinares - 9º AnoPatricia RodriguesAinda não há avaliações