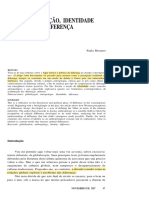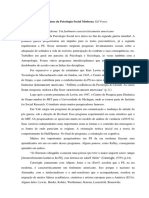Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Entrevista Com Caroline Knowles PDF
Enviado por
marplimDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Entrevista Com Caroline Knowles PDF
Enviado por
marplimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
As jornadas pelas “vias secundárias” da globalização
Entrevista com Caroline Knowles
Por Angelo Martins Jr.
Nesta entrevista, Angelo Martins Jr. conversa com a professora Caroline Knowles,
do Goldsmiths College/University of London, sobre seu recente livro Flip-Flop: a
journey through globalisations ‘backroads’ (2014), que foi traduzido para o português
e publicado pela Annablume com o título Nas trilhas de um chinelo: uma jornada
pelas vias secundárias da globalização (2017).
Caroline, um dos pontos que você levanta em seu livro é que, para entender completa-
mente o que é a globalização, precisamos olhar para a vida cotidiana das pessoas (e suas
conexões com objetos) que constituem o chamado “mundo móvel global” e não apenas
nos concentrarmos nos aspectos econômicos e estruturais do fenômeno. Acredito que sua
própria trajetória pessoal, como uma acadêmica que trabalhou e viveu em diferentes
países, pode ter sido importante para trazer esse olhar ao seu estudo sobre a globalização.
Podemos começar discutindo um pouco sua própria trajetória pessoal, como pesquisadora,
e como e por que você veio a desenvolver essa pesquisa?
É importante compreender e trabalhar com suas próprias características pessoais,
como pesquisador. Como você corretamente sugere, meu interesse pelas lógicas e
mobilidades da globalização não é acidental, mas parte da minha biografia pessoal e
intelectual. Crescida no interior do Reino Unido, em um local um tanto remoto que
trazia um sentimento forte de imutabilidade e de “desconexão com o resto do mundo”,
As jornadas pelas “vias secundárias” da globalização, pp. 325-331
isso produziu em mim uma sede de conhecimento sobre o mundo e um desejo de
experimentar uma espécie de hipermobilidade. Foi quando eu era uma estudante de
doutorado que viajei pela primeira vez para fins de pesquisa, pois usei os arquivos na
Biblioteca Nehru, em Nova Délhi. Naquele momento, eu buscava compreender as
configurações de “raça” no Reino Unido pré-Segunda Guerra Mundial, em reação
a processos de independência colonial. A pesquisa é a forma como vivo no mundo
e então comecei a viajar e a viver em outros lugares, assim minha pesquisa se esten-
deu. Meu primeiro trabalho acadêmico foi na Universidade de Maiduguri, no norte
da Nigéria – agora a fortaleza de Boko Haram, um desenvolvimento com o qual a
universidade é creditada. Encarando mais uma vez uma pequena cidade e seu estilo
de vida, eu decidi explorar o desenvolvimento rural e seu impacto nas comunidades
locais de Kanuri, especialmente nas mulheres.
Incapaz de operar em Kanuri ou Hausa, colaborei com um linguista americano
que falava a língua. Eu dirigia até as aldeias distantes no meu volkswagen e ele tra-
duzia as conversas para mim. Os muitos exemplos do Banco Mundial e de outras
agências que que eram incapazes de abordar as questões e os problemas locais de
fato, por exemplo, querendo ensinar aos agricultores como cultivar nas condições
de seca subsaariana, algo que eles já haviam descoberto por si mesmos séculos antes,
apareceram na minha escrita inicial com o Grupo Mulheres na Nigéria – um interesse
já precoce na questão da globalização, de certa forma.
De volta a um trabalho acadêmico em Londres, retomei minha preocupação an-
terior com “raça”, migração e a política social-democrata, produzindo meu primeiro
livro: Race, discourse and labourism. Posteriormente, questões familiares me levaram
ao Canadá pelos oito anos seguintes, passando primeiro por Toronto e Vancouver
para depois viver em Montreal por seis anos. Em cada cidade, eu estava preocupada
com as formas de racismo incorporadas nas reações locais à migração, que tomaram
formas bem diferentes em cada cidade e província. Esses foram anos em que aprendi
muito, dei aula com dificuldade por causa da minha falta de conhecimento local e
escrevi muito pouco, até eu me instalar em um emprego mais estável em Montreal,
na Concordia University. Foi em Montreal que tive a oportunidade de desenvolver a
vertente urbana do meu trabalho, de forma oblíqua, através de um estudo de “esqui-
zofrênicos” (maioria migrantes afro-caribenhos) e seu relacionamento (hipermóvel)
com a cidade. Foi nesse contexto que minha preocupação com a biografia e o espaço
começou a se desenvolver ao lado da mobilidade e do urbanismo, não abandonando
a “raça”, mas voltando-se para produções de whiteness (branquitude). Essas discussões
se desenvolveram mais plenamente quando voltei ao Reino Unido para trabalhar
na Universidade de Southampton, onde me aprofundei no tema da “branquitude
pós-colonial”. Tendo passado dez anos como imigrante, pareceu-me lógico seguir
326 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 30, n. 1
Por Angelo Martins Jr.
alguns desses interesses, o que me levou de volta à pequena cidade em que cresci,
onde então, só então, pude compreender – e não quando criança – que aquela cidade
estava cheia de gente branca que havia retornado dos serviços do império. Foi nesta
cidade que comecei a seguir uma trilha (de pesquisa) que me levou a Hong Kong,
resultando no livro, em coautoria com o fotógrafo Douglas Harper, Migrant Lives,
landscapes and Journeys, o qual desenvolveu empiricamente algumas das questões
que eu havia levantado, teoricamente, no livro Race and social analysis. Quando
me mudei para Londres, o ponto em que eu tinha começado a minha jornada, fui
trabalhar no Goldsmiths College – University of London, um departamento de
sociologia maravilhoso, por ser “disciplinariamente promíscuo e multidisciplinar”,
o que ampliou ainda mais o meu trabalho no que diz respeito a novas colaborações
com artistas e fotógrafos. Eu também ampliei meu escopo de pesquisa para incluir
circulações de objetos e pessoas e comecei a pesquisar no Kuwait, Coreia, China
e Etiópia, seguindo a trilha de chinelos que escrevo no livro, Flip-Flop: a journey
through globalisations backroads.
Voltando a sua abordagem específica em relação à globalização, a qual mencionei na
primeira questão, você usa uma abordagem que pretende se afastar das teorias da glo-
balização que partem de uma perspectiva mais macro, as que são vistas, por você, como
limitantes demais em suas perspectivas. Para você, a globalização é menos organizada
do que os teóricos como John Urry e Manuel Castells sugerem. Ao debater com esses
autores e sua abordagem da globalização, você argumenta que a ideia e o conceito de
que as pessoas e os objetos “fluem” [ flow] em um mundo em movimento transmitem
uma facilidade irreal com a qual pessoas e objetos se movem de um lugar para outro,
e tal facilidade apagaria as “texturas sociais do viajar”. Em vez de fluxo, você usa a
ideia de “jornada” [journey] para entender as rotas globais que os movimentos das
pessoas e das coisas criam, conectando vidas e paisagens que produzem o mundo global.
Você poderia discutir um pouco mais como seu trabalho difere das noções anteriores de
globalização (via seu conceito de jornada) e quais teóricos a ajudaram a desenvolver
o seu argumento?
Penso que a globalização é um tema tão assustadoramente vasto que os sociólogos,
como aqueles que você mencionou – e eu gosto do trabalho desses autores, por
serem bastante imaginativos –, se mantêm com uma abordagem macro e geral na
tentativa de capturar uma visão mais abrangente do que é a globalização e de como
ela funcionaria. Embora esse tipo de globalização se aproxime de uma orientação
teórica obtusa, seu lado de pesquisa empírica é muito fraco, muitas vezes se limitando
a alguns exemplos. Para mim, é importante capturar como essas coisas funcionam
Abril 2018 327
As jornadas pelas “vias secundárias” da globalização, pp. 325-331
“no chão” [on the ground], no dia a dia. É assim que antropólogos tendem a traba-
lhar com a globalização, e eu alinhei o meu trabalho com esse tipo de abordagem
“no chão”, a qual envolve desenvolver uma visão próxima, de perto, de apenas uma
pequena vertente da globalização. Daí a minha escolha de uma pequena biografia
de objeto – inspirada por Igor Kopytoff – para que eu pudesse analisar a globali-
zação em uma escala menor. As teorias da globalização se baseiam fortemente em
uma outra vertente do trabalho teórico sobre as mobilidades. De fato, essas duas
formas de abstração estão interligadas, de modo que as mobilidades, assim como
a globalização, emergem como uma visão geral, generalizada, do movimento/
mecânica da globalização. Isso também é altamente abstrato (“superteorizado”, na
minha opinião) e pouco demonstrado nas pesquisas empíricas. Mais uma vez, penso
que os antropólogos são melhores em descompactar as microcenas da mobilidade,
e eu gosto de trabalhar nesse campo. Eu gosto de descobrir como a mobilidade se
decompõe em viagens individuais e formas de navegação contingenciais e incertas,
que se alternam de um lado para o outro, à medida que as circunstâncias “no chão”,
no dia a dia, exigem. Eu escrevi sobre isso, junto com minha amiga Vered Amit, no
texto Improvising and navigating mobilities: tacking everyday life, em que defendemos
uma abordagem mais aberta e fluida da mobilidade, a qual leva em conta as reali-
dades cotidianas da vida das pessoas à medida que planejam e executam pequenas e
grandes jornadas que compõem suas vidas. Na verdade, esse artigo foi inspirado nos
refugiados que tentaram acessar a Europa por diferentes rotas e formas de viagem,
durante os últimos três ou quatro verões, ajustando suas rotas e formas de viagem
conforme as circunstâncias exigiam. Isso coloca as pessoas como agentes ativos no
centro do quadro analítico, no lugar do processo abstrato de mobilidade e viagens
globais. Tal perspectiva também desacopla a mobilidade da globalização e insiste
que ambas são parte da vida cotidiana.
O livro é resultado de seis anos de pesquisa etnográfica seguindo a biografia de um par
de chinelos pelo mundo – partindo da extração do petróleo para a sua produção. Para
desenvolver sua etnografia, você atravessou diferentes fronteiras nacionais, conversou
com pessoas de diferentes classes, que falam diferentes línguas e às vezes em locais consi-
derados perigosos para desenvolver pesquisas. Você poderia nos falar sobre a abordagem
metodológica que usou para desenvolver sua pesquisa, a qual você chamou de “métodos
itinerantes”, e também sobre os desafios que enfrentou para desenvolver sua pesquisa?
A resposta honesta à sua pergunta é que eu tive que improvisar em todas as etapas
deste projeto de pesquisa. Então, o que eu resumi no livro como “métodos itinerantes”
é um jeito curto de me referir a uma caixa de ferramentas de abordagens para situações
328 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 30, n. 1
Por Angelo Martins Jr.
diferentes em que eu seria exposta – não conseguir o que eu queria e, em seguida,
tentar de outra forma. Portanto, estes são todos os métodos de pesquisa-padrão
usados por todos os pesquisadores: observação minuciosa, tomar notas, desenhos,
mapeamento, fotografia, entrevistas e assim por diante. A complicação – e o que os
fez “métodos itinerantes” – foi a sua aplicação em movimento, ao longo da trilha
do chinelo. É aí que as dificuldades surgiram. A trilha não foi claramente definida
antes de eu começar a segui-la. Eu tinha apenas uma ideia bem vaga de para onde
realmente ir e, portanto, sempre tive presente um grande elemento de descoberta no
desenrolar da pesquisa. Por exemplo, embora eu soubesse que a trilha passava pela
cidade chinesa de Fuzhou, eu não sabia exatamente onde, em Fuzhou, ela estava.
Muitas vezes a perdi, tive que procurá-la e redescobri-la em lugares que não esperava.
Não podendo viajar de fato com os sapatos de plástico que eu estava seguindo, eu
estava sempre antecipando onde eles poderiam estar e tentando alcançá-los. Nesse
tipo de pesquisa, o pesquisador está sempre atrasado e lutando para recuperar o
atraso. Outra complicação dos métodos itinerantes vem do número de diferentes
pessoas e locais com que eu era obrigada a interagir. Os acadêmicos geralmente se
especializam em regiões e línguas particulares, mas o método itinerante, seguindo
uma trilha incerta, não pode fazer isso. Portanto, os métodos itinerantes não permi-
tem as presunções usuais de experiência (de expertise) e muitas vezes eu sou criticada
pelos antropólogos por isso. Sempre digo que não estou tentando entender pontos
e lugares específicos, mas as conexões entre eles. Quando estão “enraizados” em um
local, os antropólogos não podem fazer essas perguntas sobre rotas e conexão, pelo
menos eles só podem fazer isso a partir de um único local. Os métodos itinerantes
podem ser intelectualmente insatisfatórios, mas abrem novas questões e conduzem a
novas possibilidades. Todos os métodos são de qualquer forma imperfeitos. Melhor
apenas admitir suas limitações e seguir em frente!
Ainda sobre métodos, neste livro você trabalhou em colaboração com um fotógrafo,
Michael Tan, para desenvolver a pesquisa. Você poderia nos dizer sobre a importância,
e também as limitações, de usar a fotografia como uma ferramenta metodológica para
apreender o mundo urbano e social (móvel)?
Trabalho com fotógrafos e artistas porque eles têm uma imaginação diferente, mais
visualmente calibrada, enquanto a minha trabalha com palavras. Eu sou uma escritora
que é atraída pela estética visual, para a aparência das coisas, mas além de fotografar
cenas de pesquisa para fins de inventário, como parte das minhas notas de pesqui-
sa, não consigo pensar e combinar fotografias em uma gramática de imagens que
transmitem algo intangível sobre a pesquisa. Quando Michael Tan e eu trabalhamos
Abril 2018 329
As jornadas pelas “vias secundárias” da globalização, pp. 325-331
juntos na trilha do chinelo, eu não impus nenhum requisito. Nós concordamos que
estávamos seguindo o chinelo e que estávamos estudando a globalização, mas, além
disso, nós dois fomos livres para cada um explorar a questão da maneira que nos
parecesse apropriada.
Na verdade, Michael às vezes trabalha com fotografia: ele é melhor descrito como
um artista. Então trabalhamos em conjunto nas mesmas cenas de pesquisa na China
e na Etiópia. Enquanto eu fazia entrevistas, ele vagava pelas cenas descobrindo coi-
sas que eu não havia notado e tirando fotografias da maneira que quisesse. Então,
mudaríamos para a próxima cena conforme havíamos concordado. Todas as noites
nos encontrávamos. Michael me mostrava suas fotos e eu lhe falava o que havia
descoberto via entrevistas. Dessa forma, formamos uma colaboração paralela. Ele
editaria suas fotos dessas nossas conversas. No final, nem todas as fotos puderam
constar do livro, mas estão no site www.flipfloptrail.com. Também fizemos algumas
exposições – lideradas por ele – em Leeds e em Cingapura, de modo que o livro e os
artigos não eram nossa única produção. Michael foi bastante habilidoso em captar
movimento em sua fotografia. Isso se mostra em suas fotos na estrada na Etiópia,
onde ele fotografou peregrinos caminhando a pé e caminhões e ônibus na estrada,
enquanto dirigíamos entre Adis Abeba e a fronteira da Somália.
Sei que você foi premiada com o extremamente competitivo financiamento Leverhulme
Major Fellowship para desenvolver seu projeto, Serious money: a mobile investigation
of plutocratic London, no qual você explora os bairros e as vidas dos plutocratas de
Londres. Você poderia nos contar mais sobre esse projeto e como isso está relacionado
com o trabalho anterior sobre a circulação de pessoas e coisas e a produção das cidades
(e do mundo global)?
Meu novo projeto tenta fazer visíveis as cartografias da riqueza de Londres, as quais
são parcialmente submersas e, às vezes, deliberadamente obscurecidas. A pesquisa foi
desenhada como uma caminhada através do vórtice de riqueza de Londres – o que
eu penso como um corredor de residência e atividade plutocrática –, que começa
em Virginia Water no Wentworth Golf Course, segue ao longo do Tamisa, pelos
bairros de Chelsea, Knightsbridge, Kensington, e termina em Mayfair. Estas são
partes afluentes do oeste e sudoeste de Londres. O ponto da caminhada é descrever
os bairros em que os plutocratas vivem e tentar falar com eles e com sua classe de
serviço. As questões da pesquisa são: Quem são esses plutocratas de Londres? Como
eles pensam sobre si mesmos, sobre a cidade e sobre outras pessoas? Como eles vi-
vem? Pensei nisso como descobrindo a carne e a força vital do capital. Claro que isso
também é um projeto sobre globalização, mas agora operando na extremidade oposta
330 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 30, n. 1
Por Angelo Martins Jr.
do espectro de riqueza da fabricação do chinelo! Londres é um nexo global no fazer,
ampliar e consumir dinheiro! Dessa vez, meus métodos itinerantes são confinados a
uma única cidade e aos condutores que a conectam com o resto do mundo.
Referências Bibliográficas
Amit, Vered & Knowles, Caroline. (2017), “Improvising and navigating mobilities: tacking
in everyday life”. Theory, Culture & Society, 8 (34): 165-179.
Kopytoff, Igor. (1986), “The cultural biography of things: commoditization as process”.
In: Appadurai, Arjun (org.), The social life of things. Cambridge, Cambridge University
Press, pp. 64-91.
Knowles, Caroline. (2014), Flip-flop: a journey through globalisation’s backroads. Londres,
Pluto Press.
______. (2003), Race and social analysis. Londres, Sage.
______. (1992), Race discourse and labourism. Londres, Routledge.
Knowles, Caroline & Harper, Douglas. (2009), Hong Kong: migrant lives, landscapes, and
journeys. Chicago, University of Chicago Press.
Urry, John. (2000), “Mobile sociology”. British Journal of Sociology, 51 (1): 185-203.
Texto enviado em 19/9/2017 e aprovado em 19/10/2017. doi: 10.11606/0103-2070.
ts.2018.138086.
angelo martins jr. é professor no Departamento de Sociologia do Goldsmiths College da
University of London. E-mail: martins.ajunior@gmail.com.
Abril 2018 331
Você também pode gostar
- Revista Continente Multicultural #270: O cérebro eletrônico faz tudo?No EverandRevista Continente Multicultural #270: O cérebro eletrônico faz tudo?Ainda não há avaliações
- Mundialização e Cultura Ricardo OrtizDocumento97 páginasMundialização e Cultura Ricardo OrtizLucas YahnAinda não há avaliações
- A construção do turistaDocumento12 páginasA construção do turistaCassia_TulAinda não há avaliações
- Cidade Alta: História, memória e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de JaneiroNo EverandCidade Alta: História, memória e estigma de favela num conjunto habitacional do Rio de JaneiroAinda não há avaliações
- Zulma Palermo sobre a opção decolonial como lugar-outro de pensamentoDocumento14 páginasZulma Palermo sobre a opção decolonial como lugar-outro de pensamentoLeo NameAinda não há avaliações
- Fronteiras em Movimento: modos de criação e organização no Projeto Magdalena – rede internacional de mulheres na cena contemporâneaNo EverandFronteiras em Movimento: modos de criação e organização no Projeto Magdalena – rede internacional de mulheres na cena contemporâneaAinda não há avaliações
- Néstor García CancliniDocumento13 páginasNéstor García CancliniLorena Caminhas0% (1)
- Caminhando Celma PaeseDocumento173 páginasCaminhando Celma PaeseFabrício MarconAinda não há avaliações
- Antropologia social e abordagem dinâmica: descolonização e transformação ontológica na AntropologiaNo EverandAntropologia social e abordagem dinâmica: descolonização e transformação ontológica na AntropologiaAinda não há avaliações
- Pontos importantes do historiador Georges DubyDocumento10 páginasPontos importantes do historiador Georges DubyFernando PereiraAinda não há avaliações
- A legitimação no estágio atual do capitalismoNo EverandA legitimação no estágio atual do capitalismoAinda não há avaliações
- Sobre interculturalidade, africanidades e afrodescendênciasDocumento4 páginasSobre interculturalidade, africanidades e afrodescendênciasPedrinhoDeCubaAinda não há avaliações
- Nova Iorque das Ruas e do Texto: uma leitura de Maggie, uma Garota das Ruas, de Stephen CraneNo EverandNova Iorque das Ruas e do Texto: uma leitura de Maggie, uma Garota das Ruas, de Stephen CraneAinda não há avaliações
- YvesWinkin - Descer Ao CampoDocumento10 páginasYvesWinkin - Descer Ao CampoAlcimar TrancosoAinda não há avaliações
- O Relativismo CulturalDocumento28 páginasO Relativismo CulturalSamira GuimaAinda não há avaliações
- Gasbarro, Nicola - O Estudo Comparado Das ReligiõesDocumento6 páginasGasbarro, Nicola - O Estudo Comparado Das ReligiõesMil Ton100% (1)
- Ortiz Renato Mundializacao e CulturaDocumento235 páginasOrtiz Renato Mundializacao e CulturaCatharina De Angelo100% (9)
- Da Periferia Ao Centro - ResenhaDocumento17 páginasDa Periferia Ao Centro - ResenhaIsabelle ZanoniAinda não há avaliações
- Entrevista com Appadurai sobre globalização e imaginaçãoDocumento8 páginasEntrevista com Appadurai sobre globalização e imaginaçãoaugustoesouzaAinda não há avaliações
- Teoria Da HistoriaDocumento102 páginasTeoria Da HistoriaFabricio MonteiroAinda não há avaliações
- Projeto de AntropologiaDocumento4 páginasProjeto de AntropologiaVictória Cristina Dos Santos LageAinda não há avaliações
- Arnaldo Antunes Tela e TextoDocumento34 páginasArnaldo Antunes Tela e TextoVívien GonzagaAinda não há avaliações
- ANTROPOLOGIA E CULTURADocumento13 páginasANTROPOLOGIA E CULTURAMarcelo FelipeAinda não há avaliações
- Relativismo CulturalDocumento15 páginasRelativismo CulturalLeticia Fernanda Pacheco da CostaAinda não há avaliações
- Exemplo, Dentro-WPS OfficeDocumento6 páginasExemplo, Dentro-WPS OfficeAurélio OliveiraAinda não há avaliações
- Antropologia III - Resenha Os Argonautas ...Documento7 páginasAntropologia III - Resenha Os Argonautas ...Juliana CoutinhoAinda não há avaliações
- 51342-Texto Do Artigo-201980-1-10-20221001Documento5 páginas51342-Texto Do Artigo-201980-1-10-20221001Alexandre RAinda não há avaliações
- Entrevista com filósofo da tecnologia Andrew FeenbergDocumento7 páginasEntrevista com filósofo da tecnologia Andrew FeenbergKina KinaAinda não há avaliações
- Procedimentos e estratégias de leitura em Ciências HumanasDocumento28 páginasProcedimentos e estratégias de leitura em Ciências HumanasGlauco Roberto Bertucci100% (1)
- Entrevista com Renato Ortiz: universalismo, diversidade e contradições da modernidadeDocumento14 páginasEntrevista com Renato Ortiz: universalismo, diversidade e contradições da modernidadeCyda Do ÓAinda não há avaliações
- Pesquisas Urbanas G.velhoDocumento6 páginasPesquisas Urbanas G.velhoRafael Derois SantosAinda não há avaliações
- Entrevista com Arjun Appadurai sobre globalização, identidade e imaginaçãoDocumento8 páginasEntrevista com Arjun Appadurai sobre globalização, identidade e imaginaçãoThetê RochaAinda não há avaliações
- Cooper 1Documento153 páginasCooper 1Karen Souza da SilvaAinda não há avaliações
- A Literatura Como Possibilidade de Compreensão de Processos Subjetivos Uma Análise Do Livro o Conto Da AiaDocumento24 páginasA Literatura Como Possibilidade de Compreensão de Processos Subjetivos Uma Análise Do Livro o Conto Da AiaFredericoAinda não há avaliações
- Um Ensaio Sobre o Ego-HistóriaDocumento10 páginasUm Ensaio Sobre o Ego-HistóriaAdriano p. LuchettiAinda não há avaliações
- A antropologia no Brasil e as práticas de colecionamento em museus etnográficosDocumento24 páginasA antropologia no Brasil e as práticas de colecionamento em museus etnográficosRMAinda não há avaliações
- Entrevista - Roger Chartier - Revista de HistóriaDocumento5 páginasEntrevista - Roger Chartier - Revista de HistóriaRafael MarquesAinda não há avaliações
- Texto - IEAT Entrevista Com Maria Do Ceu DielDocumento11 páginasTexto - IEAT Entrevista Com Maria Do Ceu DielJairo MartinsAinda não há avaliações
- Admrcds,+contemporanea Vol11n1 2021 08 Art 153-175Documento23 páginasAdmrcds,+contemporanea Vol11n1 2021 08 Art 153-175Ana Lis SilvaAinda não há avaliações
- Fichárioww 211Documento108 páginasFichárioww 211Daniel Chagas FerreiraAinda não há avaliações
- O Processo Ritual - Victor TurnerDocumento125 páginasO Processo Ritual - Victor TurnerMuriloPecciolideOliveria100% (4)
- Mcotinguiba, 3 - Geralda IrisDocumento14 páginasMcotinguiba, 3 - Geralda IrisHadassa FreireAinda não há avaliações
- Entrevista Donna Haraway - Se Nós Nunca Fomos HumanosDocumento25 páginasEntrevista Donna Haraway - Se Nós Nunca Fomos HumanosememaiaAinda não há avaliações
- Da MattaDocumento23 páginasDa MattaStephanie MottaAinda não há avaliações
- O que é etnocentrismo? resumoDocumento3 páginasO que é etnocentrismo? resumoLevi Ramos100% (1)
- Turner, Victor - o Processo RitualDocumento125 páginasTurner, Victor - o Processo RitualIsabel de RoseAinda não há avaliações
- Laplantine 2Documento6 páginasLaplantine 2Daniela AguiarAinda não há avaliações
- TURNER, Victor. O Processo Ritual, Estrutura e Antiestrutura.Documento125 páginasTURNER, Victor. O Processo Ritual, Estrutura e Antiestrutura.Aracely SavioAinda não há avaliações
- Artes, cotidiano e periferia: produções culturais e significadosDocumento22 páginasArtes, cotidiano e periferia: produções culturais e significadosSueli CostaAinda não há avaliações
- Sociedade Como TotalidadeDocumento22 páginasSociedade Como TotalidadeJosiane LinoAinda não há avaliações
- Ensaio - Teoria Antropológica IDocumento7 páginasEnsaio - Teoria Antropológica ILuís Augusto Meinberg GarciaAinda não há avaliações
- O Que É Antropologia, RamificaçõesDocumento25 páginasO Que É Antropologia, RamificaçõesSamira GuimaAinda não há avaliações
- GOFF, Jacques Le A Longa Idade Media e A Nova EuropaDocumento26 páginasGOFF, Jacques Le A Longa Idade Media e A Nova EuropaMauro BaladiAinda não há avaliações
- Rua Quinze Magnani PDFDocumento8 páginasRua Quinze Magnani PDFsaniellerolimAinda não há avaliações
- Globalização, identidade e diferença: o lugar teórico e político da diferença no mundo contemporâneoDocumento18 páginasGlobalização, identidade e diferença: o lugar teórico e político da diferença no mundo contemporâneoMarcos FreitasAinda não há avaliações
- Escola de Manchester e A Analise Da SituDocumento18 páginasEscola de Manchester e A Analise Da SituLucybeth Camargo de ArrudaAinda não há avaliações
- A_distopia_de_ontem_e_a_realidade_de_hoDocumento20 páginasA_distopia_de_ontem_e_a_realidade_de_hoRoberta VeigaAinda não há avaliações
- A Emergência Dos "RemanescentesDocumento32 páginasA Emergência Dos "RemanescenteshaborelaAinda não há avaliações
- História da homeopatia no BrasilDocumento456 páginasHistória da homeopatia no BrasilAlcivanAinda não há avaliações
- Identidade e Estratégia Na Formação Do Movimento Ambientalista BrasileiroDocumento17 páginasIdentidade e Estratégia Na Formação Do Movimento Ambientalista BrasileiroGuilherme Cunha de CarvalhoAinda não há avaliações
- Impactos Da Tecnociência Nos Saberes, Na Cultura Da Vida e SaúdeDocumento10 páginasImpactos Da Tecnociência Nos Saberes, Na Cultura Da Vida e SaúdemarplimAinda não há avaliações
- Palestra Kabengele DIVERSIDADEEtnicidade Identidade e CidadaniaDocumento13 páginasPalestra Kabengele DIVERSIDADEEtnicidade Identidade e CidadaniaEgrinaldo JuniorAinda não há avaliações
- Metodologia e Resultados Do Mapa: Uma Síntese Dos Casos de Injustiça Ambiental e Saúde No BrasilDocumento39 páginasMetodologia e Resultados Do Mapa: Uma Síntese Dos Casos de Injustiça Ambiental e Saúde No BrasilmarplimAinda não há avaliações
- Territórios indígenas: conceitos e territorialidade Zo'éDocumento11 páginasTerritórios indígenas: conceitos e territorialidade Zo'émegantylorAinda não há avaliações
- Des Env Ovo Men To Identi DadeDocumento7 páginasDes Env Ovo Men To Identi DadeDhanyane CastroAinda não há avaliações
- Metodologia e Resultados Do Mapa: Uma Síntese Dos Casos de Injustiça Ambiental e Saúde No BrasilDocumento39 páginasMetodologia e Resultados Do Mapa: Uma Síntese Dos Casos de Injustiça Ambiental e Saúde No BrasilmarplimAinda não há avaliações
- Trazendo coisas à vidaDocumento20 páginasTrazendo coisas à vidaRodrigo ToniolAinda não há avaliações
- BARTH, Frdderik-Etnicidade E CulturaDocumento16 páginasBARTH, Frdderik-Etnicidade E CulturaNilton CarlosAinda não há avaliações
- Drawn To SeeDocumento5 páginasDrawn To SeemarplimAinda não há avaliações
- GonçalvesDocumento33 páginasGonçalvesmarplimAinda não há avaliações
- 17 Luis Reis TorgalDocumento17 páginas17 Luis Reis TorgalmarplimAinda não há avaliações
- 20170523tratado Mundial Sobre Resíduos Plásticos - Valor EconômicoDocumento2 páginas20170523tratado Mundial Sobre Resíduos Plásticos - Valor EconômicomarplimAinda não há avaliações
- O Olhar Do Antropologo - Olhar - Ouvir e EscreverDocumento10 páginasO Olhar Do Antropologo - Olhar - Ouvir e EscrevermarplimAinda não há avaliações
- Impactos do fechamento do lixão de Gramacho na vida dos catadoresDocumento131 páginasImpactos do fechamento do lixão de Gramacho na vida dos catadoresmarplimAinda não há avaliações
- Narcotico IncommodoDocumento2 páginasNarcotico IncommodomarplimAinda não há avaliações
- OPoder Do Lixo Abordagens Antropologicas Dos Residuos SolidosDocumento432 páginasOPoder Do Lixo Abordagens Antropologicas Dos Residuos SolidosDayanne Batista Sampaio100% (1)
- Resenha ACHUTTIDocumento3 páginasResenha ACHUTTImarplimAinda não há avaliações
- Entrevista MacdougallDocumento2 páginasEntrevista MacdougallmarplimAinda não há avaliações
- CamoDocumento16 páginasCamoHypatia ArtistAinda não há avaliações
- Trazendo coisas à vidaDocumento20 páginasTrazendo coisas à vidaRodrigo ToniolAinda não há avaliações
- Faces Do AntiutilitarismoDocumento3 páginasFaces Do AntiutilitarismomarplimAinda não há avaliações
- Industrias OffensivasDocumento2 páginasIndustrias OffensivasmarplimAinda não há avaliações
- Mysterio SDocumento2 páginasMysterio SmarplimAinda não há avaliações
- Arqueologia da violência nas sociedades primitivasDocumento33 páginasArqueologia da violência nas sociedades primitivasMaria Luisa Mello Fontoura De SouzaAinda não há avaliações
- Barth, Frederik Antropologia Da EtnicidadeDocumento64 páginasBarth, Frederik Antropologia Da EtnicidadeGime Roque100% (3)
- Criminologia e Política CriminalDocumento38 páginasCriminologia e Política CriminalDeborah GalvãoAinda não há avaliações
- A figura do mau selvagem e do bom civilizadoDocumento41 páginasA figura do mau selvagem e do bom civilizadoPRGAinda não há avaliações
- 4 Sally Price Arte Primitiva em Centros Civilizados 1Documento13 páginas4 Sally Price Arte Primitiva em Centros Civilizados 1raabe.constantinoAinda não há avaliações
- Sara AlonsoDocumento231 páginasSara AlonsoFrancisco Brasil100% (2)
- O urbano e suas múltiplas dimensões: uma análise antropológicaDocumento7 páginasO urbano e suas múltiplas dimensões: uma análise antropológicaDeboraBaldelliAinda não há avaliações
- Raça e identidadeDocumento29 páginasRaça e identidadePaulo Jorge PessoaAinda não há avaliações
- Dissertação - Ensino de Expressões Idiomáticas Do Espanhol Como L2 - Uma Sequência Didática Cognitivo-FuncionalDocumento117 páginasDissertação - Ensino de Expressões Idiomáticas Do Espanhol Como L2 - Uma Sequência Didática Cognitivo-FuncionalSILVIO REINOD COSTAAinda não há avaliações
- Determinismo Biológico e GeográficoDocumento2 páginasDeterminismo Biológico e GeográficoAndre Meireles0% (1)
- Victor Turner - o Processo Ritual005Documento124 páginasVictor Turner - o Processo Ritual005Ilda AndradeAinda não há avaliações
- Interpretação dos costumes e crenças dos AndamanesesDocumento25 páginasInterpretação dos costumes e crenças dos Andamaneseslubuchala5592Ainda não há avaliações
- Rito: antropologia e fenomenologiaDocumento7 páginasRito: antropologia e fenomenologiaIngrid DaianeAinda não há avaliações
- Observação Participante e Não Participante PDFDocumento15 páginasObservação Participante e Não Participante PDFSilvia Nathalia Nuñez0% (1)
- Mértola - A Tradição Oral Na Identidade de Um PovoDocumento228 páginasMértola - A Tradição Oral Na Identidade de Um PovoCésar NunesAinda não há avaliações
- A simbólica do coração no antigo Egito: estudo da representação da consciênciaDocumento747 páginasA simbólica do coração no antigo Egito: estudo da representação da consciênciaRicardoGomessAinda não há avaliações
- Resumo - Artigo Qualitativa IDocumento2 páginasResumo - Artigo Qualitativa IBruna KarllaAinda não há avaliações
- Aula 7 - Língua PortuguesaDocumento19 páginasAula 7 - Língua PortuguesaRhuan AlmeidaAinda não há avaliações
- Territórios indígenas: conceitos e territorialidade Zo'éDocumento11 páginasTerritórios indígenas: conceitos e territorialidade Zo'émegantylorAinda não há avaliações
- Os registros de Aimé-Adrien Taunay dos índios BororoDocumento12 páginasOs registros de Aimé-Adrien Taunay dos índios BororoVitória ValentimAinda não há avaliações
- Imigracao e Imigrantes PDFDocumento336 páginasImigracao e Imigrantes PDFFabianAndradeAinda não há avaliações
- MOUTINHO, Laura - Diferenças e Desigualdades NegociadasDocumento48 páginasMOUTINHO, Laura - Diferenças e Desigualdades NegociadasEros TartarugaAinda não há avaliações
- A etnografia como paradigma de construção do conhecimento em educaçãoDocumento6 páginasA etnografia como paradigma de construção do conhecimento em educaçãomarlipedroAinda não há avaliações
- As Raízes Da PS Moderna - Resumo Cap. 1 e 2Documento5 páginasAs Raízes Da PS Moderna - Resumo Cap. 1 e 2Listhiane RibeiroAinda não há avaliações
- Cultura e Meio AmbienteDocumento7 páginasCultura e Meio AmbienteBruno Goulart100% (1)
- Manual de Redação Oficial - FunaiDocumento80 páginasManual de Redação Oficial - FunaiJoão de SouzaAinda não há avaliações
- Antropologia Criminal PDFDocumento32 páginasAntropologia Criminal PDFArnaldoCarvalhoAinda não há avaliações
- Planos RI-1Documento185 páginasPlanos RI-1Raquel RochaAinda não há avaliações
- Estevao de Rezende Martins História Cultura Ciencia TeoriaDocumento11 páginasEstevao de Rezende Martins História Cultura Ciencia Teoriamarcos.peixotoAinda não há avaliações
- A Linguística de Jakobson e suas ContribuiçõesDocumento10 páginasA Linguística de Jakobson e suas ContribuiçõesmangueiralternativoAinda não há avaliações