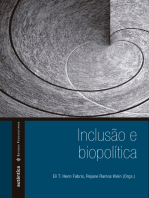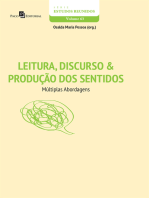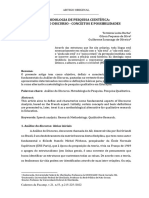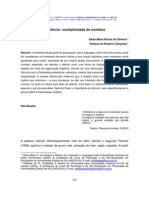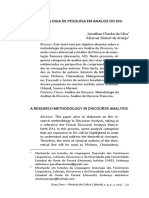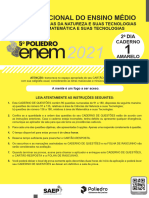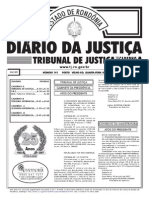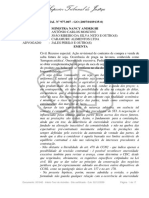Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Discurso em Analise PDF
Discurso em Analise PDF
Enviado por
Gustavo Motta0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações10 páginasTítulo original
Discurso em Analise.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações10 páginasDiscurso em Analise PDF
Discurso em Analise PDF
Enviado por
Gustavo MottaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
275
ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso em Análise: Sujeito, Sentido,
Ideologia. Campinas, SP, Pontes, 2012. 239p.
Resenhado por: Carolina Fernandes1 e Rodrigo de Oliveira
Fonseca2
Em seu 38º livro sobre Análise de Discurso, Eni Orlandi convida-nos
desta vez a, mais do que analisar o discurso, observá-lo em análise(s).
Essa alusão à terapia metaforiza as próprias inquietações da área na
tensão entre as suas bases epistemológicas e o novo campo de questões
que se apresenta. Tendo se desenvolvido com base na consistência e na
abrangência teórica e metodológica, a Análise de Discurso praticada no
Brasil pode, assim, reivindicar um “alargamento da exploração de seus
princípios básicos”, caracterizando o avesso do que se coloca na França,
onde a epistemologia pecheutiana encontra-se apagada. Orlandi mostra
que tal tomada de posição implica novos desafios e responsabilidades.
Discurso em Análise vem reforçar as bases da Análise de Discurso
herdada de Michel Pêcheux (doravante AD), provocando o olhar em
diversas direções, sem perder o foco na historicidade da própria teoria.
Para manter sólida a filiação da AD brasileira, Eni Orlandi considera
como conceitos articuladores o sujeito, o sentido e a ideologia, a partir
do que se pode preservar a relação entre o político e o teórico, tornando
consistente a interlocução entre teoria, metodologia, análise e objeto. O
encadeamento entre esses elementos é o que faz com que o avanço da
AD no país recupere o sentido de sua fundação na França para seguir
adiante, no trabalho sem fim de uma ciência.
A obra é constituída por 15 textos, resultado de conferências e
reflexões sobre o desenvolvimento da AD na contemporaneidade. No
primeiro, Apagamento do político na ciência: notas à história da análise de
discurso-fragmentação, diluição, indistinção de sentidos e revisionismo, a
autora remonta às formulações iniciais da AD na França, relacionando
essa conjuntura da formulação francesa à conjuntura política do Brasil
das décadas de 60 a 80, quando se vivia o período da ditadura militar, a
época dos silenciamentos, da opressão, do dizer de outros modos.
1 Professora da Universidade Federal do Pampa.
2 Doutor em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
276 Carolina Fernandes e Rodrigo Fonseca
Essa interdição do político no discurso da resistência marca a
assunção do sentido nos estudos da linguagem, cujo ponto nodal se
localiza na articulação entre língua e ideologia. Orlandi observa que,
na conjuntura atual, afloraram diferentes práticas teóricas que se creem
no âmbito do discurso, numa vasta gama de “análises de discurso” em
que o objeto de estudo (o discurso) é tão plural e contraditório que
é difícil estabelecer as filiações teóricas. No entanto, para a autora,
essa polissemia em torno da noção de discurso, ao invés de refletir
a heterogeneidade do campo das ciências da linguagem, apaga-a em
nome de uma homogeneidade imposta pelo discurso da mundialização
que preza pelo sentido único, consensual, esfacelando as diferenças.
Essa lógica do consensual, produto da ideologia mundialista, torna
rarefeita a reflexão sobre a linguagem e, principalmente, sobre o
discurso enquanto materialidade ideológica.
A virada da AD (seu “tournant”) é mais amplamente discutida em
Análise de Discurso e Contemporaneidade Científica, onde Orlandi
expõe os deslizamentos da AD e reflete sobre seus rumos, propondo
questões e desmantelando seus desvirtuamentos. No panorama
brasileiro da AD, novas questões são postas, novas discursividades
e novos tipos de análise, termo recuperado de Michel Pêcheux, o que
não implica novos objetos a serem investigados. Para a autora, “não é
o objeto que é novo, é o que podemos dizer através do tipo de análise,
sobre nosso objeto”. Reforça ainda que objeto da AD segue sendo o
discurso como principal materialidade ideológica.
Orlandi ainda alerta para a necessidade de se evitar o deslumbramento
com objetos supostamente novos de análise (midiáticos, virtuais,
interativos), o que pode reduzir a prática analítica do processo discursivo
à mera descrição da materialidade significante, apagando a teoria. Ela
ressalta a importância de se manter firme na teoria, de se colocar no
lugar teórico da AD, para, assim, trabalhar no entremeio. Entremeio
é uma palavra-chave na AD, que se originou entre as contradições da
Linguística, do Marxismo e da Psicanálise. No entanto, Orlandi amplia
esse conceito para mostrar que o entremeio é igualmente convocado
no contato com outras áreas que venham a entrar no jogo discursivo
através da materialidade significante em análise.
Nessa perspectiva do entremeio, a AD se coloca no terreno dos
estudos da linguagem na posição materialista, isto é, nem formalista,
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
Resenha: ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso em análise: sujeito, sentido, ideologia 277
nem funcionalista. Ver a linguagem pela ótica materialista, afirma
Orlandi, citando Pêcheux, é ver a língua como “o real específico formando
o espaço contraditório do desdobramento das discursividades”. É neste
ponto do desdobramento por onde se podem abordar as diferentes
materialidades significantes tão convocadas à análise no contexto atual.
No capítulo seguinte, Documentário, Acontecimento discursivo,
Memória e Interpretação, Orlandi analisa o documentário São
Carlos/1986 de João Massarolo, 2007, que denuncia a repressão do
governo militar às manifestações de operários desempregados no
interior de São Paulo, apontando o político como não-restrito à prática
política, mas integrante de toda relação de poder materializada na
linguagem. Essa análise é um exemplo de como a AD pode abordar
os novos materiais textuais, considerando inseparáveis os dispositivos
teórico e analítico. Além disso, a autora salienta que a natureza do
material significante a ser analisado afeta justamente este último, o
dispositivo analítico, sendo neste ponto a entrada de outras áreas que
ajudem a analisar as especificidades desse material.
Observando a relação entre o dizer na atualidade e sua memória,
Orlandi entende que São Carlos/1968 trata-se de um acontecimento
discursivo e não de um “documento” da história, visto que documento
visa à imobilidade do arquivo, à institucionalização do dizer, ao
contrário do acontecimento que é móvel e permite outros sentidos,
que não apenas os institucionalizados. O fato não é representado no
documentário, mas se torna acontecimento por ser um recorte do
real, uma versão que produz o efeito de passado. A tomada do texto
documentário como acontecimento se materializa de diversas formas
no vídeo: através de imagens, sons, movimentos, formas e mesmo
técnicas de edição fílmica. Por essa complexa textualidade, Orlandi
sente a necessidade de recuperar as reflexões de Jean Davallon sobre
a relação entre a imagem e a memória para mostrar que essa relação
intrínseca revela a imagem como uma materialidade discursiva e, assim,
suscetível de significar e fazer circular a memória do dizer. As imagens do
documentário tornam visíveis os sentidos silenciados pela ditadura e que
agora podem se colocar como acontecimento, como parte da história, ou
ainda, coloca na história o que estava silenciado: o político.
Em Quando a falha fala: Materialidade, Sujeito, Sentido, a autora
reflete mais profundamente sobre a questão da materialidade na
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
278 Carolina Fernandes e Rodrigo Fonseca
AD conceito que tende a ser banalizado pela redução ao dito ou ao
dado de qualquer natureza. O próprio conceito de materialidade em
AD é construído no entremeio entre a Linguística, que faz resurgir o
conceito de forma de Hjelmslev, as Ciências Sociais com o Materialismo
Histórico e a Psicanálise, por fazer surgir o conceito de imaginário
na sua relação com o real. Articulando essas três áreas, Eni Orlandi
esforça-se por demonstrar que a noção de forma material, inspirada
pela Glossemática para a qual cada linguagem apresenta sua forma
própria, liga-se à perspectiva do Materialismo Histórico que tira
a ideologia da esfera das ideias, fazendo do político uma prática
discursiva materializada na linguagem via inconsciente. Essa ligação
entre ideologia e inconsciente, frisa Orlandi com base em Pêcheux, é
material. A materialidade é, portanto, para a autora, o que explica a
relação entre o real e o imaginário.
A incursão do real no imaginário é exposta, via forma material
significante, pelos atos falhos. Pensando a relação entre a materialidade
e a tecnologia, Orlandi vê surgir o dígito falho, que representaria os
equívocos na digitação de textos, a troca de letras ou mesmo sua
supressão ou acréscimo. Ressalta que os atos falhos não se produzem do
mesmo modo em materiais significantes diferentes devido às condições
de produção da escrita. No caso do dígito falho, a falha é facilitada pela
emergência da escrita digital e pelo movimento dos dedos no teclado,
o que significa que a relação entre matéria e língua passa pela questão
do corpo. E a autora finda sua reflexão mostrando que essa falha na
materialidade tecnológica confirma a tese de Pêcheux de que ideologia
e inconsciente estão materialmente ligados.
No texto Processos de Significação, Corpo e Sujeito, Orlandi discute
a materialidade do sujeito, ou seja, a relação do sujeito com o corpo,
não o empírico, mas em seu caráter discursivo, que significa. Ele é a
própria materialidade do sujeito em sua ligação com o simbólico e o
imaginário. Dessa forma, a autora explora mais uma vez a abertura
do simbólico ao analisar o comportamento do corpo quando o sujeito
silencia, ou quando expõe suas tatuagens ou piercings, ou ainda o corpo
que dança, sendo esta dança feita do embalo das próprias pernas ou de
cadeiras de rodas. Ela busca compreender como o sujeito, enquanto
materialidade, significa e como significa-se por meio do corpo. Explica
que é o imaginário que produz o efeito de transparência, de que a
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
Resenha: ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso em análise: sujeito, sentido, ideologia 279
relação entre sujeito e corpo é evidente. Pelo dispositivo da AD, Orlandi
mostra que essa relação é apenas ilusoriamente transparente e convida-
nos a pensar a relação do corpo com a ideologia. Para isso, examina a
dança como um efeito discursivo possibilitado pelo próprio conceito de
discurso: efeito de sentido entre interlocutores.
A análise discursiva da dança estende-se em Corpo e Sujeito: na
dança, os sentidos, onde a autora principia sua reflexão examinando os
processos discursivos da dança de Pina Bausch, apoiada nas reflexões
de Laban e Badiou. Em suas análises, compreende a dança como
uma “retenção” e uma “iminência” que faz trabalhar o silêncio na
materialidade do corpo, silêncio este fundador de significação e não
ausência de sentido, conforme a definição trabalhada em sua obra As
formas do silêncio. Mobilizando os conceitos de tempo e espaço na
dança em uma perspectiva discursiva, Orlandi conclui que a dança não
é representação, mas efeito metafórico.
Nos dois textos seguintes – Propaganda Política e Língua de Estado:
Brasil, um país de todos e Uma tautologia ou um embuste semântico-
discursivo: país rico é país sem pobreza? – Eni Orlandi analisa o
funcionamento da língua de Estado sob um slogan do governo Lula e
outro do governo Dilma. Antecipando a primeira análise, retoma um
texto de Michel Pêcheux sobre o russo Serguei Tchakhotin, teórico da
propaganda na URSS, e os processos de contraidentificação na guerra
ideológica de desmobilização das resistências populares, a partir da qual
se desenvolve um intenso movimento de empréstimos, mistificações,
camuflagens e provocações entre esquerda e direita. Orlandi sublinha
o caráter não-instrumental e não-indiferente das armas utilizadas por
cada um dos lados no confronto, o que ajuda a entender o fracasso das
teorias da manipulação. No caso do enunciado Brasil, um país de todos,
tomado numa constelação de dizeres edificantes do mito da cidadania,
o discurso transverso no funcionamento do aposto, com sua evocação
lateral, insinua-se (e não mais que isso) contra um pré-construído da
imagem do Brasil enquanto sociedade desigual. Ou seja, contra uma
imagem estruturante na memória da esquerda brasileira.
Quanto ao slogan País rico é país sem pobreza, veiculado em
propaganda do governo Dilma, Orlandi trata de demonstrar o desvio
que se opera das causas da pobreza, fator este que, se inserido, abriria
espaço para os lugares de litígio, de mobilização e contestação popular.
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
280 Carolina Fernandes e Rodrigo Fonseca
Não falando de “pobres” nem de “povo”, mas de “pobreza”, o enunciado
atua em prol da reinscrição de uma suposta natureza dos sujeitos pobres
que os condena à sua situação. Numa análise do funcionamento global
da propaganda (do Ministério da Educação), as estatísticas apresentadas
sobre a melhoria dos índices de desenvolvimento educacional no Brasil
são consideradas pela autora como uma forma de materialização do
discurso do consenso sobre a educação, que trata a educação como
uma espécie de ação pragmática no campo da capacitação para o
trabalho e para o aumento da produtividade. O programa/problema
de Eni Orlandi para a educação é outro: “a educação poderia, se
praticada como formadora do indivíduo na sua relação com o social e
o trabalho, dar condições para que este sujeito ‘soubesse’ do efeito de
sua intervenção nas formas sociais” (p. 141).
Em Os recursos do futuro, sobre o discurso da educação ambiental,
a autora consegue trazer à tona o confronto entre dois compromissos
teórico-político-sociais e ideológicos mediante a “simples” inversão de
um enunciado “O futuro dos recursos”, gesto de análise que desestabiliza
certa direção pragmática e explora sua equivocidade. Nos discursos sobre
o ambiente predomina uma racionalidade empresarial que toma a Terra
como objeto, esvaziando o social e o político como fatores estruturantes.
Quanto a estas armadilhas discursivas, Orlandi propõe enxergar o
recobrimento entre ciência, tecnologia e administração, que conduz ao
fato de que ao falarmos cientificamente dos recursos, do planeta, etc., já
estejamos comprometidos com o político. A autora enxerga o potencial
das novas tecnologias de linguagem, com seu modo de funcionamento, ao
lado de novas relações entre a ciência e os governos. A contribuição ímpar
dos estudos de linguagem seria justamente a de elaborar os equívocos
que operam na contradição entre o natural e o social, constituindo-se
enquanto um “instrumento” de conhecimento.
Em Educação em direitos humanos: um discurso, Eni Orlandi
opera uma quase genealogia do discurso sobre os direitos do homem,
buscando investigar as redes de memória que atuam na e disputam
a referenciação do tema, em especial na Declaração Universal dos
Direitos do Homem, de 1948. A autora discute o imbricamento entre
ética e interpretação – fazendo lembrar a escrita pós-colonialista
e intervencionista da marxista indiana Gayatri Spivak em Pode o
subalterno falar? – e as possibilidades da educação na abertura de
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
Resenha: ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso em análise: sujeito, sentido, ideologia 281
um espaço onde os sujeitos possam se significar politicamente, em
processos de resistência e ruptura dos sentidos (e dos sujeitos). É o caso
de se diferenciar direitos que são promulgados quando seus sentidos
já estão incorporados à memória popular, quando já são vivenciados
como fruto de conquistas históricas, caso da Revolução Francesa,
e direitos que soam (sobretudo aos que fomos colonizados) como
modelos importados, caso da Declaração Universal dos Direitos do
Homem. Nesse ponto, Eni Orlandi retoma a distinção por ela proposta
entre non sens/não-sentido, de um lado, e sem-sentido, de outro. Se
a “igualdade” é, para muitos, algo absolutamente sem-sentido, deve-
se a um esgotamento de sua significância em nossa formação social.
Mas a discursividade dos direitos humanos é algo que pode vir a fazer
outros sentidos para sujeitos segregados de todos os direitos, passando
do irrealizado na história, do non sens, aos sentidos possíveis de
experimentação. Parafraseando Marx, Orlandi diz que a consciência
não precede a experiência, mas, ao contrário, se constitui a partir dela,
e a partir dessa consideração desenha uma perspectiva para a Educação
em que os diferentes discursos possam ser ouvidos e investidos
na realidade histórica e social contemporânea, abrindo campo ao
irrealizado dos Direitos Humanos.
Em Oralidade e interpretação: o dito, o esquecido, o disperso, o indistinto,
Orlandi percorre os fundamentos da AD de modo notável. Como já fez
em seu livro Análise de Discurso: princípios de Procedimentos, a autora
sublinha o deslocamento operado pelos dispositivos de análise: mais
do que oferecer mais uma interpretação dos textos, a AD visa produzir
uma compreensão dos modos como os sentidos são aí produzidos. No
que tange ao discurso oral, foco do texto, a autora trata de desfazer a
identidade entre forma e funcionamento ao mostrar que um discurso
da escrita pode ser oralizado (como exemplo temos o telejornal) e um
discurso oral pode ser escrito (como ocorre no cinema). O fundamental
aí são duas relações com a história e com a necessidade de atestar
autoria: enquanto o discurso da escrita remete à inscrição no arquivo,
na memória institucional, o discurso oral funciona como inscrição
no interdiscurso, mexendo na filiação dos sentidos, trabalhando uma
memória local e produzindo uma nova ordem de discursividade, como
mostra Eni Orlandi a partir da análise do movimento dos sentidos nos
rastros do enunciado Em se plantando tudo dá.
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
282 Carolina Fernandes e Rodrigo Fonseca
Eni Orlandi explora, no texto Claude Lévi-Strauss, Michel Pêcheux
e o estruturalismo, os pontos comuns e díspares entre estruturalismo
e AD. A suspeita e a suspensão do registro do psicológico, das
interpretações e das representações foram centrais na contestação das
evidências do empirismo e do funcionalismo. Mas a pretensão de se
constituir enquanto um discurso sem sujeito, e a falta de corte entre
teoria e prática, que atua na reduplicação das interpretações prévias,
levaram a uma distância anunciada da AD desde 1969. A relação
analítica de compreensão dos funcionamentos discursivos implicava
em ultrapassagem do estudo positivista das funções, rumo ao terreno do
materialismo e à consideração da materialidade dos textos. Implicava
lidar com a não-linearidade dos sentidos em razão dos pontos de deriva
que oferecem lugar de interpretação e de inscrição da ideologia e da
historicidade dos/nos textos. Orlandi entende que esta é a questão mais
difícil de ser respondida pelas ciências humanas, o que nos dá o tom da
intervenção de Michel Pêcheux no fazer científico.
Em À flor da pele: indivíduo e sociedade, Orlandi discute a relação
entre o espírito de corpo e o corpo do indivíduo que expressa esse
pertencimento através de uma escrita e, mais profundamente, de
uma escritura de si, em que se tem o desejo da constituição de outra
forma-sujeito, resultando em outras formas de individua(liza)ção. No
entanto, se aí há resistências ao isolamento e ao déficit de laços sociais
(e de sentidos), a autora diz que este processo também comporta os
transbordamentos da publicidade para o próprio corpo dos sujeitos,
textualizada fora de seu lugar convencional, vindo a reproduzir sob
mais uma variável da tecnologia da escrita.
A diluição dos sentidos entre espaço público e privado é um dos
temas de A casa e a rua: uma relação política e social. Qual a relação
entre o espaço da cidade, sujeito à interpretação, e a sociedade? Eni
Orlandi sublinha que a relação casa/rua faz parte da ordem capitalista,
sendo regida pelo aparelho jurídico e administrada pelo Estado a partir
de um sistema de diferenças e hierarquizações que, no entanto, têm se
tornado mais que excludentes. Caberia falar agora em segregação, em
mecanismos de expulsão social. Vivemos uma forte redução do espaço
de sociabilidade, frente a nichos e corredores que se estendem pela
justificativa da (falta de) segurança. Problemas comuns a todos passam
cada vez mais a receber respostas individualizadas – e, acrescentamos,
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
Resenha: ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso em análise: sujeito, sentido, ideologia 283
problemas que são de poucos circulam como problemas de todos. O
abismo que se levanta ainda mais entre o condomínio e a favela faz
com que um muro adquira significados opostos, segurança/contenção,
proteção/repressão, o que se fecha de dentro e o que se fecha de fora,
cortando a cidade num gesto de profunda violência simbólica e afetando
a própria noção de social. Eni Orlandi critica ainda a ação assistencialista
das ONGs, derivada da mundialização e do neoliberalismo, tendo no
desengajamento do Estado o seu pano de fundo, configurando o quadro
de privatizações e comunitarismos.
No último capítulo do livro, Por uma teoria discursiva da resistência
do sujeito, Orlandi critica o voluntarismo e o automatismo mistificador
que tomam o lugar do trabalho, da práxis, e da necessidade histórica
da resistência. Também propõe pensarmos a materialidade histórica
junto ao estatuto do socialismo como forma de ressignificar a questão
da ideologia, longe de apriorismos. Condizente com a consideração
do caráter paradoxal dos objetos ideológicos por Pêcheux, a autora
diz que a relação entre reprodução/transformação não funciona como
duas cidadelas, mas enquanto confrontos móveis que representam
riscos de ruptura dos processos de dominação. A autora perpassa o
conceito de alienação em Marx, numa leitura surpreendentemente
lukacsiana e ontológica do ser social/subjetividade, antes de discutir o
tema da humilhação, que a interessa enquanto prática social, não como
sentimento ou atitude – a exemplo de Ansart e Haroche. Tal distinção
se pauta, sobretudo, nos descompassos entre as teorias da humilhação
e o objeto de análise da autora, o Falcão do tráfico, sujeito segregado,
posto para fora da sociedade. A humilhação nessas teorias incide sobre
o individualismo contemporâneo e suas determinações pelo mercado,
quase esquecendo o Estado – agora numa observação genuinamente
althusseriana. O universo de normas no espaço de segregação é
outro, de certo modo incompreensível para os que não estamos neste
espaço, cabendo também a reflexão de que a sociedade é o tempo todo
atravessada por movimentos na história, movimentos que, no entanto,
são barrados, deixando de significar politicamente, explodindo “em
sentidos que estão do outro lado da história, na base da produção da
delinquência, da marginalidade, do terrorismo, da ilegalidade etc.” (p.
225). Aí estaria a resistência, possibilidade de irrupção de sentido no
interior do sem-sentido, distante do modo como é pensada no interior
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
284 Carolina Fernandes e Rodrigo Fonseca
do discurso “oficial” capitalista, onde a resistência é guardada para
situações idealizadas, nas quais é tingida de heroísmo.
No conjunto de textos de Discurso em Análise, Eni Orlandi
apresenta percursos analíticos e considerações relevantes para se
pensar os discursos na contemporaneidade, o que se deve, em nosso
entendimento, à sua orientação consistentemente pecheutiana, que
a leva a não desvencilhar o seu fazer científico de seu fazer político.
Somos assim brindados com análises e reflexões que se mostram com
notável clareza, abrindo-se a retornos e prosseguimentos totais ou
parciais. É o caso de retomarmos uma afirmação sua: “falta inscrever-
se decisivamente em valores sociais e posições políticas explícitas e
significadas” (p. 147). Essa é uma falta da qual não podemos acusar
os textos de Discurso em análise, obra em que Eni Orlandi enfrenta a
impossibilidade de se compreender algo desde um ponto absoluto, sem
outro e sem real.
Recebido em: 08/11/2012. Aprovado em: 13/11/2011.
Organon, Porto Alegre, no 53, julho-dezembro, 2012, p. 275-284
Você também pode gostar
- Resumo A Revolução Burguesa No Brasil Florestan Fernandes - Capítulo 4 Da Segunda ParteDocumento7 páginasResumo A Revolução Burguesa No Brasil Florestan Fernandes - Capítulo 4 Da Segunda ParteLeyliSoutoAinda não há avaliações
- UFCD 8010 - Comércio Internacional - Enquadramento v.1Documento13 páginasUFCD 8010 - Comércio Internacional - Enquadramento v.1Luisa CamposAinda não há avaliações
- A Propósito Da Análise Automática Do Discurso Atualização e PerspectivasDocumento7 páginasA Propósito Da Análise Automática Do Discurso Atualização e PerspectivasEdimar SartoroAinda não há avaliações
- Leitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensNo EverandLeitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensAinda não há avaliações
- 2913-Texto Do Artigo-10983-1-10-20230214Documento12 páginas2913-Texto Do Artigo-10983-1-10-20230214Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Analise Do Discurso - Orlandi ResumoDocumento5 páginasAnalise Do Discurso - Orlandi ResumoandersondasilvaAinda não há avaliações
- ORLANDI Eni Puccinelli Analise Do Discurso - Princ PDFDocumento7 páginasORLANDI Eni Puccinelli Analise Do Discurso - Princ PDFAlice MourãoAinda não há avaliações
- Analise Do DiscursoDocumento8 páginasAnalise Do DiscursoLeonardo Santos PereiraAinda não há avaliações
- Analise Do Discurso OrlandiDocumento8 páginasAnalise Do Discurso OrlandiSabrina Ferreira NunesAinda não há avaliações
- A Materialidade Do Gesto de Interpretação e o Discurso EletrônicoDocumento18 páginasA Materialidade Do Gesto de Interpretação e o Discurso EletrônicoLinneker BelinniAinda não há avaliações
- ORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilDocumento18 páginasORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilEDisPALAinda não há avaliações
- Resenha Da Obra de Eni. P. Orlandi - Analise de DiscursoDocumento3 páginasResenha Da Obra de Eni. P. Orlandi - Analise de DiscursoSARAH VICENTE CABRAL DA SILVAAinda não há avaliações
- Artigo Orlandi DiscursoDocumento7 páginasArtigo Orlandi Discursocibele dal corsoAinda não há avaliações
- BEATRIZ BAGAGLI Discursos TransfeministasDocumento14 páginasBEATRIZ BAGAGLI Discursos TransfeministasMarina CardelliAinda não há avaliações
- Analise Do Discurso - Principios e Aspectos GeraisDocumento5 páginasAnalise Do Discurso - Principios e Aspectos GeraisElizabeth GuerraAinda não há avaliações
- Resenha - DanielDocumento4 páginasResenha - Danieldaniel.paulaAinda não há avaliações
- ComunitasDocumento13 páginasComunitasFabiana Oliveira RibeiroAinda não há avaliações
- Michel Pêcheux Ousar Se RevoltarDocumento11 páginasMichel Pêcheux Ousar Se RevoltarprinciperedAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Análise Do Discurso de OrlandiDocumento6 páginasResenha Do Livro Análise Do Discurso de OrlandiCintia SousaAinda não há avaliações
- Ideologia & InconscienteDocumento24 páginasIdeologia & InconscienteVaniele LuzAinda não há avaliações
- Glossário de Termos e Expressões Da Análise Do DiscursoDocumento9 páginasGlossário de Termos e Expressões Da Análise Do DiscursoAdventus Rfs100% (1)
- Fenomenologia Da Percepção e Linguagem ArtigoDocumento12 páginasFenomenologia Da Percepção e Linguagem ArtigoRicardo LeiteAinda não há avaliações
- Adesouza, Editor Da Revista, ANALISE DO DISCURSODocumento4 páginasAdesouza, Editor Da Revista, ANALISE DO DISCURSOThamyres izídioAinda não há avaliações
- Ojsadmin, ANÁLISE DO DISCURSO E ENUNCIAÇÃODocumento13 páginasOjsadmin, ANÁLISE DO DISCURSO E ENUNCIAÇÃOBruno SanromanAinda não há avaliações
- Língua, Discurso, Ideologia, Sujeito, SentidoDocumento5 páginasLíngua, Discurso, Ideologia, Sujeito, SentidoRafael Rangel WinchAinda não há avaliações
- ORLANDI - Paráfrase PolissemiaDocumento11 páginasORLANDI - Paráfrase Polissemiartoscanos2254Ainda não há avaliações
- ISHIMOTO, Adonai - Nas Estantes Das Bibliotecas, Gêneros e SilênciosDocumento16 páginasISHIMOTO, Adonai - Nas Estantes Das Bibliotecas, Gêneros e SilênciosÉden RodriguesAinda não há avaliações
- Analise de Livro 2Documento21 páginasAnalise de Livro 2deboraAinda não há avaliações
- A Constituição Da Sintaxe Da Corp (Oralidade)Documento18 páginasA Constituição Da Sintaxe Da Corp (Oralidade)pachacut4903Ainda não há avaliações
- Artigo - DO GIRO-LINGÜÍSTICO À HERMENÊUTICA. Narrativa Histórica.Documento11 páginasArtigo - DO GIRO-LINGÜÍSTICO À HERMENÊUTICA. Narrativa Histórica.Prof. Thiago BroniAinda não há avaliações
- Fichamento - ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: Princípios e Procedimentos. 8. Ed. Campinas: Pontes, 2009.Documento7 páginasFichamento - ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de Discurso: Princípios e Procedimentos. 8. Ed. Campinas: Pontes, 2009.AriellyAinda não há avaliações
- Análise Do DiscursoDocumento4 páginasAnálise Do DiscursoAline Virgínia SantosAinda não há avaliações
- Ilmara Coutinho Parte 2Documento118 páginasIlmara Coutinho Parte 2Jader CastroAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Sobre Análise de DiscursoDocumento4 páginasResenha Crítica Sobre Análise de DiscursoMaiara OliveiraAinda não há avaliações
- Discurso Midiático (Silva & Santos, 2017)Documento14 páginasDiscurso Midiático (Silva & Santos, 2017)lettycia.pradoAinda não há avaliações
- ARTIGO CORCUNDA Versão FinalDocumento26 páginasARTIGO CORCUNDA Versão FinalLuciana Cristina Ferreira Dias Di RaimoAinda não há avaliações
- Multiplicidade Da Analise Do DiscursoDocumento16 páginasMultiplicidade Da Analise Do DiscursoRoga ArtAinda não há avaliações
- Institucionalização Da LínguaDocumento6 páginasInstitucionalização Da LínguaWelliton BindandiAinda não há avaliações
- COSTA, T. A. Discurso Pedagógico Sobre A Língua e Ensino de Metalinguagem (Slide)Documento52 páginasCOSTA, T. A. Discurso Pedagógico Sobre A Língua e Ensino de Metalinguagem (Slide)Priscila AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Resenha Sírio PossentiDocumento3 páginasResenha Sírio PossentiGabriel BarrosAinda não há avaliações
- NAZISMO É DE ESQUERDA" - IMPLICAÇÕES DISCURSIVAS, SILENCIAMENTO E MEMÓRIA - Eixo 4Documento12 páginasNAZISMO É DE ESQUERDA" - IMPLICAÇÕES DISCURSIVAS, SILENCIAMENTO E MEMÓRIA - Eixo 4AngelaRezendeAinda não há avaliações
- A Análise Do Discurso de Linha Francesa e A Pesquisa Nas Ciências HumanasDocumento14 páginasA Análise Do Discurso de Linha Francesa e A Pesquisa Nas Ciências HumanasGeyssonAinda não há avaliações
- Artigo Heterogeneidade Do Texto LiterárioDocumento7 páginasArtigo Heterogeneidade Do Texto LiterárioDiones Ferreira SantosAinda não há avaliações
- Contribuicoes Teoricas Da Analise de Discurso de Eni Orlandi para A Compreensao Da Relacao Entre Linguagem e IdeologiaDocumento7 páginasContribuicoes Teoricas Da Analise de Discurso de Eni Orlandi para A Compreensao Da Relacao Entre Linguagem e IdeologiaGracia SouzaAinda não há avaliações
- SOUZA, Ana Caroline. Análise Do Discurso Aplicada em Charges e Cartuns PolíticosDocumento10 páginasSOUZA, Ana Caroline. Análise Do Discurso Aplicada em Charges e Cartuns PolíticosThiago Cardassi SanchesAinda não há avaliações
- Percusso Linguístico Conceitos, Críticas e Apontamentos P 107-115Documento16 páginasPercusso Linguístico Conceitos, Críticas e Apontamentos P 107-115gabriella_gmoAinda não há avaliações
- WittegensteinDocumento29 páginasWittegensteinjosephjrs42Ainda não há avaliações
- O Silêncio Multiplicidade de SentidosDocumento14 páginasO Silêncio Multiplicidade de SentidosmilionariaAinda não há avaliações
- Ideologia Cultura e DiscursoDocumento22 páginasIdeologia Cultura e DiscursoDionatan Cardoso100% (1)
- 2043-Texto Do Artigo-5776-1-10-20120706Documento16 páginas2043-Texto Do Artigo-5776-1-10-20120706Dalva Vilasboas SebaAinda não há avaliações
- 2 - Roteiro de Leitura II - Linguística I - Módulo IIA - Ricardo Adriano Dos Santos - 2023Documento2 páginas2 - Roteiro de Leitura II - Linguística I - Módulo IIA - Ricardo Adriano Dos Santos - 2023Ricardo ADRIANO DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Analise Do DiscursoDocumento7 páginasAnalise Do DiscursoAlice MartinsAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso - AULA - LIADocumento20 páginasAnálise Do Discurso - AULA - LIALia Silveira100% (1)
- Abordagem Teórica em Análise Do Discurso CríticaDocumento19 páginasAbordagem Teórica em Análise Do Discurso CríticaEvelinAinda não há avaliações
- Roteiro de Leitura II - Linguà - Stica I - Mà Dulo IIA - Terezinha - 2023Documento3 páginasRoteiro de Leitura II - Linguà - Stica I - Mà Dulo IIA - Terezinha - 2023Paulo DanielAinda não há avaliações
- ORLANDI - Discurso, Imaginário Social e Conhecimento (1994)Documento14 páginasORLANDI - Discurso, Imaginário Social e Conhecimento (1994)milton_mauadcAinda não há avaliações
- SILVA e ARAUJO A Metodologia de Pesquisa em Análise Do Discurso Grau Zero - Revista de Crítica Cultural, V. 5, N. 1, 2017Documento15 páginasSILVA e ARAUJO A Metodologia de Pesquisa em Análise Do Discurso Grau Zero - Revista de Crítica Cultural, V. 5, N. 1, 2017Mônica Gabriella SeccoAinda não há avaliações
- Linguística de Nosso Tempo: Teorias e PráticasNo EverandLinguística de Nosso Tempo: Teorias e PráticasAinda não há avaliações
- Imagens e Palavras: a semiótica dialética dos signosNo EverandImagens e Palavras: a semiótica dialética dos signosAinda não há avaliações
- Diégesis Como MímesisDocumento170 páginasDiégesis Como MímesissccalixAinda não há avaliações
- Construtivismo Russo e A Encomenda Social: Sergei M. EisensteinDocumento9 páginasConstrutivismo Russo e A Encomenda Social: Sergei M. EisensteinsccalixAinda não há avaliações
- Filosofia Da Rede - MUSSODocumento15 páginasFilosofia Da Rede - MUSSOsccalix100% (2)
- Construção Do Saber JornalísticoDocumento2 páginasConstrução Do Saber JornalísticosccalixAinda não há avaliações
- 4 EgelkeDocumento22 páginas4 EgelkemarcosclopesAinda não há avaliações
- Tese IdosoDocumento514 páginasTese IdosoGraziele Lopes Ribeiro100% (1)
- Amar e ServirDocumento9 páginasAmar e ServirHMO OficialAinda não há avaliações
- Aula 2.Documento66 páginasAula 2.Larissa MauricioAinda não há avaliações
- Resenha Crítica - Arlequim, Servidor de Dois Amos (Autoria Própria)Documento6 páginasResenha Crítica - Arlequim, Servidor de Dois Amos (Autoria Própria)Andrew TadeuAinda não há avaliações
- (Prova Dia 2) 5 Poliedro 2021Documento32 páginas(Prova Dia 2) 5 Poliedro 2021lucaomohamedAinda não há avaliações
- Fluxograma Da Tosse (Pediatrica)Documento31 páginasFluxograma Da Tosse (Pediatrica)hangitaAinda não há avaliações
- FIAT SerieN - B-N67 TM3ADocumento56 páginasFIAT SerieN - B-N67 TM3AIvo Silva100% (2)
- Aula 01 - Comando Simples Direto e IndiretoDocumento4 páginasAula 01 - Comando Simples Direto e IndiretoIsabela FornasiereAinda não há avaliações
- PB - PPGEE - M - Gazzoni, Jean Carlos - 2011Documento159 páginasPB - PPGEE - M - Gazzoni, Jean Carlos - 2011Edson LimaAinda não há avaliações
- NR141 PDFDocumento104 páginasNR141 PDFdouglaspvhAinda não há avaliações
- STJ - REsp 977007Documento17 páginasSTJ - REsp 977007patriciacarvAinda não há avaliações
- Roteiro Debate Sola Fide PrototipoDocumento11 páginasRoteiro Debate Sola Fide PrototipoantonioenzolegalAinda não há avaliações
- Calendario Academico 2023Documento12 páginasCalendario Academico 2023Eduardo Wenzel BriãoAinda não há avaliações
- Manual Estágio Curricular em Nutrição Clínica UECEDocumento16 páginasManual Estágio Curricular em Nutrição Clínica UECEmmmdeandradeAinda não há avaliações
- NUTRIÇAODocumento140 páginasNUTRIÇAORose Maciel100% (1)
- Colégio Estadual Coronel João Limongi 1anDocumento3 páginasColégio Estadual Coronel João Limongi 1anElen Nogueira de OliveiraAinda não há avaliações
- Rsync ManualDocumento9 páginasRsync ManualDilamar JrAinda não há avaliações
- Plano Bimestral 4 Ano Lingua PortuguesaDocumento10 páginasPlano Bimestral 4 Ano Lingua PortuguesaKellyane Lisboa RamosAinda não há avaliações
- Manual Uso Rastreador Positron Rt120Documento2 páginasManual Uso Rastreador Positron Rt120jhoaocb0% (2)
- 1.3.5 - Movimento Circular UniformeDocumento25 páginas1.3.5 - Movimento Circular UniformeMariana AssunçãoAinda não há avaliações
- Java RelatoriosDocumento29 páginasJava RelatoriosMarcel SantosAinda não há avaliações
- EsSA ColocacaoDocumento1 páginaEsSA ColocacaoMarcelo Silva De SouzaAinda não há avaliações
- Ementa Ale ImprimirDocumento11 páginasEmenta Ale ImprimirJociany Ferreira FlorentinoAinda não há avaliações
- 3 - O Avião Foi Inventado Por QuemDocumento3 páginas3 - O Avião Foi Inventado Por QuemErika MosqueraAinda não há avaliações
- Glauber Rocha PDFDocumento48 páginasGlauber Rocha PDFDUDDOBRAinda não há avaliações
- Grade de Correção Redação ENEMDocumento6 páginasGrade de Correção Redação ENEMJessé MianttiAinda não há avaliações
- Contrato de Prestação de ServiçosDocumento6 páginasContrato de Prestação de ServiçosWesllen OliveiraAinda não há avaliações
- 0-PEDRO - Raciocínio LógicoDocumento91 páginas0-PEDRO - Raciocínio LógicoTiago SantosAinda não há avaliações