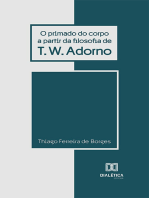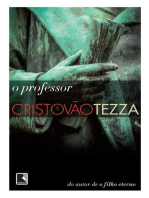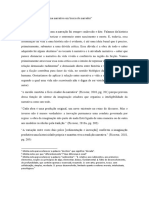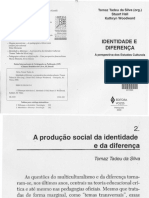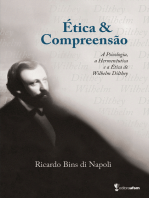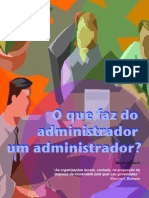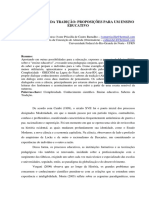Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ricoeur - Do Texto À Acção
Enviado por
Igor Alexandre0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
141 visualizações25 páginasSobre hermenêutica fenomenológica
Título original
ricoeur_Do texto à acção_
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoSobre hermenêutica fenomenológica
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
141 visualizações25 páginasRicoeur - Do Texto À Acção
Enviado por
Igor AlexandreSobre hermenêutica fenomenológica
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 25
Do texto à acção
Paul Ricoeur
A minha hipótese de base a este respeito é a
seguinte: o carácter comum da experiência
humana que é marcado, articulado, clarificado
pelo acto de narrar em todas as suas formas, é
o seu carácter temporal. Tudo o que se narra
acontece no tempo, desenvolve-se
temporalmente; e o que se desenvolve no
tempo pode ser contado.
A de pôr à prova a capacidade de selecção e de
organização da própria linguagem, quando esta
se estrutura em unidades de discurso mais
longas que a frase a que podemos chamar
textos.
O carácter inteligível da intriga: a intriga é o
conjunto das combinações pelas quais há
acontecimentos que são transformados em
história ou – correlativamente – uma história é
tirada de acontecimentos. A intriga é o
mediador entre o acontecimento e a história.
Entre viver e contar estabelece-se um
desfasamento por mais pequeno que seja. A
vida é vivida e a história é contada.
De uma forma ou de outra, todos os sistemas
de símbolos contribuem para configurar a
realidade. Mais particularmente, as intrigas que
inventamos ajudam-nos a configurar a nossa
experiência temporal confusa, informa e, no
limite, muda. «O que é o tempo? – perguntava
Agostinho. Se ninguém mo perguntar, eu sei;
se mo perguntarem, eu deixo de saber.» É na
capacidade da ficção para configurar esta
experiência temporal quase muda que reside a
função referencial da intriga.
Na Poética de Aristóteles: «é a fábula, diz ele,
que é a imitação da acção».
A fábula imita a acção na medida em que
constrói, apenas com os recursos da ficção, os
seus esquemas de inteligibilidade. O mundo da
ficção é um laboratório de formas no qual
ensaiamos configurações possíveis da acção
para experimentar a sua consistência e a sua
plausibilidade. Esta experimentação com os
paradigmas pertence àquilo a que atrás
chamámos a imaginação produtora. Nesta fase,
a referência como que fica suspensa: a acção
imitada é uma acção apenas imitada, quer
dizer, fingida, forjada. Ficção é fingere, e
fingere é fazer. O mundo da ficção, nesta fase
de suspense, é apenas o mundo do texto, uma
projecção do texto como mundo.
Mas suspense da referência não pode ser senão
um momento intermediário entre a pré-
compreensão do mundo da acção e a
transfiguração da realidade quotidiana operada
pela própria ficção. O mundo do texto, porque é
mundo, entra necessariamente em colisão com
o mundo real, para o «refazer», quer o
confirme quer o recuse.
Se o mundo do texto não tivesse uma ligação
assinalável com o mundo real, então a
linguagem não seria «perigosa»
O real passado é, no sentido próprio da
palavra, inverificável. Na medida em que ele já
não existe, só indirectamente ele é visado pelo
discurso da história.
Um dos primeiros resultados que a investigação
contemporânea no domínio da metáfora me
parece ter atingido é, de facto, o de ter
deslocado o lugar da análise da esfera da
palavra para a da frase. Segundo as definições
da retórica clássica, oriunda da Poética de
Aristóteles, a metáfora é a transferência do
nome usual de uma coisa para outra coisa em
virtude da sua semelhança. Para compreender
a operação geradora de uma tal extensão, é
preciso sair do quadro da palavra e elevar-se
ao plano da frase, e falar de enunciado
metafórico mais do que de metáfora-palavra.
A metáfora viva e a organização da intriga são
como duas janelas abertas sobre o enigma da
criatividade.
A semelhança consiste na aproximação criada
entre termos que, em princípio «afastados»,
aparecem subitamente «próximos». A
semelhança consiste, então, numa mudança de
distância, no espaço lógico. Ela não é outra
coisa senão esta emergência dum novo
parentesco genérico entre ideias heterogéneas.
É aqui que a imaginação produtora entra em
jogo como esquematização desta operação
sintética de aproximação. A imaginação é esta
competência, esta capacidade para produzir
novas espécies lógicas por assimilação
predicativa e produzi-las apesar da – e graças à
– diferença inicial entre o termos que resistem
à assimilação.
Que explicar mais é compreender melhor.
O acto de compreensão que corresponderia,
neste domínio, à competência para seguir uma
história, consiste em apreender o dinamismo
semântico em virtude do qual, num enunciado
metafórico, uma nova pertinência semântica
emerge das ruínas da impertinência semântica,
tal como ela aparece numa leitura literal da
frase. Compreender é, portanto, fazer ou
refazer a operação discursiva portadora da
inovação semântica.
A explicação, concebida como uma
combinatória de signos, logo, como uma
semiótica, edifica-se com base numa
compreensão de primeiro grau que assenta no
discurso como acto indivisível e capaz de
inovação.
A ficção narrativa… «imita» a acção humana
naquilo em que ela contribui para remodelar as
suas estruturas e as suas dimensões segundo a
configuração imaginária da intriga. A ficção tem
este poder de «refazer» a realidade e, mais
precisamente, no quadro da ficção narrativa, a
realidade práxica, na medida em que o texto
visa, intencionalmente, um horizonte de
realidade nova a que pudemos chamar um
mundo. É este mundo do texto que intervém no
mundo da acção para o configurar de novo ou,
se o podemos dizer, para o transfigurar.
Dir-se-ia que um movimento centrípeto da
linguagem para ela mesma se substitui ao
movimento centríguro da função referencial. A
linguagem celebra-se, ela própria, no jogo do
som e do sentido. O primeiro momento
constitutivo da referência poética é, pois, esta
suspensão da relação directa do discurso com o
real já constituído, já descrito com os recursos
da linguagem vulgar ou da linguagem científica.
A suspensão da função referencial… não é
senão o inverso ou a condição negativa de uma
função referencial mais dissimulada do discurso
que, de certa forma, é libertada pela suspensão
do valor descrito dos enunciados. É assim que o
discurso poético traz à linguagem aspectos,
qualidades, valores de realidade que não têm
acesso à linguagem directamente descritiva e
que só podem ser ditos graças ao jogo
complexo da enunciação metafórica e da
transgressão regrada das significações usuais
das nossas palavras.
A reflexão é esse acto de retorno a si pelo qual
um sujeito readquire, na certeza intelectual e
na responsabilidade moral, o princípio
unificador das operações entre as quais ele se
dispersa e se esquece como sujeito. «O “eu
penso”, diz kant, deve poder acompanhar todas
as minhas representações».
A intencionalidade, quer dizer, no seu sentido
menos técnico, o primado da consciência de
alguma coisa sobre a consciência de si. Mas
esta definição da intencionalidade é ainda
trivial. No seu sentido rigoroso, a
intencionalidade significa qe o acto de visar
alguma coisa não se atinge, ele próprio, senão
através da sua unidade identificável e re-
identificável do sentido visado – a que Husserl
chama o «noema» ou correlato intencional da
mira «noética». Além disso, sobre este noema
deposita-se em camadas sobrepostas o
resultado das actividades sintéticas a que
Husserl chama «constituição» (constituição da
coisa, constituição do espaço, constituição do
tempo, etc.). Ora, o trabalho concreto da
fenomenologia – em particular, nos estudos
consagrados à constituição da «coisa» - revela,
por via regressiva, camadas sempre
fundamentais em que as sínteses activas
remetem sem cessar para sínteses passivas
sempre mais radicais.
É, em princípio, porque estamos no mundo e
lhe pertencemos por uma pertença participativa
irrecusável que podemos, num segundo
momento, opor a nós mesmos objectos que
pretendemos constituir e dominar
intelectualmente. O Verstehen, para Heidegger,
tem uma significação ontológica. É a resposta
de um ser lançado no mundo, que nele se
orienta, projectando os seus possíveis mais
próximos. A interpretação, no sentido técnico
da interpretação dos textos, não é mais do que
o desenvolvimento, a explicação deste
compreender ontológico, sempre solidário de
um ser antecipadamente lançado.
Nós estamos no mundo antes de ser sujeitos
que opõem a si mesmos objectos para os julgar
e os submeter no seu domínio intelectual e
técnico.
Não há compreensão de si que não seja
mediatizada por signos, símbolos e textos; a
compreensão de si coincide, em última análise,
com a interpretação aplicada a estes termos
mediadores.
A fala é entendida antes de ser pronunciada, o
caminho mais curto de si para si é a fala do
outro que me faz percorrer o espaço aberto dos
signos.
A hermenêutica visa desmitificar o simbolismo,
desmascarando as forças inconfessadas que
nele se dissimulam; no outro, a hermenêutica
visa uma síntese do sentido mais rico, mais
elevado, mais espiritual.
Compreender-se é compreender-se em face do
texto e receber dele as condições de um si
diferente do eu que brota do texto. Nenhuma
das duas subjectividades, nem a do autor nem
a do leitor, é, pois, primeira no sentido de uma
presença originária de si para si mesmo.
Uma vez liberta do primeiro da subjectividade,
qual poderá ser a primeira tarefa da
hermenêutica? Na minha opinião, é procurar,
no próprio texto, por um lado, a dinâmica
interna que preside à estruturação da obra, por
outro lado, o poder de a obra se projectar para
fora de si mesma e engendrar um mundo que
seria, verdadeiramente, a «coisa» do texto.
Dinâmica interna e projecção externa
constituem aquilo a que eu chamo o trabalho
do texto. A tarefa da hermenêutica é a de
reconstruir este duplo trabalho do texto.
O papel da hermenêutica é duplo: reconstruir a
dinâmica interna do texto e restituir a
capacidade de a obra se projectar para fora na
representação de um mundo que eu poderia
habitar.
Trazer à linguagem uma experiência, uma
maneira de habitar e de ser-no-mundo que a
precede e pede para ser dita.
Ver qualquer coisa como, é tomar manifesto o
ser-como da coisa.
A expressão «ser-no-mundo» exprime melhor o
primado da preocupação sobre o olhar e o
carácter de horizonte daquilo a que estamos
ligados. É efectivamente o ser-no-mundo que
precede a reflexão.
Se dar a si mesmo.
«Eu sou-o», e, sem dúvida, mais ruidosamente,
quando ele «não é» este sendo.
O conhecimento de si pode ser presuntivo por
outras razões. Na medida em que o
conhecimento de si é um diálogo da alma
consigo mesma e em que o diálogo pode ser
sistematicamente distorcido pela violência e por
todas as intromissões de estruturas da
dominação nas da comunicação, o
conhecimento de si, enquanto comunicação
interiorizada, pode ser tão duvidoso como o
conhecimento do objecto, embora por razões
diferentes e específicas.
O ego pode de deve ser reduzido à «esfera de
pertença» - num sentido diferente, bem
entendido, da palavra «pertença» que já não
significa pertença ao mundo, mas pertença a si
mesmo.
Interpretar é tornar próximo o longínquo
(temporal, geográfico, cultural, espiritual). A
mediação pelo texto é, nesta perspectiva, o
modelo de uma distanciação que não seria
apenas alienante, como a Verfremdung
(distanciação alienante) que Gadamer combate
em toda a sua obra, mas que seria
autenticamente criadora. O texto é, por
excelência, o suporte de uma comunicação na e
pela distância.
A distanciação é um momento de pertença, a
crítica das ideologias pode ser incorporada,
como um segmento objectivo e explicativo, no
projecto de alargar e restaurar a comunicação e
a compreensão de si. A extensão da
compreensão pela exegese dos textos e sua
constante rectificação pela crítica das ideologias
pertencem, por direito, ao processo do
Auslegung. Exegese dos textos e crítica das
ideologias são as duas vias privilegiadas, nas
quais a compreensão se desenvolve em
interpretação e se torna, assim, ela mesma.
Uma maneira radical de pôr em questão o
primado da subjectividade e tomar como eixo
hermenêutico a teoria do texto. Na medida em
que o sentido de um texto se tornou autónomo
em relação à intenção subjectiva do seu autor,
a questão essencial não é encontrar, subjacente
ao texto, a intenção perdida, mas expor, face
ao texto, o «mundo» que ele abre e descobre.
Por outras palavras, a tarefa hermenêutica
consiste em discernir a «coisa» do texto
(Gadamer) e não a psicologia do autor.
Não podemos ficar pela estrutura imanente,
pelo sistema interno de dependências
provenientes do entrecruzamento dos
«códigos» que o texto põe em acção;
queremos, além disso, explicitar o mundo que o
texto projecta.
O mundo é manifestado já não como conjunto
de objectos manipuláveis, mas como horizonte
da nossa vida e do nosso projecto, numa
palavra, como Lebenswelt, como ser-no-
mundo. É esta dimensão referencial que só
atinge o seu pleno desenvolvimento com as
obras de ficção e de poesia, que põe o
problema hermenêutico fundamental. A
questão já não é definir a hermenêutica como
uma investigação das intenções psicológicas
escondidas no texto, mas como a explicitação
do ser-no-mundo revelado pelo texto. O que
deve interpretar-se num texto é uma proposta
de mundo, o projecto de um mundo que eu
poderia habitar e em que poderia projectar os
meus possíveis mais próprios. Retomando o
princípio de distanciação atrás evocado, poder-
se-ia dizer que o texto de ficção ou poético não
se limita e pôr o sentido do texto à distância do
mundo articulado pela linguagem quotidiana. A
realidade é, assim, metamorfoseada por meio
daquilo a que chamarei «variações
imaginativas» que a literatura opera sobre o
real.
A fenomenologia, apesar de ter a sua origem da
descoberta do carácter universal da
intencionalidade, não seguiu o conselho da sua
própria descoberta, a saber, que a consciência
tem o seu sentido fora de si mesma. A teoria
idealista da constituição do sentido em a
consciência chegou, assim, à hipóstase da
subjectividade. O resgate desta hipóstase são
as dificuldades acima evocadas pelo
«paralelismo» entre fenomenologia e
psicologia. Estas dificuldades atestam que a
fenomenologia e psicologia. Estas dificuldades
atestam que a fenomemologia corre sempre o
perigo de se reduzir a um subjectivismo
transcendental. O modo radical de pôr um
termo a esta confusão que renasce sempre, é
deslocar o eixo da interpretação da questão da
subjectividade para a do mundo. É o que a
teoria do texto impõe que se faça, ao
subordinar a questão da intenção do autor à da
coisa do texto.
Se é verdade que a hermenêutica se completa
na compreensão de si, é preciso rectificar o
subjectivismo desta proposição, dizendo que
compreender-se é compreender-se em face de
o texto. A partir daí, o que é apropriação de um
ponto de vista é desapropriação de um outro
ponto de vista. Apropriar é fazer com que o
estranho se torne próprio. O que é apropriado
é, na verdade, a coisa do texto. Mas a coisa do
texto só se torna o meu próprio se eu me
desapropriar de mim mesmo, para deixar ser a
coisa do texto. Então eu troco o eu, dono de si
mesmo, pelo si, discípulo do texto.
Podemos ainda exprimir este processo nos
termos da distanciação e falar de uma
distanciação põe em acção todas as estratégias
da suspeita da qual a crítica das ideologias, já
invocada, é uma das principais modalidades. A
distanciação, sob todas as suas formas e em
todos os seus aspectos, constitui, por
excelência, o momento crítico da compreensão.
(continua...)
(continuação)
O mais fundamental pressuposto
fenomenológico de uma filosofia da
interpretação é que toda a questão que diz
respeito a um sendo qualquer é uma
questão sobre o sentido deste «sendo».
Assim, desde as primeiras páginas de Sein
und Zeit, lemos que a questão esquecida é
a questão do sentido do ser. É nisso que a
questão ontológica é uma questão
fenomenológica. Ela é uma questão
hermenêutica apenas na medida em que
este sentido está dissimulado, não
certamente em si mesmo, mas por tudo
aquilo que impede o acesso a ele. Mas,
para se tornar questão hermenêutica –
questão sobre o sentido dissimulado -, é
preciso que a questão central da
fenomenologia seja reconhecida como
questão sobre o sentido. E aí está
pressuposta a escolha da atitude
fenomenológica contra a atitude
naturalista-objectivista. A escolha pelo
sentido é, pois, o pressuposto mais geral
de toda a hermenêutica.
A experiência pode ser dita, ela pede para
ser dita. Trazê-la à linguagem não é
transformá-la noutra coisa, mas, ao
articulá-la e desenvolvê-la, fazê-la tornar-
se ela própria.
A tese da intencionalidade revela
explicitamente que, se todo o sentido é
para uma consciência, nenhuma
consciência é consciência de si antes de
ser consciência de alguma coisa para a
qual ela se projecta, ou, como dizia
Sartre… de alguma coisa para a qual ela se
«expande».
A fenomenologia começa quando, não
contentes de «viver» - ou de «reviver» -,
nós interrompemos o vivido para o
significar. É neste aspecto que epoché e
mira de sentido estão estreitamente
ligadas.
O signo linguístico, de facto, só pode valer
para alguma coisa se ele não for a coisa.
A hermenêutica começa, também ela,
quando nós, não contentes de pertencer à
tradição transmitida, interrompemos a
relação de pertença para a significar.
A fenomenologia deve dar conta da
originalidade da experiência doutrem
precisamente enquanto experiência de um
outro diferente de mim… constituir o outro
em mim, constituí-lo com outro… a
exigência descritiva torna-se um conflito
aberto, a partir do momento em que o
outro já não é uma coisa, mas um outro
eu, um outro diferente de mim.
A fenomenologia é uma meditação
indefinidamente prosseguida, porque a
reflexão é ultrapassada pelas significações
potenciais do seu próprio vivido.
Husserl sustenta que a fenomenologia não
«cria» nada, mas «encontra»; é o lado
hiperempírico da fenomenologia; a
explicitação é uma explicitação da
experiência: «A experiência
fenomenológica não faz mais do que – e
nunca será de mais salientá-lo – explicitar
o sentido que o mundo tem para nós,
antes de toda a filosofia, e que,
manifestamente, a nossa experiência lhe
confere; este sentido pode muito bem ser
destacado pela filosofia, mas nunca pode
ser modificado por ela.
A explicitação à clarificação dos horizontes,
a fenomenologia pretende ultrapassar a
descrição estática que faria dela uma
simples geografia das camadas de sentido,
uma estratigrafia descritiva da
experiência; as operações de
transferência, que nós descrevemos, do eu
para o outro, depois, para a natureza
objectiva, finalmente, para a história,
realizam uma constituição progressiva,
uma composição gradual, no limite, uma
«génese universal» daquilo que vivemos,
ingenuamente, como «mundo da vida».
O que me é próprio revela-se, ele também,
pela explicitação, e é na e pela acção desta
que ele recebe o seu sentido original. O
próprio só se revela ao «olhar da
experiência explicitante». Não se poderia
dizer melhor: é na mesma interpretação
que se constituem, polarmente, o próprio e
o estranho.
Toda a fenomenologia é uma explicitação
na evidência e uma evidência da
explicitação. Uma evidência que se
explicita, uma explicitação que desenvolve
uma evidência, tal é a experiência
fenomenológica.
O espírito é o inconsciente criador no
trabalho de individualidades geniais.
Ao mesmo tempo, o programa
hermenêutica de um Schleiermacher trazia
a dupla marca romântica e crítica:
romântica, pelo seu apelo a uma relação
viva com o processo de criação; crítica,
pela sua vontade de elaborar regras da
compreensão universalmente válidas.
Considerar a língua comum é esquecer o
escritor; compreender um autor singular é
esquecer a sua língua que apenas foi
atravessada. Ou bem que se percebe o
comum, ou bem que se percebe o próprio.
Para Dilthey, a objectivação começa
extremamente cedo, desde a interpretação
de si mesmo. O que eu sou para mim
mesmo só pode ser atingido através das
objectivações da minha própria vida; o
conhecimento de si mesmo é já uma
interpretação que não é mais fácil que a
dos outros e, provavelmente, até mais
difícil, porque eu só me compreendo a mim
mesmo pelos sinais que eu dou da minha
própria vida e que me são remetidos pelos
outros. Todo o conhecimento de si é
mediato, através de signos e obras.
Dilthey partilha a convicção de que a vida
é essencialmente um dinamismo criador;
mas, contra a filosofia da vida, sustenta
que o dinamismo criador não se conhece a
si mesmo e não se pode interpretar senão
pelos meandros dos signos e das obras… a
vida que aparece como um dinamismo que
se estrutura a si mesmo.
O homem instrui-se só pelos actos, pela
exteriorização da sua vida e pelos efeitos
que ela produz nos outros. Ele só aprende
a conhecer-se pelos meandros da
compreensão que é, desde sempre, uma
interpretação.
A obra de Dilthey… traz à luz a aporia
central de uma hermenêutica que coloca a
compreensão do texto sob a lei da
compreensão de um outrem que aí se
exprime. Se o empreendimento permanece
psicológico na sua essência, é porque ele
considera como última mira da
interpretação, não o que diz o texto, mas
aquele que nele se exprime.
O conflito reside… entre uma filosofia da
vida, com o seu irracionalismo profundo e
uma filosofia do sentido, que tem as
mesmas pretensões que a filosofia
hegeliana do espírito objectivo… a vida
comporta em si mesma o poder de se
ultrapassar em significações… «a vida faz a
sua própria exegese: ela própria tem uma
estrutura hermenêutica».
É possível dizer da vida o que Hegel diz do
espírito: a vida apreende aqui a vida.
A vida só apreende a vida pela mediação
das unidades de sentido que se elevam
acima do fluxo histórico.
Será necessário renunciar à ligação do
destino da hermenêutica com a noção
puramente psicológica de transferência
para uma visa psíquica estranha e
desenvolver o texto, já não na direcção do
seu autor, mas na direcção do seu sentido
imanente e na direcção da espécie de
mundo que ele abre e descobre.
(continua...)
(continuação)
Surge uma nova questão; em vez de
perguntar: como sabemos? Perguntar-se-
á: qual é o modo de ser deste ser que só
existe compreendendo?
Dasein, esse ser que nós somos… este
Dasein não é um sujeito para quem há um
objecto, mas um ser no ser. Dasein
designa o lugar onde surge a questão do
ser, o lugar da manifestação; a
centralidade do Dasein é apenas a de um
ser que compreende o ser. Pertence à sua
estrutura como ser ter uma pré-
compreensão ontológica do ser.
Em Dilthey, a questão da compreensão
estava ligada ao problema de outrem; a
possibilidade de ascender, por
transferência, a um psiquismo estranho
dominava todas as ciências do espírito, da
psicologia à história. Ora, é, de facto,
notável que, no Sein und Zeit, a questão
da compreensão esteja inteiramente
desligada do problema da comunicação
com outrem.
Os fundamentos do problema ontológico
devem ser procurados na relação do ser
com o mundo e não na relação com um
outrem; é na relação com a minha
situação, na compreensão fundamental da
minha posição no ser, que está implicada,
a título principal, a compreensão.
O conhecimento das coisas desemboca
numa desconhecida, a própria coisa, dizia
ele (Dilthey); pelo contrário, no caso do
psiquismo, não há coisa em si: o que o
outro é, nós próprios o somos.
Heidegger… ele sabe que o outro, tanto
como eu próprio, em é mais desconhecido
do que qualquer outro fenómeno da
natureza… Se existe uma região do ser,
onde reina a inautenticidade, é
exactamente na relação de cada um com
todo o outrem possível… Não admira,
portanto, que não seja por uma reflexão
sobre o ser-com, mas sobre o ser-em, que
a ontologia da compreensão pode
começar. Não ser-com ou outro que
duplicaria a minha subjectividade, mas
ser-no-mundo… A questão mundo ocupa o
lugar da questão outrem… O que é
necessário, precisamente, reconquistar,
nesta pretensão do sujeito, é a condição
de habitante deste mundo, a partir da qual
há situação, compreensão, interpretação.
De início, é preciso encontrar-se (bem ou
mal), encontrar-se aí e sentir-se (de certa
forma), antes mesmo de se orientar; se
Sein und Zeit explora certos sentimentos
em profundidade, como o medo e a
angústia, não é para fazer existencialismo,
mas para destacar, graças a estas
experiências reveladoras, uma ligação ao
real, mais fundamental que a relação
sujeito-objecto; pelo conhecimento, nós
colocamos os objectos na nossa frente; o
sentimento da situação precede este
frente-a-frente, impondo-nos a um mundo.
A primeira função do compreender é
orientar-nos numa situação. O
compreender possibilidade de ser…
compreender m texto, diremos nós, não é
encontrar um sentido inerte que nele
estivesse contido, é revelar a possibilidade
de ser indicada pelo texto; continuaremos,
assim, fiéis ao compreender heideggeriano
que é essencialmente um projectar ou, de
forma mais dialéctica e mais paradoxal,
um projectar num preliminar ser-lançado.
O que importa, não é o momento
existencial da responsabilidade ou da livre-
escolha, mas a estrutura de ser a partir da
qual há um problema de escolha.
O sujeito transporta-se a si mesmo no
conhecimento do objecto e, de retorno, ele
é determinado, na sua disposição mais
subjectiva, pelo domínio que o objecto tem
sobre o sujeito, antes mesmo que este
empreenda o seu conhecimento;
enunciado na terminologia do sujeito e do
objecto, o círculo hermenêutico não pode
deixar de aparecer com um círculo vicioso.
Quem tiver compreendido isto saberá,
doravante, que «o elemento decisivo não é
sair do círculo, mas penetrar nele
correctamente.
Mas a filiação do enunciado, a partir da
compreensão e da explicitação, prepara-
nos para dizer que a sua função primeira
não é a comunicação a outrem, nem
mesmo a atribuição de predicados a
sujeitos lógicos, mas o fazer-valer, a
mostra (mostration), a manifestação.
«O discurso é articulação daquilo que é
compreensão». Por isso, é necessário
recolocar o discurso nas estruturas do ser,
e não estas no discurso: «O discurso é
articulação «significante» da estrutura
compreensível do ser-no-mundo»
Mas, desde o Sein und Zeit, o dizer
(reden) parece superior ao falar
(sprechen). O dizer designa a constituição
existencial, e o falar, o seu aspecto
mundano que cai na empiria. É por isso
que a primeira determinação no dizer não
é o falar, mas o par ouvir – calar-se.
Compreender é ouvir. Por outras palavras,
a minha primeira relação com a fala não
quer dizer que eu a produza, mas que a
receba; «O ouvir é constitutivo do
discurso». Esta prioridade da escuta marca
a relação fundamental da fala com a
abertura ao mundo e ao outrem.
Eu pertenço à história antes de me
pertencer.
… a coisa do texto que já não pertence
nem ao seu autor nem ao seu leitor… a
coisa do texto, conduz-me ao limiar da
minha própria reflexão.
O estilo, já o dissemos, surge
temporalmente como um individuo único e,
a este título, diz respeito ao mesmo
irracional do partido tomado, mas sua
inscrição no material da linguagem dá-lhe
a aparência de uma ideia sensível, de um
universo concreto, como diz W.K. Wimsatt
em The Verbal Icon. Um sentido é a
promoção de um partido tomado, legível
numa obra que, pela sua singularidade,
ilustra e exalta o carácter acontencível do
discurso; mas este acontecimento não se
pode procurar fora da própria forma de
obra. Mas, se o indivíduo é inapreensível
teoricamente, ele pode ser reconhecido
como a singularidade de um processo, de
uma construção, em resposta a uma
situação determinada.
O estilo é um trabalho que individua, quer
dizer, que produz o individual, designa,
igual a retroactivamente, o seu autor.
Assim, a palavra «autor» pertence à
estilística. Autor diz mais que locutor; é o
artesão da linguagem.
Acima de tudo, a escrita torna o texto
autónomo em relação à intenção do autor.
O que o texto significa já não coincide com
aquilo que o autor quis dizer. Significação
verbal, quer dizer, textual, e significação
mental, quer dizer, psicológica, têm,
doravante, destinos diferentes.
Nesta autonomia do texto está, em
compensação, já contida a possibilidade de
que aquilo a que Gadamer chama a
«coisa» do texto seja subtraída ao
horizonte intencional acabado do seu
autor; por outras palavras, graças à escrita
o «mundo» do texto pode desagregar o
mundo do autor.
O texto deve poder, tanto do ponto de
vista sociológico como psicológico,
descontextualizar-se de maneira a deixar-
se recontextualizar numa situação nova: é
o que faz, precisamente, o acto de ler.
Dilthey… fundava o seu conceito de
interpretação no de «compreensão», quer
dizer, a na apreensão de uma vida
estranha que se exprimia através das
objectivações da escrita.
Denotação do discurso: em toda a
proposição podemos distinguir, com Frege,
o seu sentido e sua referência. O seu
sentido é o objecto ideal que ela visa: este
sentido é puramente imanente ao discurso.
A sua referência e o seu valor de verdade,
a sua pretensão a atingir a realidade. Por
esta característica, o discurso opõe-se à
língua que não tem relação com a
realidade, remetendo as palavras para
outras palavras ne roda sem fim do
dicionário; apenas o discurso, dizíamos
nós, visa as coisas, se aplica à realidade,
exprime o mundo.
O papel da maior parte da nossa literatura,
parece, é destruir o mundo. Isso é verdade
para a literatura de ficção – conto, novela,
romance, teatro, mas também para toda a
literatura que podemos dizer poética, em
que a linguagem parece glorificada para si
mesma, à custa da função referencial do
discurso vulgar.
Se já não podemos definir a hermenêutica
pela investigação de um outrem e das suas
intenções psicológicas que se dissimulam
atrás do texto e se não queremos reduzir a
interpretação à desmontagem das
estruturas, que fica para interpretar?
Responderei: interpretar é explicitar o
modo de ser-no-mundo exposto diante do
texto.
Recorde-se que, no Sein und Zeit, a teoria
da «compreensão» já não está ligada à
compreensão de outrem, mas torna-se
uma estrutura do ser-no-mundo; mais
precisamente. É uma estrutura cujo exame
vem depois do da Befindlichkeit; o
momento do «compreender» responde,
dialecticamente, ao ser em situação como
sendo a projecções dos possíveis mais
próprios no próprio âmago das situações
em que no encontramos.
O que se deve, de facto, interpretar num
texto é uma proposta de mundo, de um
mundo tal que eu possa habitar e nele
projectar um dos meus possíveis mais
próprios. É aquilo a que eu chamo o
mundo do texto, o mundo próprio a este
texto único.
É a distanciação que a ficção introduz na
nossa apreensão da realidade. Já dissemos
que uma narração, um conto, um poema
não existem sem referente. Mas este
referente está em ruptura com o da
linguagem quotidiana; pela ficção, pela
poesia, abrem-se novas possibilidades de
ser-no-mundo, na realidade quotidiana;
ficção e poesia visam o ser, já não sob a
modalidade do ser-dado, mas sob a
modalidade do poder-ser. Por isso mesmo,
a realidade quotidiana é metamorfoseada
graças ao que poderíamos chamar as
variações imaginativas que a literatura
opera no real.
(continua...)
(continuação)
A apropriação está dialecticamente ligada
à distância característica da escrita… A
apropriação é exactamente o contrário da
contemporaneidade e da congenialidade;
ela é compreensão pela distância,
compreensão à distância.
A apropriação te, sobretudo, como frente a
frente, aquilo a que Gadamer chama a
«coisa do texto» e que eu chamo, aqui, «o
munda da obra». Aquilo de que eu,
finalmente, em aproprio, é uma proposta
do mundo; esta não está atrás do texto,
como estaria uma intenção encoberta, mas
diante dele como aquilo que a obra
desenvolve, descobre, revela. A partir daí,
compreender é compreender-se diante do
texto. Não impor ao texto a sua própria
capacidade finita de compreender, mas
expor-se ao texto e receber dele um si
mais vasto que seria a proposta da
existência, respondendo da maneira mais
apropriada à proposta do mundo. A
compreensão é, então, exactamente o
contrário de uma constituição de que o
sujeito teria a chave. Seria, nesta
perspectiva, mais justo dizer que o si é
constituído pela «coisa» do texto.
Do mesmo modo que o mundo do texto só
é real na medida em que é fictício, é
necessário dizer que a subjectividade do
leitor só se produz a si mesma na medida
em que é posta em suspenso, irrealizada,
potencializada, do mesmo modo que o
próprio mundo que o texto desenvolve.
Leitor, eu só me encontro quando em
perco. A leitura introduz-se nas variações
imaginativas do ego. A metamorfose do
mundo, segundo o jogo, é também a
metamorfose lúdica do ego.
O texto é um discurso fixado pela escrita.
Não basta dizer que a leitura é um diálogo
com o autor através da sua obra; é preciso
dizer que a relação do leitor com o livro é
de uma natureza completamente
diferente; o diálogo é uma troca de
perguntas e de respostas; não há troca
desta espécie entre o escritor e o leitor, o
escritor não responde ao leitor; o livro
separa até em duas vertentes o acto de
escrever e o acto de ler, que não
comunicam; o leitor está ausente da
escrita; o escritor está ausente da leitura.
O texto produz, assim, uma dupla
ocultação do leitor e do escritor; é deste
modo que ele toma o lugar da relação de
diálogo que liga, imediatamente, a voz de
um ao ouvido do outro.
Ás vezes, gosto de dizer que ler um livro é
considerar o seu autor como já morto e o
livro como póstumo. De facto, é quando o
autor está morto que a relação com o livro
se torna completa e, de certo modo,
intacta; o autor já não pode responder,
resta apenas ler a sua obra.
A escrita começou por transcrever
graficamente os signos da fala. Esta
libertação da escrita que a coloca no lugar
da fala é o acto de nascimento do texto.
A tarefa da leitura, enquanto
interpretação, será precisamente a de
efectuar a referência. Pelo menos, nesta
expectativa em que a referência é diferida,
o texto está, de certa forma, «no ar», fora
do mundo ou sem mundo; graças a esta
obliteração da relação com o mundo, cada
texto é livre de entrar em relação com
todos os outros textos que venham tomar
o lugar da realidade circunstancial indicada
pela fala viva.
Esta relação de texto a texto, no
esbatimento do mundo de que se fala,
gera o quasi-mundo dos textos ou
literatura.
Falamos do mundo grego, do mundo
bizantino. Este mundo podemos dizê-lo
imaginário, no sentido de que ele é
presentificado pelo escrito, no próprio
lugar em que o mundo era apresentado
pela fala; mas este imaginário é, ele
próprio, uma criação da literatura, é uma
imaginário literário.
O texto é exactamente o lugar onde o
autor sobrevive.
«O fim último da hermenêutica é
compreender o autor melhor do que ele se
compreendeu a si mesmo… a função da
hermenêutica consiste em estabelecer
teoricamente a validade universal da
interpretação, base de toda a certeza
histórica, contra a intromissão constante
do arbítrio romântico e da subjectividade
céptica no domínio da história.»
A compreensão pretende coincidir com o
interior do autor, igualar-se a ele,
reproduzir o processo criador que originou
a obra.
Para Husserl, o «sentido» de um enunciado
constitui uma idealidade, que não existe
nem na realidade mundana, nem na
realidade psíquica: é uma pura unidade de
sentido sem localização real.
Duas relações contraditórias entre si são
idênticas, na medida em que cada uma é,
como a outra, contraditória consigo.
Se a leitura é possível, é exactamente
porque o texto não está fechado em si
mesmo, mas aberto a outra coisa; ler é,
em qualquer hipótese, encadear um
discurso novo no discurso do texto. Este
encadeamento de um discurso num
discurso denuncia, na própria constituição
do texto, uma capacidade original de ser
retomado, que é o seu carácter aberto. A
interpretação é a conclusão concreta deste
encadeamento e deste retomar.
Em termos mais verdadeiramente
hermenêuticos, como uma luta contra o
afastamento relativamente ao próprio
sentido, quer dizer, relativamente ao
sistema de valores sobre o qual se
estabelece o texto; nesse sentido, a
interpretação «aproxima», «igualiza»,
torna «contemporâneo e semelhante», o
que significa, na verdade, tornar próprio o
que, em princípio, era estranho.
Interpretar é tomar o caminho de
pensamento aberto pelo texto, pôr-se em
marcha para o oriente do texto. Somos
convidados por esta observação a corrigir
o nosso conceito inicial de interpretação e
a procurar, para cá da operação objectiva
da interpretação que seria o acto do texto.
A série dos interpretantes que se enxerta
na relação de um signo com um objecto,
traz à luz do dia uma relação triangular
objecto-signo-interpretante, que pode
servir de modelo a um outro triângulo que
se constitui ao nível do texto; o objecto é o
próprio texto; o signo é a semântica
profunda destacada pela análise
estrutural; e a série dos interpretantes é a
cadeia das interpretações produzidas pela
comunidade interpretante e incorporadas
da dinâmica do texto, como o trabalho do
sentido sobre si mesmo. Nesta cadeia, os
primeiros interpretantes servem de
tradição para os últimos interpretantes que
são a interpretação propriamente dita.
A teoria da hermenêutica consiste em
mediatizar esta interpretação-apropriação
pela série dos interpretantes que
pertencem ao trabalho do texto sobre si
mesmo.
O dizer do hermeneuta é um re-dizer, que
reactiva o dizer do texto.
Se a filosofia tem que sobreviver, não é
suscitando cismas metodológicos. A sua
sorte está ligada à sua capacidade de
subordinar a própria ideia do método a
uma concepção mais fundamental da
nossa relação de verdade com as coisas e
com os seres.
Poesia… uma imitação criadora dos
homens que agem.
Reconhecer e distinguir os jogos de
linguagem é, pois, a tarefa de clarificação,
a tarefa essencialmente terapêutica da
filosofia.
Agir é fazer sempre alguma coisa de modo
a que aconteça qualquer outra coisa no
mundo.
A poesia, mostra os homens como agindo,
como em acto, A transferência do texto
para a acção deixa completamente de
aparecer como uma analogia arriscada, na
medida em que se pode mostrar que, pelo
menos, uma região do discurso pertence
ao sujeito da acção, refere-se a ela,
redescreve-a e refá-la.
A historiografia – é uma espécie de
narrativa, uma narrativa «verdadeira» por
comparação com as narrativas míticas ou
com as narrativas fictícias que são
epopeias, dramas, tragédias, romances,
novelas, e que, por outro lado, a história
se refere à acções dos homens no
passado.
Duas características do método histórico:
primeiro, que ele se refere a acções
humanas regidas por intenções, projectos,
motivos, que é necessário compreender
por uma Einfühlung, por uma intropatia
semelhante àquela pela qual
compreendemos as intenções e os motivos
de outrem, na vida quotidiana; de acordo
com este argumento, a história é apenas
uma extensão da compreensão de outrem.
Daí o segundo argumento: esta
compreensão, diferentemente do
conhecimento objectivo dos factos da
natureza, não é possível sem uma auto-
implicação do próprio historiador, da sua
subjectividade… por um lado, de facto, a
história propõe-se apreender
acontecimentos que têm um dentro e um
fora – um fora, uma vez que acontecem no
mundo, um dentro, porque exprimem
pensamentos no sentido mais lato da
palavra; a acção é, então, a unidade deste
dentro e deste fora; por outro lado, a
história consiste em reactivar, quer dizer,
em repensar, o pensamento passado no
pensamento presente do historiador.
Só a explicação é metódica. A
compreensão é, antes, o momento não
metódico que, nas ciências da
interpretação, se forma com o momento
metódico da explicação. Em contrapartida,
a explicação desenvolve, analiticamente, a
compreensão.
(continua...)
(Continuação)
O sentido primeiro da palavra
«hermenêutica» diga respeito às regras
requeridas pela interpretação dos
documentos escritos da nossa cultura…
enquanto o Verstehen (compreensão)
assenta no reconhecimento daquilo que
um sujeito estranho visa ou significa com
base em signos de todas as espécies, nos
quais a vida psíquica se exprime, a
Auslegung (interpretação, exegese) implica
alguma coisa mais específica: ela cobre
apenas uma categoria limitada de signos,
os que são fixados pela escrita, nela
compreendidas todas as espécies de
documentos e de monumentos que
comportam uma fixação comparável à
escrita.
O discurso é o acontecimento de
linguagem.
Na fala viva, a instância de discurso
permanece um acontecimento fugidio. O
acontecimento aparece e desaparece. É
por isso que há um problema de fixação,
de inscrição. O que queremos fixar é o que
desaparece. Se, por extensão, se pode
dizer que se fixa a língua – inscrição do
alfabeto, inscrição, lexical, inscrição
sintéctica -, é em função só daquilo que
exige ser fixado, o discurso. Só o discurso
requer ser fixado, porque o discurso
desaparece.
O que é que a escrita fixa efectivamente?
Não o acontecimento do dizer, mas o
«dito» da fala, se entendermos pelo «dito»
da fala a exteriorização intencional que
constitui a própria mira do discurso em
virtude da qual o Sagen – o dizer – quer
tornar-se Aus-sage – enunciado. Numa
palavra, o que nós escrevemos, o que
inscrevemos, é o noema do dizer. É a
significação do acontecimento de fala, não
o acontecimentos enquanto
acontecimento.
No discurso oral, esta devolução do
discurso ao sujeito falante apresenta um
carácter de imediatidade que se pode
explicar do seguinte modo. A intenção
subjectiva do sujeito falante e a
significação do seu discurso recobrem-se
mutuamente de tal modo que é a mesma
coisa compreender o que o locutor quer
dizer e o que quer dizer o seu discurso.
É quase a mesma coisa perguntar: «Que
quer você dizer?» e «Que quer isso
dizer?». Com o discurso escrito, a intenção
do autor e a intenção do texto deixam de
coincidir. Esta dissociação da significação
verbal do texto e da intenção mental
constitui a verdadeira aposta da inscrição
do discurso.
Isto não quer dizer que possamos
conceber um texto sem autor; o elo entre
o locutor e o discurso não é abolido, mas
distendido e complicado. A dissociação da
significação e da intenção permanece uma
aventura da devolução do discurso ao
sujeito falante… O que diz o texto importa
mais do que aquilo que o autor quis dizer;
doravante, toda a exegese desenvolve os
seus processos no seio da circunscrição de
significação que rompeu as suas amarras
com psicologia do seu autor. Para voltar,
uma vez mais, à expressão de Platão, o
discurso escrito não pode ser «socorrido»
por todos os processos que concorrem
para a compreensão do discurso oral:
entoação, mímica, gesto. Neste sentido, a
inscrição em «marcas externas» que,
inicialmente, pareceu alienar o discurso,
«marca» também a espiritualidade efectiva
do discurso. A partir daí, apenas a
significação «presta socorro» à significação
sem o contributo da presença física e
psicológica do autor. Mas quer que a
significação «presta socorro» à significação
é dizer que apenas a interpretação é o
«remédio» para a fragilidade do discurso
que o seu autor já não pode «salvar».
A espiritualidade do discurso se manifesta
pela escrita, libertando-nos da visibilidade
e da limitação das situações, abrindo-nos
um mundo, a saber, novas dimensões do
nosso ser-no-mundo.
Neste sentido, Heidegger tem razão para
dizer – na sua análise do Verstehen em
Sein und Zeit – que aquilo que, primeiro,
compreende-mos num discurso não é uma
outra pessoa, mas um projecto, isto é, o
esboço de um novo ser-no-mundo. Só a
escrita, ao libertar-se, não apenas do seu
autor, mas da estreiteza da situação
dialogal, revela que o destino no discurso é
projectar um mundo.
Só o discurso, e não a linguagem, se dirige
a alguém. Reside aí o fundamento da
comunicação. Mas, para o discurso, uma
coisa é ser dirigida a um interlocutor
igualmente presente na situação, outra é
dirigir-se, como normalmente acontece
com o fenómeno da escrita, a quem quer
que saiba ler. Em vez de se dirigir
unicamente a ti, segunda pessoa, o que é
escrito dirige-se ao auditório que ele cria
por si mesmo.
A significação da acção humana dirige-se,
também ela, a uma série indefinida de
«leitores» possíveis. Os juízos não são os
contemporâneos, mas, como disse Hegel,
seguindo Schiller, a própria história.
Weltgeschichte ist Weltgericht. Por outras
palavras, como um texto, a acção humana
é uma obra aberta, cuja significação está
«em suspenso». É porque ela «abre»
novas referências e delas recebe uma
pertinência nova que os actos humanos
estão também à espera de interpretações
novas que decidam da usa significação.
Características fundamentais ao próprio
estatuto do texto caracterizado por: 1) a
fixação da significação, 2) a sua
dissociação da intenção mental do autor,
3) o desenvolvimento de referências não
ostensivas, e 4) o leque universal dos seus
destinatários. Estas quatro características
tomadas em conjunto constituem a
objectividade do texto. Desta objectividade
deriva emprestada a um outro domínio
estranho à ordem dos signos, o dos
acontecimentos naturais, mas que seria
apropriada à objectividade textual. Não há
aí nenhuma transferência de uma região
da realidade para outra, digamos, da
esfera dos factos para a esfera dos signos:
é no interior desta mesma última esfera
que o processo de objectivação tem lugar
e se expõe a processos explicativos. E é no
seio da mesma esfera dos signos que a
explicação e a compreensão são
confrontados.
Compreender um texto não é atingir o seu
autor. A disjunção entre a significação e a
intenção cria uma situação absolutamente
original que origina a dialéctica da
explicação e da compreensão. Se a
significação objectiva é uma coisa
diferente da intenção subjectiva do autor,
ela pode construir-se de múltiplas
maneiras. O problema na compreensão
exacta já não pode ser resolvido por um
simples retorno à alegada intenção do
autor.
Um texto é um todo, uma totalidade.
A relação entre todo e partes – como
numa obra de arte ou num animal – requer
um tipo especial de «juízo»… a
reconstrução do texto enquanto todo
oferece, como consequência, um carácter
circular, no sentido de que o pressuposto
de uma certa espécie de todo está
implicado no reconhecimento das partes.
E, reciprocamente, é, ao construir os
pormenores, que reconstruirmos o todo.
Um texto é mais do que uma sucessão
linear de frases. É um processo
cumulativo, holístico. Esta estrutura
específica do texto não pode ser derivada
da da frase. É por isso que a plurivocidade
que se prende aos textos enquanto textos
é uma coisa diferente da polissemia das
palavras individuais e da ambiguidade das
frases individuais na linguagem vulgar.
Esta plurivocidade é típica do texto
considerado como totalidade; ela abre uma
pluralidade de leitura e de construção.
Ler significa prolongar esta suspensão da
referência ostensiva ao mundo e
transportar-se a si mesmo para o «lugar»
em que o texto se sustém, para a
«clausura» deste lugar acósmico.
Compreender um texto é seguir o seu
movimento do sentido para a referência,
daquilo que ele diz para aquilo de que fala.
Os jogos de linguagem são formas de vida.
A imagem seria, primeiro e por essência,
uma «cena» desenvolvida num «teatro»
mental perante o olhar de um
«espectador» interior.
A imaginação é um jogo livre com
possibilidades, num estado de não-
compromisso em relação ao mundo da
percepção ou da acção. É neste estado de
não-compromisso que ensaiamos ideias
novas, valores novos, novos modos de
estar no mundo. Mas este «sentido
comum» ligado à noção de imaginação não
é plenamente reconhecido enquanto a
fecundidade da imaginação não estiver
ligada à da linguagem, tal como é
exemplificada pelo processo metafórico.
Porque esquecemos, então, esta verdade:
não vemos imagens enquanto não as
entendermos.
No seu uso poético, a linguagem só se
ocupe de si mesma e, por isso, seja sem
referência.
À transicção do sentido para a referência
na ficção. A ficção tem, se assim se pode
dizer, uma valência dupla quanto à
referência: ela dirige-se para algures,
mesmo para nenhuma parte; mas, porque
designa o não-lugar em relação a toda a
realidade, pode visar indirectamente esta
realidade, segundo aquilo a que eu
gostaria de chamar um novo «efeito de
referência» (como alguns falam de «efeito
de sentido»). Este novo efeito de
referência não é mais do que o poder da
ficção de redescrever a realidade.
A sugestão é capaz de dizer que os
modelos são para certas formas do
discurso científico o que as ficções são
para certas formas do discurso poético. A
característica comum ao modelo e à ficção
é a sua força heurística, quer dizer, a sua
capacidade de abrir e de desenvolver
novas dimensões da realidade…
Todos os símbolos – da arte e da
linguagem – têm a mesma pretensão
referencial de «refazer a realidade».
Todas as transições do discurso à praxis
procedem desta primeira saída da ficção
para fora de si mesma.
A primeira transição do teórico para o
prático está ao alcance da mão, na medida
em que o que certas ficções redescrevem é
precisamente a própria acção humana. Ou,
para dizer a mesma coisa em sentido
inverso, a primeira forma pela qual o
homem tenta compreender e dominar o
«diverso» do campo prático é oferecer-se
uma representação fictícia desse campo
prático.
É o que a fenomenologia do agir individual
mostra claramente. Não há acção sem
imaginação. E isso de várias formas: no
plano do projecto, no plano da motivação e
no plano do próprio poder de fazer. Em
princípio, o conteúdo noemático do
projecto – aquilo a que outrora eu
chamava o pragma, a saber, a coisa a
fazer por mim – comporta uma certa
esquematização da rede de objectivos e
meios, aquilo a que poderíamos chamar o
esquema do pragma. É, de facto, nesta
imaginação antecipadora do agir que eu
«tento» diversos cursos eventuais de
acção e que eu «jogo», no sentido exacto
da palavra, com os possíveis práticos… a
função do projecto, voltada para o futuro,
e a função da narração, voltada para o
passado, trocam então os seus esquemas
e as suas grelhas, pedindo o projecto, de
empréstimo, à narração o seu poder
estruturante, e recebendo a narração do
projecto a sua capacidade de antecipação.
Em seguida, a imaginação organiza-se com
o próprio processo da motivação. É a
imaginação que fornece o meio, a clareira
luminosa, onde podem comparar-se,
medir-se motivos tão heterogéneos, como
desejos e exigências éticas, elas próprias
tão diversas, como regras profissionais,
costumes sociais ou valores fortemente
pessoais. A imaginação oferece o espaço
comum de comparação e de mediação
para termos tão heterogéneos como a
força que empurra como que detrás, o
atractivo que seduz como que para a
frente, as razões que legitimam e
fundamentam, como que por baixo.
É no imaginário que eu experimento o meu
poder de fazer, que eu tomo a medida do
«eu posso». Eu só atribuo a mim mesmo o
meu próprio poder, enquanto agente da
minha própria acção, descrevendo-o para
mim mesmo com os traços de variações
imaginativas sobre o tema do «eu
poderia», ou até do «eu teria podido de
outro modo, se tivesse querido». Também
aqui, a linguagem é um bom guia.
A possibilidade de uma experiência
histórica em geral reside na nossa
capacidade de permanecer expostos aos
efeitos da história… Mas permanecemos
afectados pelos efeitos da história apenas
na medida em que somos capazes de
alargar a nossa capacidade de assim
sermos afectados. A imaginação é o
segredo desta competência.
Uma das tarefas da filosofia é proceder
sempre a uma recapitulação crítica da sua
própria herança.
O uso do discurso por locutores individuais
assenta em regras semânticas e sintácticas
que comprometem quem fala. Falar é estar
«encarregado» de significar o que se diz,
quer dizer, de fazer uso de palavras e
frases segundo a codificação atribuída pela
comunidade linguística. Transposta para a
teoria da acção, a noção de código implica
que a acção sensata seja, de uma forma
ou de outra, governada por regras.
Um sujeito responsável, quer dizer, de um
sujeito que se reconhece capaz de fazer
aquilo que, ao mesmo tempo, ele acha que
deve fazer… interiorização da vida ética.
A razão é prática por si mesma,
exactamente na medida em que o que a
razão determina é uma vontade, ela
própria, abstracta e vazia e não o agir
concreto, como o requer, no entanto, a
ideia positiva de liberdade entendida como
causa livre, quer dizer, como origem de
mudanças reais do mundo.
O Espírito sabe que ele próprio está no
Estado e o indivíduo sabe que ele próprio
está neste saber do Espírito.
Fonte: Do texto à acção de Paul Ricoeur
Você também pode gostar
- O Primado do Corpo a partir da Filosofia de T.W. AdornoNo EverandO Primado do Corpo a partir da Filosofia de T.W. AdornoAinda não há avaliações
- Iniguez Manual de Análise Do Discurso em Ciências SociaisDocumento2 páginasIniguez Manual de Análise Do Discurso em Ciências SociaisGuilhermeGuilhermeAinda não há avaliações
- Wittgenstein e Bakhtin - Um Dialogo PossivelDocumento35 páginasWittgenstein e Bakhtin - Um Dialogo Possivelleo_corsiniAinda não há avaliações
- A Construção Do Mundo Histórico Nas Ciências Humanas by Wilhelm Dilthey - Kahlmeyer-Mertens - Filosofia UnisinosDocumento3 páginasA Construção Do Mundo Histórico Nas Ciências Humanas by Wilhelm Dilthey - Kahlmeyer-Mertens - Filosofia UnisinosravisantiagoAinda não há avaliações
- Foucault - Leituras AcontecimentaisDocumento471 páginasFoucault - Leituras AcontecimentaisGuilherme Pittaluga Hoffmeister100% (3)
- FOUCAULT CARUSO, P. Quem É Você, Professor Foucault (Entrevista, 1969, D.E. 1 (FR) )Documento18 páginasFOUCAULT CARUSO, P. Quem É Você, Professor Foucault (Entrevista, 1969, D.E. 1 (FR) )Gli Stronzi BambiniAinda não há avaliações
- AlcebíadesDocumento14 páginasAlcebíadesRégis TelesAinda não há avaliações
- O Comum, Antonio Negri PDFDocumento10 páginasO Comum, Antonio Negri PDFRoberto CalvetAinda não há avaliações
- Yves Schwartz - Qual Sujeito para Qual ExperiênciaDocumento13 páginasYves Schwartz - Qual Sujeito para Qual Experiênciathaleslelo100% (1)
- A Nomadologia de Deleuze e Guattari - Paulo Domenech OnetoDocumento15 páginasA Nomadologia de Deleuze e Guattari - Paulo Domenech OnetoCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- Claude Lévi-Strauss - O Homem NuDocumento424 páginasClaude Lévi-Strauss - O Homem NuEdson Matarezio100% (1)
- BAKHTIN Mikhail Epos e RomanceDocumento17 páginasBAKHTIN Mikhail Epos e RomanceThais Monteiro100% (3)
- Canguilhem - 2009 - Que e A PsicologiaDocumento16 páginasCanguilhem - 2009 - Que e A PsicologiaBruno PontualAinda não há avaliações
- Conclusão - Althusser e A Psicanálise (Pascale Gillot)Documento6 páginasConclusão - Althusser e A Psicanálise (Pascale Gillot)fabioramosbfAinda não há avaliações
- Magnani, J. G. C. Da Periferia Ao Centro PDFDocumento14 páginasMagnani, J. G. C. Da Periferia Ao Centro PDFLorena ReisAinda não há avaliações
- Günter Figal - Martin Heidegger - Fenomenologia Da Liberdade-Forense Universitária (2005)Documento194 páginasGünter Figal - Martin Heidegger - Fenomenologia Da Liberdade-Forense Universitária (2005)Roosevelt DelanoAinda não há avaliações
- Contra-Antropologia, Contra o Estado: Uma Entrevista Com Eduardo Viveiros de CastroDocumento18 páginasContra-Antropologia, Contra o Estado: Uma Entrevista Com Eduardo Viveiros de Castrombasques100% (1)
- Quem Precisa de Identidade Stuart HaallDocumento2 páginasQuem Precisa de Identidade Stuart HaallAdeilson Dantas NunesAinda não há avaliações
- Historia Oral, Feminismo e Política Daphne Patai PDFDocumento4 páginasHistoria Oral, Feminismo e Política Daphne Patai PDFyaya_a_portoAinda não há avaliações
- Entre Memória e História - Pierre NoraDocumento7 páginasEntre Memória e História - Pierre Noramarisa_nóbregaAinda não há avaliações
- Teoria Pós-Colonial e Condição Pós - Aijaz AhmadDocumento43 páginasTeoria Pós-Colonial e Condição Pós - Aijaz AhmadPatrícia PinheiroAinda não há avaliações
- Estudos Culturais e Seu Legado Teórico - Stuart HallDocumento2 páginasEstudos Culturais e Seu Legado Teórico - Stuart HallAdeilson Dantas NunesAinda não há avaliações
- Ética - Um Ensaio Sobre A Consciência Do Mal - Alain BadiouDocumento100 páginasÉtica - Um Ensaio Sobre A Consciência Do Mal - Alain BadiouMarcos Messerschmidt67% (3)
- Ó, Jorge Ramos Do. O Governo Do Aluno Na ModernidadeDocumento10 páginasÓ, Jorge Ramos Do. O Governo Do Aluno Na Modernidadesilvio_machado_2Ainda não há avaliações
- Dialetica Do IluminismoDocumento17 páginasDialetica Do IluminismoFlavia Suzue Ikeda100% (3)
- Pós Modernismo e Pós Estruturalismo. Semelhanças de Família. VAZDocumento6 páginasPós Modernismo e Pós Estruturalismo. Semelhanças de Família. VAZNina V. LeonhardtAinda não há avaliações
- Sobre o Conceito de MemóriaDocumento17 páginasSobre o Conceito de MemóriaSandrinha NovaisAinda não há avaliações
- RANCIÈRE, J. Literatura Impensável. in Políticas Da EscritaDocumento21 páginasRANCIÈRE, J. Literatura Impensável. in Políticas Da EscritaVeronica Gurgel100% (1)
- VELHO, Gilberto & KUSCHNIR, Karina (Org.) - Mediação, Cultura e PolíticaDocumento292 páginasVELHO, Gilberto & KUSCHNIR, Karina (Org.) - Mediação, Cultura e PolíticaJosé Luiz SoaresAinda não há avaliações
- Micropolítica e SegmentaridadeDocumento8 páginasMicropolítica e SegmentaridadeIsaacSousaAinda não há avaliações
- Boaventura - Globalização e GlobalismoDocumento18 páginasBoaventura - Globalização e GlobalismoRicardo Strympl DrachenAinda não há avaliações
- Gabbi JR, Osmyr Faria. O Que É PsicologiaDocumento11 páginasGabbi JR, Osmyr Faria. O Que É Psicologiasilvio_machado_2100% (1)
- PFROMM NETO - Psicologia No Brasil - Parte 1Documento10 páginasPFROMM NETO - Psicologia No Brasil - Parte 1Fabrício A. Bueno0% (1)
- Realismo Critico HojeDocumento102 páginasRealismo Critico Hojeegruiz2238Ainda não há avaliações
- BARROS, Armando. DA PEDAGOGIA DA IMAGEM ÀS PRÁTICAS DO OLHAR - UMA BUSCA DE CAMINHOS ANALÍTICOS.Documento22 páginasBARROS, Armando. DA PEDAGOGIA DA IMAGEM ÀS PRÁTICAS DO OLHAR - UMA BUSCA DE CAMINHOS ANALÍTICOS.Jean Costa0% (1)
- CASTORIADIS - Figuras Do Pensável0001Documento41 páginasCASTORIADIS - Figuras Do Pensável0001Luciana Pedrogam100% (2)
- Fichamento A Vida Uma Narrativa em Busca de NarradorDocumento5 páginasFichamento A Vida Uma Narrativa em Busca de NarradorBianca SilvaAinda não há avaliações
- Deleuze - 1976 - Nietzsche e A FilosofiaDocumento291 páginasDeleuze - 1976 - Nietzsche e A FilosofiaMarcos Goulart50% (2)
- Tomaz Tadeu Silva - A Produção Social Da Identidade e Da DiferençaDocumento17 páginasTomaz Tadeu Silva - A Produção Social Da Identidade e Da DiferençaFelipe Gibson100% (1)
- Ontologia NegativaDocumento27 páginasOntologia NegativaRenan SaraivaAinda não há avaliações
- Lucien Febvre - Frente Ao Vento: Manifesto Dos Novos AnnalesDocumento2 páginasLucien Febvre - Frente Ao Vento: Manifesto Dos Novos AnnalesRafael Gimenez MendonçaAinda não há avaliações
- Texto RolnikDocumento14 páginasTexto Rolnikbruno o.Ainda não há avaliações
- Genealogia Kleber Prado Filho PDFDocumento17 páginasGenealogia Kleber Prado Filho PDFDaniel VieiraAinda não há avaliações
- Literatura e Estudos de GeneroDocumento5 páginasLiteratura e Estudos de GeneroTelma Regina VenturaAinda não há avaliações
- Artigo Lucia Zolin Genero e RepresentaçãoDocumento14 páginasArtigo Lucia Zolin Genero e RepresentaçãoJéssica TolentinoAinda não há avaliações
- BARBOSA, Lívia. O Jeitinho Brasileiro A Arte de Ser Mais Igual Do Que Os Outros (Trechos)Documento60 páginasBARBOSA, Lívia. O Jeitinho Brasileiro A Arte de Ser Mais Igual Do Que Os Outros (Trechos)Edilson Nabarro JuniorAinda não há avaliações
- Ética e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyNo EverandÉtica e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyAinda não há avaliações
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsNo EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsAinda não há avaliações
- Wilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisNo EverandWilhelm Dilthey e a autonomia das ciências histórico-sociaisAinda não há avaliações
- Por uma pedagogia da dignidade: Memórias e reflexões sobre a experiência escolarNo EverandPor uma pedagogia da dignidade: Memórias e reflexões sobre a experiência escolarAinda não há avaliações
- Cuidado de si e atitude crítica em Michel FoucaultNo EverandCuidado de si e atitude crítica em Michel FoucaultAinda não há avaliações
- Ecologia e decolonialidade: Implicações mútuasNo EverandEcologia e decolonialidade: Implicações mútuasAinda não há avaliações
- Presentificação e imagem: contribuições à fenomenologia da irrealidadeNo EverandPresentificação e imagem: contribuições à fenomenologia da irrealidadeAinda não há avaliações
- A Mudança de ParadigmaDocumento9 páginasA Mudança de ParadigmaIgor AlexandreAinda não há avaliações
- BorgesDocumento22 páginasBorgesIgor AlexandreAinda não há avaliações
- A Filosofia de DeleuzeDocumento23 páginasA Filosofia de DeleuzeIgor AlexandreAinda não há avaliações
- Hume - Do Contrato OriginalDocumento10 páginasHume - Do Contrato OriginalIgor AlexandreAinda não há avaliações
- Rodrigo Araujo - As Passarelas de Walter BenjaminDocumento6 páginasRodrigo Araujo - As Passarelas de Walter BenjaminIgor AlexandreAinda não há avaliações
- ZaratustraDocumento10 páginasZaratustraIgor AlexandreAinda não há avaliações
- GramsciDocumento3 páginasGramsciIgor AlexandreAinda não há avaliações
- p3 - Estamira Crise Da Razão & Potência Do PensamentoDocumento1 páginap3 - Estamira Crise Da Razão & Potência Do PensamentoIgor AlexandreAinda não há avaliações
- Sobre Os Anormais - FoucaultDocumento6 páginasSobre Os Anormais - FoucaultIgor AlexandreAinda não há avaliações
- Silêncio, Sexo e Verdade - FoucaultDocumento19 páginasSilêncio, Sexo e Verdade - FoucaultIgor AlexandreAinda não há avaliações
- Erwin Panofsky - Iconografia e Iconologia (Significado Nas Artes Visuais)Documento21 páginasErwin Panofsky - Iconografia e Iconologia (Significado Nas Artes Visuais)Igor AlexandreAinda não há avaliações
- Terapia de Aceitação e CompromissoDocumento9 páginasTerapia de Aceitação e Compromissolotus83171100% (2)
- PNL Aplicada À Criatividade PDFDocumento23 páginasPNL Aplicada À Criatividade PDFpasap1233002100% (2)
- Roteiro de Estudo - Língua PortuguesaDocumento7 páginasRoteiro de Estudo - Língua Portuguesadjodje1Ainda não há avaliações
- As Artes Indigenas e A Definição de ArteDocumento11 páginasAs Artes Indigenas e A Definição de ArtePedro Antônio A. de Carvalho100% (2)
- Trabalho de Educação EspecialDocumento10 páginasTrabalho de Educação EspecialAna Carolina V. C. SantosAinda não há avaliações
- Importancia Leitura Producao Textual EducacionalDocumento15 páginasImportancia Leitura Producao Textual EducacionalVirgilio Magalde100% (1)
- O Que Faz Do Administrador Um AdministradorDocumento10 páginasO Que Faz Do Administrador Um AdministradorDalisonLageAinda não há avaliações
- Slide Pesquisa em EducaçãoDocumento39 páginasSlide Pesquisa em EducaçãoJessica SchlickmannAinda não há avaliações
- Trabalhando o Legado de RogersDocumento101 páginasTrabalhando o Legado de RogersAna Luiza BarretoAinda não há avaliações
- Planificação de 12 Aulas e Canto Segundo Os Fundamentos Teóricos de Jerome BrunerDocumento10 páginasPlanificação de 12 Aulas e Canto Segundo Os Fundamentos Teóricos de Jerome BrunerMaria José FonsecaAinda não há avaliações
- Análise de Possíveis Efeitos Desejáveis Do Controle Aversivo Na Aprendizagem de Comportamento EficazDocumento107 páginasAnálise de Possíveis Efeitos Desejáveis Do Controle Aversivo Na Aprendizagem de Comportamento EficazAdilson Dinis Cazenga AdcAinda não há avaliações
- Publicidade e Pós-ModernidadeDocumento6 páginasPublicidade e Pós-ModernidadeLuke Frederic AlfamaAinda não há avaliações
- Trabalho Ev127 MD1 Sa1 Id757 19092019154925Documento12 páginasTrabalho Ev127 MD1 Sa1 Id757 19092019154925Aline Cleide Batista BatistaAinda não há avaliações
- Competência Social, Empatia e Representação Mental Da Relação de Apego em Famílias em Situação de RiscoDocumento152 páginasCompetência Social, Empatia e Representação Mental Da Relação de Apego em Famílias em Situação de RiscoBruno BrazAinda não há avaliações
- 00-Contribuições de Vygotsky PDFDocumento11 páginas00-Contribuições de Vygotsky PDFJonas Angelo Martins FerreiraAinda não há avaliações
- Ta4 - Práticas Educativas em Espaços Não EscolaresDocumento36 páginasTa4 - Práticas Educativas em Espaços Não EscolaresRegina PironattoAinda não há avaliações
- Stroop Jovens Adultos PTDocumento68 páginasStroop Jovens Adultos PTccandeiasAinda não há avaliações
- PE Desenho de Observação 2022 JoinvilleDocumento66 páginasPE Desenho de Observação 2022 JoinvilleGustavo Neneve da RochaAinda não há avaliações
- AgressividadeDocumento146 páginasAgressividadeSamuel Paulo PeraiAinda não há avaliações
- Indice - See SP - Prof Educação FísicaDocumento2 páginasIndice - See SP - Prof Educação FísicaAltair LopesAinda não há avaliações
- Os Surdos Como Minoria LinguísticaDocumento14 páginasOs Surdos Como Minoria Linguísticarafaela sobralAinda não há avaliações
- MoveUP - Ativação de Soft SkillsDocumento7 páginasMoveUP - Ativação de Soft SkillsceumariAinda não há avaliações
- Administração em Enfermagem - Módulo 1Documento46 páginasAdministração em Enfermagem - Módulo 1Danielle Braga NeriAinda não há avaliações
- Ficha de Apontamentos-1Documento32 páginasFicha de Apontamentos-1Arnaldo Casimiro NhavotsoAinda não há avaliações
- Plan OC 1ºano Ubbu 20 21Documento8 páginasPlan OC 1ºano Ubbu 20 21Nelson SilvaAinda não há avaliações
- Resumo - Fundamentos de Metodologia Científica, Cap 2Documento2 páginasResumo - Fundamentos de Metodologia Científica, Cap 2Daureo Costa100% (3)
- Saberes Da Tradição - Proposição para Um Ensino Educativo. Ivone Priscilla de Castro Ramalho e Maria Da Conceição de Almeida (Orientadora)Documento12 páginasSaberes Da Tradição - Proposição para Um Ensino Educativo. Ivone Priscilla de Castro Ramalho e Maria Da Conceição de Almeida (Orientadora)Felipe PatronAinda não há avaliações
- Avaliação Neuropsicológica Do Desenvolvimento Infantil - AlunosDocumento199 páginasAvaliação Neuropsicológica Do Desenvolvimento Infantil - Alunosmaisalazzarone8652Ainda não há avaliações
- Desenho Comunicacao Visual ANQDocumento25 páginasDesenho Comunicacao Visual ANQCecilia Sampaio E MeloAinda não há avaliações
- Artigo Cientifico - Musica e A Escola PDFDocumento14 páginasArtigo Cientifico - Musica e A Escola PDFsophieyuriAinda não há avaliações