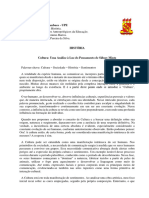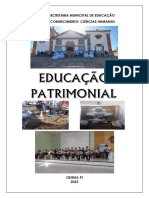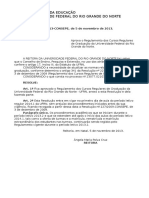Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Oficina Sobre A Cultura Tradicional Brasileira Na Ação Educativa
Oficina Sobre A Cultura Tradicional Brasileira Na Ação Educativa
Enviado por
Raphael Gomes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações14 páginasTítulo original
Oficina Sobre a Cultura Tradicional Brasileira Na Ação Educativa
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações14 páginasOficina Sobre A Cultura Tradicional Brasileira Na Ação Educativa
Oficina Sobre A Cultura Tradicional Brasileira Na Ação Educativa
Enviado por
Raphael GomesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
OFICINA SOBRE A CULTURA TRADICIONAL
BRASILEIRA NA AÇÃO EDUCATIVA
Cultura Tradicional
CÂMARA CASCUDO
Segundo Cascudo (1983a, p. 39-41) cultura é “o conjunto de técnicas de
produção, doutrinas, e atos, transmissível pela convivência e ensino, de
geração em geração” e compreende “o patrimônio tradicional de
normas, doutrinas, hábitos, acúmulo do material herdado e acrescido
pelas aportações inventivas de cada geração”. A cultura é uma herança
social
Para Luís da Câmara Cascudo, é possível interpretar a cultura popular
como resultado da “sabedoria oral”, memória coletiva anteposta aos
conhecimentos transmitidos pela ciência. Possuidora de “bases
universais”, portadora de um “instinto de conservação para manter o
patrimônio sem modificações sensíveis, uma vez assimilado" (CASCUDO,
1983, p. 679).
Apesar desse instinto de conservação, a cultura popular é detentora
de um caráter multidimensional e está aberta ao contato com o
novo. O próprio Câmara Cascudo assegura ser a cultura, em grande
parte, fruto da aculturação e da difusão cultural, já que nenhuma
cultura poderia ser considerada imune à mistura. Para o autor, “não
existe civilização original e isenta de interdependência”(CASCUDO,
1983, p. 429).
A cultura popular é justamente resultado de todos esses resultados,
fundidos pelos processos mais inexplicáveis ou claros, viajando
através do mundo, obedientes aos apelos misteriosos que não mais
podemos precisar. A cultura popular é o último índice de resistência
e de conservação do nacional ante o universal que lhe é, entretanto,
participante e perturbador (CASCUDO, 1983, p. 688-689).
Para Cascudo (1983, p. 39), na cultura popular existiria um
processo lento ou rápido de modificações, supressões,
mutilações parciais no terreno material ou espiritual do
coletivo sem que determine uma transformação anuladora das
permanências características”. Leio como sendo estas
“permanências características” o saber e o saber-fazer do povo
que atribuem à cultura popular seu caráter de continuidade,
funcionalidade e utilidade, que, por sua vez, a torna “(...)
mantenedora do estado normal do seu povo quando sentida
viva, sempre uma fórmula de produção”. (CASCUDO, 1983, p.
40).
A cultura popular não é um mero suporte idealizador para a tradição,
por estar muito além das representações estanques, segundo as quais
ela ocorreria apenas no passado; na verdade, é o hoje vivido e
expresso.
Assim, o folclore é visto como uma manifestação da cultura popular,
uma cultura viva, útil, diária e natural. Souza (2007, p. 121) aponta que
“os estudos folclóricos não foram estruturados no espaço acadêmico,
mas de forma alheia e, muitas vezes, em oposição a ele”. Por isso,
Cascudo se preocupou em levantar o material folclórico de forma
sistemática e baseada em critérios científicos. Desta forma, foram
produzidos o “Dicionário do Folclore Brasileiro” (1954), com verbetes
que explicam e conceituam as diversas práticas populares, e
“Antologia do Folclore Brasileiro” (2003), contendo os nomes e atos dos
diversos pesquisadores dessa ciência.
Há anos o termo folclore tem sido evitado por muitos estudiosos, por seu desgaste
semântico. Um dos motivos dessa deterioração se deu pela maneira como os fatos
culturais populares, tradicionais, foram concebidos, estudados e divulgados por muitos
folcloristas: de modo descontextualizado, considerados apenas em aspectos
fragmentados das expressões em si, nas suas exterioridades e formas,
independentemente das suas funções e sentidos profundos para as pessoas e
comunidades onde se preservam.
Nesse viés, acabavam servindo como alegoria e representação da cultura nacional, da
brasilidade, ou das regionalidades, ou ainda como manifestações de arte, para o
usufruto estético e de entretenimento. Tais enfoques provocaram nas pessoas visão
negativa a respeito desses fatos, como se fossem expressões curiosas, rústicas,
anedóticas, exóticas diante da vida moderna, vinculados aos ignorantes e à pobreza. O
folclore se prestava a exaltação romântica e reconhecimento do “povo” brasileiro,
como referência da identidade da nação. O sociólogo Florestan Fernandes, desde a
década de 1940,alertava para as questões epistemológicas relacionadas aos estudos
do folclore, em diversos artigos publicados em jornais e revistas, como: “Folclore e
Ciências Sociais” (1959); “Objeto e campo do folclore” (1958); “Folclore e sociedade”
(1960); “O folclore como método” (1944) e outros, que podem ser encontrados em
Fernandes (1961). Ver, também, Vilhena (1997)
Cultura da Infância
A cada manhã, a Casa Redonda compartilha de uma experiência única ao
conviver com a alegria expressa na movimentação espontânea das
crianças. Brincando, elas ocupam o espaço em toda a sua dimensão e as
brincadeiras vão surgindo aqui e ali, dentro de um ritmo natural
favorecido pelo encontro com outras crianças e pela liberdade que lhes
permite viver seu próprio tempo: o momento de chegar e iniciar suas
escolhas que sempre envolvem desafios ao próprio crescimento.
Se acompanharmos uma criança durante apenas uma manhã, como
professores, seremos surpreendidos pela variedade e qualidade de
experiências vividas por elas em suas brincadeiras e perceberemos
nitidamente a presença de um fio condutor que percorre passo a passo
aprendizagens significativas envolvendo as várias linguagens de
conhecimento.
Curiosa, indagadora, exploradora, sempre disposta a ir
adiante, enfrentando desafios constantes, atenta a
tudo que ocorre à sua volta, a natureza humana que
sabe Brincar presente nas crianças confirma que o
desenvolvimento destas processa de uma forma
sistêmica, sem fragmentações, em que tudo está
ligado a tudo.
Garantir esta iniciação, este modo próprio de se
comunicar com o mundo na Infância, é, uma das bases
essenciais de um desenvolvimento saudável das
crianças.
UM OLHAR PARA O QUINTAL
Sobre o quintal, esse genuíno território do brincar, solo coletivo onde se
cultiva a conversa com a família e com a vizinhança, terreno com cheiro de
festas, onde se nutre poesia, se colhe imaginação, Andrea Soares comenta:
São muitos quintais Brasil a fora e cada um deles, a sua maneira, preserva
saberes antigos e germina saberes novos, num processo de renascimento que
nunca se esgota, para além de nosso entendimento ou conhecimento em
torno dele [...]. É lugar de segredos e partilhas, onde o ontem e o hoje se
encontram. (SOARES, 2013, p. 32).
No quintal todo mundo brinca junto, canta junto, ri junto e principalmente,
aprendejunto. Um baú de possibilidades que abarca o universo das
brincadeiras, dos brinquedos, e que é inerente à cultura da infância. E, em se
tratando da cultura tradicional brasileira e seus territórios, desvela-se em
uma vastidão de possibilidades lúdicas.
Lydia Hortélio, uma das maiores personalidades vinculadas à pesquisa da
música tradicional da infância, no Brasil, ela mesma brincante desde
menina, se debruça nas lembranças das vinte e cinco mangueiras do seu
quintal: do mundo dos corre-corres, pega-pegas, do faz de conta, das
cantigas de roda, dos movimentos prazerosos do corpo e do manifestar-se
inteira com a natureza.
Decana no entendimento da importância de garantirmos à infância um
espaço natural que sirva de ponto de encontro, entre a criança e o percurso
de seu conhecimento, onde a mesma possa experimentar suas descobertas,
a educadora alerta-nos para a artificialidade paralisante do mundo virtual
de hoje, principalmente os infantes das grandes metrópoles,
profundamente carentes de aprendizados sensíveis.
“É preciso estarmos em meio às árvores, voltarmos a respirar ar
puro,
ouvir o canto dos pássaros, reparar nas cores e nas formas da
natureza, sentir o movimento do ar e das águas, o significado de
sol e sombra, compreender com o corpo, amar a Beleza, vivenciar
a inteireza da Vida e, assim, chegarmos a restabelecer ritmo em
nossas vidas, pulsar junto, desenvolver uma inteligência sensível
e uma vontade criadora impulsionando para o redirecionamento
dos nossos sentidos e do nosso destino” (HORTÉLIO – Criança e
Natureza)
O ADULTO ACREDITA NO QUE EXISTE, A
CRIANÇA EXISTE NO QUE ACREDITA
Você também pode gostar
- Ata de Resultados Finais 1º EDocumento1 páginaAta de Resultados Finais 1º Ecristianeadorno75% (4)
- Cultura e Primeira Infância. María Emilia LópezDocumento65 páginasCultura e Primeira Infância. María Emilia LópezJulia Ribeiro100% (2)
- Festa e Morte Um Olhar Sobre Redes EducaDocumento14 páginasFesta e Morte Um Olhar Sobre Redes Educapaulomolinas_1492451Ainda não há avaliações
- Atividades Sobre Cultura PopularDocumento24 páginasAtividades Sobre Cultura PopularAnna Corina100% (1)
- Linguagens Artísticas Da Cultura Popular PDFDocumento58 páginasLinguagens Artísticas Da Cultura Popular PDFLuciano Roque da SilvaAinda não há avaliações
- Conceito de FolcloreDocumento4 páginasConceito de FolcloreAntonioWalterJuniorAinda não há avaliações
- Educação e Diversidade Cultural - Desafios AmazônicosDocumento197 páginasEducação e Diversidade Cultural - Desafios Amazônicosraquel Maria Da Silva costaAinda não há avaliações
- Cascudoefolclore PDFDocumento11 páginasCascudoefolclore PDFgraciele tulesAinda não há avaliações
- Artigo SEC CerâmicaDocumento13 páginasArtigo SEC CerâmicapaulomarquesholandaAinda não há avaliações
- Convento Da Penha - Um Lugar de Memória (Alberto Carlos de Souza)Documento10 páginasConvento Da Penha - Um Lugar de Memória (Alberto Carlos de Souza)Ludmila AlcuriAinda não há avaliações
- Cultura No Contexto Dos Dias AtuaisDocumento4 páginasCultura No Contexto Dos Dias Atuaisgabriellpereir.silvaAinda não há avaliações
- 1 - Cultura Infantil - Mus Trad Da Infancia - Lucilene Silva - CompactadoDocumento95 páginas1 - Cultura Infantil - Mus Trad Da Infancia - Lucilene Silva - CompactadoClaudio TeggAinda não há avaliações
- CARASSO, Jean-Gabriel. Ação Cultural, Ação Artística PDFDocumento6 páginasCARASSO, Jean-Gabriel. Ação Cultural, Ação Artística PDFclownmunidadeAinda não há avaliações
- Slides Unid 1Documento22 páginasSlides Unid 1Carolina MartinsAinda não há avaliações
- Educação Indígena Do Corpo Da Mente e Do Espírito - Daniel MundurukuDocumento9 páginasEducação Indígena Do Corpo Da Mente e Do Espírito - Daniel MundurukuAna PaulaAinda não há avaliações
- Artigo Neusa Gusmão - Linguagem, Cultura e Alteridade. Imagens Do OutroDocumento38 páginasArtigo Neusa Gusmão - Linguagem, Cultura e Alteridade. Imagens Do OutrogregooneAinda não há avaliações
- Cordel Na GeografiaDocumento8 páginasCordel Na Geografiapeterson_parkerAinda não há avaliações
- ARQUIVO CulturaPopularnoReconcavoBaiano-COPENEDocumento9 páginasARQUIVO CulturaPopularnoReconcavoBaiano-COPENEflavinhaleal26Ainda não há avaliações
- Livro de Arte para CriançasDocumento17 páginasLivro de Arte para CriançasFlorenceMonteiroAinda não há avaliações
- Ebook Diversidade Etnico Racial ParunaDocumento603 páginasEbook Diversidade Etnico Racial ParunaClecio Bunzen100% (1)
- A Representação Social Da Escravidão Nos Museus Brasileiros Interfaces Entre A Museologia e A História.Documento17 páginasA Representação Social Da Escravidão Nos Museus Brasileiros Interfaces Entre A Museologia e A História.Lorena VazAinda não há avaliações
- Artigo - Autoestudo 3 - Arte e Cultura Manifestações Do Brasil Profundo PDFDocumento69 páginasArtigo - Autoestudo 3 - Arte e Cultura Manifestações Do Brasil Profundo PDFJane Glauce Silva NedelAinda não há avaliações
- Ng7 SF Dimensão CulturaDocumento21 páginasNg7 SF Dimensão Culturamcarvalhais1768Ainda não há avaliações
- HISTORIA DE PESCADOR: Pequeno Guia de Educação PatrimonialDocumento29 páginasHISTORIA DE PESCADOR: Pequeno Guia de Educação PatrimonialdeborafhAinda não há avaliações
- ARTIGO - Memória e Patrimônio em "Arquivo Vivo"Documento31 páginasARTIGO - Memória e Patrimônio em "Arquivo Vivo"JoelAinda não há avaliações
- A Sabedoria PopularDocumento31 páginasA Sabedoria PopularLuisa CarolinaAinda não há avaliações
- 159098-Texto Do Artigo-367224-1-10-20190903Documento22 páginas159098-Texto Do Artigo-367224-1-10-20190903Nathalia RezendeAinda não há avaliações
- As Imagens Do Outro Sobre A Cultura SurdDocumento4 páginasAs Imagens Do Outro Sobre A Cultura SurdJose SantosAinda não há avaliações
- Educação Patrimonial 2023Documento12 páginasEducação Patrimonial 2023Helison AnselmoAinda não há avaliações
- ApresentaçãoDocumento12 páginasApresentaçãoidahamoy1465Ainda não há avaliações
- ESPÍRITO SANTO - COM 2º Sem. MARIA E MÍRIADocumento3 páginasESPÍRITO SANTO - COM 2º Sem. MARIA E MÍRIAOdair JoséAinda não há avaliações
- Arte Além Do Bem e Do MalDocumento6 páginasArte Além Do Bem e Do Malguilhermedias61Ainda não há avaliações
- Prudentópolis: Cultura, História e IdentidadeDocumento238 páginasPrudentópolis: Cultura, História e IdentidadeBeatriz Anselmo OlintoAinda não há avaliações
- Texto Mestres Do Mundo Dane de JadeDocumento4 páginasTexto Mestres Do Mundo Dane de JadeRosiane Bezerra de OliveiraAinda não há avaliações
- Perspectivas Culturais No Ensino Das Artes ApresentaçãoDocumento27 páginasPerspectivas Culturais No Ensino Das Artes ApresentaçãoStefano MarquesAinda não há avaliações
- GC Oprojectop.i.r.a.t.a. C.BDocumento33 páginasGC Oprojectop.i.r.a.t.a. C.BInês CesárioAinda não há avaliações
- Gestão Cultural Como Visão Estratégica para Mobilização Do Desenvolvimento SustentávelDocumento24 páginasGestão Cultural Como Visão Estratégica para Mobilização Do Desenvolvimento SustentávelSuelma MoraesAinda não há avaliações
- 66 267 1 PBDocumento19 páginas66 267 1 PBPamela M SanAinda não há avaliações
- Síntese Da Coleção História Geral Da África - Publicação UNESCODocumento779 páginasSíntese Da Coleção História Geral Da África - Publicação UNESCOPatrícia Layne100% (3)
- Artigo EIC - 2020Documento9 páginasArtigo EIC - 2020Vinícius KdalmAinda não há avaliações
- Ponencia Folklore y Cultura Popular en La Contemporanidad Thiago - Panamá - 200424Documento21 páginasPonencia Folklore y Cultura Popular en La Contemporanidad Thiago - Panamá - 200424libellapa.tradeAinda não há avaliações
- 8668 Artigo 14326 1 10 20200602Documento35 páginas8668 Artigo 14326 1 10 20200602LúciaAinda não há avaliações
- Soc 1L2 2023Documento18 páginasSoc 1L2 2023André Luís (Dinoghosty)Ainda não há avaliações
- O CongadoDocumento15 páginasO CongadoRosemaryCardosoAinda não há avaliações
- Projeto FolcloreDocumento9 páginasProjeto FolcloreEdileneDiasVolffAinda não há avaliações
- Friccoes Culturais e Criacoes Cenicas Rustom BharuDocumento13 páginasFriccoes Culturais e Criacoes Cenicas Rustom BharuEduardo OkamotoAinda não há avaliações
- Texto 02 - ALBUQUERQUE JR. Durval M De. Fragmentos Do Discurso Cultural Por Uma Análise Crítica Das Categorias e Conceitos Que Embasam o Discurso Da Cultura No Brasil.Documento12 páginasTexto 02 - ALBUQUERQUE JR. Durval M De. Fragmentos Do Discurso Cultural Por Uma Análise Crítica Das Categorias e Conceitos Que Embasam o Discurso Da Cultura No Brasil.Bruno LossoAinda não há avaliações
- Fragmentos Do Discurso Cultural Por Uma Análise Crítica PDFDocumento8 páginasFragmentos Do Discurso Cultural Por Uma Análise Crítica PDFHélio Pereira100% (1)
- Revisão Terceirão P. 1 - História Professor Walcir-1Documento24 páginasRevisão Terceirão P. 1 - História Professor Walcir-1eduan sousaAinda não há avaliações
- Identidade Cultural Surda Na Diversidade BrasileiraDocumento8 páginasIdentidade Cultural Surda Na Diversidade BrasileiraGiulia MacielAinda não há avaliações
- 13 05 Berenice AlmeidaDocumento68 páginas13 05 Berenice AlmeidaJefferson PereiraAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, Joà o Pacheco de FREIRE, Oliveira Carlos Augusto Da Rocha. A Presenà A Indà Gena Na Formaà à o Do Brasil. P. 17-106Documento92 páginasOLIVEIRA, Joà o Pacheco de FREIRE, Oliveira Carlos Augusto Da Rocha. A Presenà A Indà Gena Na Formaà à o Do Brasil. P. 17-106nrckf8tsbtAinda não há avaliações
- O Lugar Das Comunidades Na Preservação Do Património Arqueológico. Um Projeto de InvestigaçãoDocumento22 páginasO Lugar Das Comunidades Na Preservação Do Património Arqueológico. Um Projeto de InvestigaçãoBrunacamargos07Ainda não há avaliações
- Flora Bazzo SchmidtDocumento212 páginasFlora Bazzo SchmidtLilian CaneteAinda não há avaliações
- FERNANDES - LIBRAS e ArteDocumento15 páginasFERNANDES - LIBRAS e ArteNemu LimaAinda não há avaliações
- Fasciculo 4Documento16 páginasFasciculo 4jeannecrisampaAinda não há avaliações
- Museus Como Agentes de Mudança SocialDocumento26 páginasMuseus Como Agentes de Mudança SocialAna TorrejaisAinda não há avaliações
- O Indígena Na Escola e A Interculturalidade PDFDocumento11 páginasO Indígena Na Escola e A Interculturalidade PDFJéssica MeirelesAinda não há avaliações
- Cidadania e Sociedade - ArtesDocumento15 páginasCidadania e Sociedade - ArtesRoberto AdamAinda não há avaliações
- Microsoft PowerPoint - Modelos Teóricos de Avaliação PsicológicaDocumento26 páginasMicrosoft PowerPoint - Modelos Teóricos de Avaliação PsicológicaFilipaTorresCostaAinda não há avaliações
- Artigo ComunicaçãoDocumento3 páginasArtigo ComunicaçãoarcadAinda não há avaliações
- Como Administrar Um Restaurante PDFDocumento2 páginasComo Administrar Um Restaurante PDFAndrea50% (2)
- Gabarito Oficial (Após Recursos)Documento16 páginasGabarito Oficial (Após Recursos)LucasAinda não há avaliações
- Ensaios Projeciológicos Parapsicológicos (Fernando Salvino)Documento161 páginasEnsaios Projeciológicos Parapsicológicos (Fernando Salvino)Kleida100% (2)
- Claydir de Faria AlvesDocumento51 páginasClaydir de Faria AlvesEscritório de Projetos e ProcessosAinda não há avaliações
- O Papel Do Psicologo Nas OrganizacoesDocumento14 páginasO Papel Do Psicologo Nas OrganizacoesLuìsAinda não há avaliações
- Laboratorio e Tipos de Laboratorios 1Documento11 páginasLaboratorio e Tipos de Laboratorios 1Valige Pedro Valige FariaAinda não há avaliações
- Abordagem Da Transgeracionalidade Na Terapia Sistêmica Individual - Um Caso ClinicoDocumento15 páginasAbordagem Da Transgeracionalidade Na Terapia Sistêmica Individual - Um Caso ClinicoJonson FreitasAinda não há avaliações
- Gabarito AP1 Educação Infantil 2 2010.2Documento4 páginasGabarito AP1 Educação Infantil 2 2010.2Anderson Machado AndréAinda não há avaliações
- Diretriz de Funcionamento - CreiDocumento27 páginasDiretriz de Funcionamento - CreiLucas Silva259Ainda não há avaliações
- Guia Prático Da Educação Inclusiva de Jundiaí - 2024Documento110 páginasGuia Prático Da Educação Inclusiva de Jundiaí - 2024silvia martinsAinda não há avaliações
- K01042 Manual ColaborarDocumento34 páginasK01042 Manual ColaborarJackson AntônioAinda não há avaliações
- Karnal, Leandro. Dez Mandamentos Do ProfessorDocumento5 páginasKarnal, Leandro. Dez Mandamentos Do ProfessorGuilherme AntunesAinda não há avaliações
- Formulário de Organização de Grupo em IgrejaDocumento4 páginasFormulário de Organização de Grupo em IgrejaCláudia PereiraAinda não há avaliações
- A Pessoa Como Centro - Revista de Estudos Rogerianos 2Documento31 páginasA Pessoa Como Centro - Revista de Estudos Rogerianos 2Lincoln Haas Hein100% (1)
- 1 Estudo Dirigido Avaliativo IDocumento2 páginas1 Estudo Dirigido Avaliativo ILeandro VitorAinda não há avaliações
- Bovinocultura No MT PDFDocumento543 páginasBovinocultura No MT PDFAdilson Teixeira FilhoAinda não há avaliações
- Temáticas de Chá e Ensino de Química OrgânicaDocumento10 páginasTemáticas de Chá e Ensino de Química OrgânicaLucianaAinda não há avaliações
- Histórias Que Se Cruzam No Além-Mar: Educação e Memória Nos Espaços Lusófonos.Documento284 páginasHistórias Que Se Cruzam No Além-Mar: Educação e Memória Nos Espaços Lusófonos.José GonçalvesAinda não há avaliações
- Geometria Plana - Triângulos (Lista I)Documento3 páginasGeometria Plana - Triângulos (Lista I)Guilherme RochaAinda não há avaliações
- Instrumentos Técnicos Operativos Do Serviço Social (Apostila Unifcv)Documento73 páginasInstrumentos Técnicos Operativos Do Serviço Social (Apostila Unifcv)ANNA RAFAELA OLIVA RIBEIROAinda não há avaliações
- 007 - PLANO DE AULA - ARTE - 01-04 A 05-04Documento4 páginas007 - PLANO DE AULA - ARTE - 01-04 A 05-04Euclides Garuti JuniorAinda não há avaliações
- Amauri BerçarioI Semana36 PlanejamentoDocumento7 páginasAmauri BerçarioI Semana36 Planejamentoadriano.filho2004Ainda não há avaliações
- Sefor1 - Ceja Adelino Alcantara Filho - 23064706 - Portaria 01 - 2024 - Trajano Dantas de AndradeDocumento3 páginasSefor1 - Ceja Adelino Alcantara Filho - 23064706 - Portaria 01 - 2024 - Trajano Dantas de AndradeWilliam Matheus Bomfim CabralAinda não há avaliações
- Regulamento Dos Cursos Regulares de Graduao Da UFRNDocumento67 páginasRegulamento Dos Cursos Regulares de Graduao Da UFRNRyan FerreiraAinda não há avaliações
- Lévy - O Que É o VirtualDocumento8 páginasLévy - O Que É o VirtualBela Lugosi0% (1)
- Registro Escolar Home DanteDocumento1 páginaRegistro Escolar Home DanteFabiana GhanameAinda não há avaliações
- EuropassFinal Carla MartinsDocumento5 páginasEuropassFinal Carla MartinsCarla MartinsAinda não há avaliações