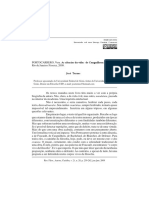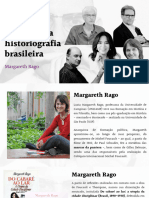Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Episteme
Episteme
Enviado por
Gabriel Matheus SouzaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Episteme
Episteme
Enviado por
Gabriel Matheus SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mnemosine Vol.11, nº1, p.
299-308 (2015) – Artigos
Epistéme
Jean Zoungrana
Université de Strasbourg
RESUMO:
Tradução de ZOUNGRANA, E. Épistémè. In: BERT, J.-F. & LAMY, J. Michel
Foucault: un héritage critique. Paris: CNRS, 2014, p. 103-112.
Tradutor: Alessandro Francisco.
Nota Técnica do Tradutor
As referências bibliográficas serão apresentadas ao final do artigo conforme edições em
posse do tradutor, o que altera, por vezes, a paginação em relação àquela citada no texto
original. Quando houver tradução em língua portuguesa disponível, indicar-se-á, na
citação, a página correspondente.
Alertamos ainda que, no texto original, informações como data de edição e paginação
de algumas referências bibliográficas não correspondiam àquelas dos textos citados,
tendo sido realizada sua adequação nesta tradução.
O conceito de epistéme aparece em dois textos fundamentais de Michel
Foucault: As palavras e as coisas (1966) e A arqueologia do saber (1969). Este termo,
que está no cerne do primeiro livro, faz pensar que o texto inteiro é consagrado a sua
elucidação. Colocando este conceito em destaque, ele afirma se esforçar “por encontrar
a partir de que foram possíveis conhecimentos e teorias; segundo qual espaço de ordem
se constituiu o saber; na base de qual a priori histórico e no elemento de qual
positividade puderam aparecer ideias, constituir-se ciências, refletir-se experiências em
filosofias, formar-se racionalidades, para talvez se desarticularem e logo
desvanecerem”1.
Desta maneira, a análise de Foucault visará a expor a disposição epistemológica
fundamental, ou epistéme2, que rege, estrutura e governa campos de conhecimentos
isomorfos a diferentes épocas do pensamento ocidental. Assim, As palavras e as coisas
1
FOUCAULT, 1966a, p. 13; Trad. P. XVIII.
2
N. T. No original a palavra grega é escrita no plural, epistémai. Mantivemos o singular para respeitar a
concordância com os períodos da frase.
Departamento de Psicologia Social e Institucional/ UERJ
300 Jean Zoungrana.
apresenta o histórico de diferentes epistémai constitutivas do pensamento ocidental.
Como anunciado no prefácio, Foucault busca desnudar os “códigos fundamentais”, “os
códigos ordenadores” da cultura ocidental, aqueles que governam sua linguagem, seus
esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, seus valores, a hierarquia de suas
práticas, e isto a fim de responder às questões seguintes: em que condições e em qual
forma de saber as ciências do homem foram possíveis? Qual a data de nascimento do
homem ocidental?
Deste modo, podem ser destacadas quatro figuras epistêmicas que se estendem
do século XVI ao século XX: a epistéme pré-clássica, aquela da Renascença, que se
estende até a metade do século XVII; a epistéme clássica, do meio do século XVII até o
fim do século XVIII; a epistéme moderna, século XIX; e a epistéme contemporânea. A
análise arqueológica sendo apoiada apenas num esboço da última época, pode-se reduzir
o número das épocas do saber a três: a época da Renascença é exposta de modo bastante
breve, diferentemente da era clássica e da modernidade, épocas sobre as quais Foucault
consagra extensas descrições.
Uma leitura rápida levou alguns a ver nestes três períodos sucessivos do saber
uma nova “lei dos três estados” de Auguste Comte. Mas o anti-evolucionismo de
Foucault, induzido por sua concepção particular das diferentes escanções históricas,
impede toda redução, pois se, para Foucault, a história do saber é uma sucessão de
epistémai3, estas são irredutíveis umas às outras; cada época é determinada,
caracterizada por uma e única epistéme. Esta concepção monolítica das epistémai fez
com que, de uma epistéme a outra, fosse a descontinuidade que operasse a divisão. Esta
descontinuidade sendo enigmática, a passagem de uma epistéme à seguinte permanece
incompreensível. “Bastará, pois, por ora [contenta-se a dizer Foucault], acolher essas
descontinuidades na ordem empírica, ao mesmo tempo evidente e obscura, em que se
dão”4. Também em sua análise arqueológica, Foucault foi levado a evidenciar duas
grandes descontinuidades na epistéme do pensamento ocidental: aquela que inaugura a
era clássica e aquela que marca o limiar da modernidade.
Então, como dar conta destas descontinuidades? Como explicar esta unidade ou
coerência própria a uma época dada? A resposta se encontra no método arqueológico,
que Foucault define como a história do que torna absolutamente necessária uma certa
forma de saber. Este método é o estudo da epistéme de uma época – Foucault dirá mais
3
N.T. aqui indicamos o termo no plural, também para manter a concordância.
4
FOUCAULT, 1966a, p. 64‐65; Trad. p. 69
Departamento de Psicologia Social e Institucional/ UERJ
Epistéme. 301
tarde que ela revela o arquivo –, sistema coerente, forma de pensamento anônimo e
inconsciente que, como a estrutura para Claude Lévi-Strauss, se impõe ao espírito
humano. Este mostrou que existe em toda sociedade uma estrutura oculta que funda,
organiza e estrutura as diferentes regras de parentesco e de casamento, a organização de
conjunto da sociedade. O empreendimento arqueológico, deste modo, seria parente
próximo do estruturalismo de Lévi-Strauss. Tanto como Lévi-Strauss tem paixão pela
estrutura, Foucault desenvolve aquela pela epistéme.
Fazendo isto, Foucault aparece como um pensador que estendeu à cultura
ocidental o que Lévi-Strauss aplicou às culturas exóticas. Com efeito, em As palavras e
as coisas, Foucault sustenta muito explicitamente que a situação colonizadora não é
indispensável à etnologia: a etnologia “só assume suas dimensões próprias na soberania
histórica – sempre retida, mas sempre atual – do pensamento europeu e da relação que o
pode confrontar com todas as outras culturas e com ele próprio”5. A etnologia não está
votada a ser esta ciência dos remotos; por efeito de volta às origens, ela pode também se
apresentar como uma ciência proxêmica, isto é, uma ciência interior à própria sociedade
ocidental que a levou às fontes batismais.
É justamente neste confronto da etnologia com a cultura europeia que Foucault
pretendeu se colocar. O selo do prestígio que abarca uma tal etnologia que,
negligenciando as sociedades sem histórias, busca seu objeto “do lado dos processos
inconscientes que caracterizam o sistema de uma dada cultura”6, faz pensar que é
justamente sobre isto que o próprio Foucault é tentado a se encaminhar. Esta etnologia
que buscaria definir um “sistema dos inconscientes culturais”7 seria, então, próxima da
arqueologia foucaultiana. Além disto, é preciso notar que a prática historiográfica
foucualtiana está construída em torno de um dispositivo que é aquele do olhar distante,
do olhar estrangeiro próprio do etnólogo. Mas invertendo o telescópio cultural do
etnólogo, ele se faz etnólogo da cultura ocidental. Ele conseguiria admiravelmente esta
proeza intelectual que consiste em interrogar sua própria cultura como se ela lhe fosse
estrangeira; situar-se no exterior de sua própria cultura a fim de poder melhor analisa-la
com o olhar distanciado do estrangeiro.
Na verdade, Foucault certamente leu Lévi-Strauss. Este representou muito cedo,
para ele, entre outras leituras, uma porta de saída para fora do horizonte de pensamentos
5
FOUCAULT, 1966a, p. 388; Trad. p. 522.
6
FOUCAULT, 1966a, p. 391, Trad. p. 526.
7
Ibid.
Mnemosine Vol.11, nº1, p. 299-308 (2015) – Artigos
302 Jean Zoungrana.
dominantes que era, então, marcado pelo marxismo, pela fenomenologia e pelo
existencialismo. Foucault anuncia ter ele próprio situado seu trabalho nesta esteira.
“Durante um longo período, houve em mim uma espécie de conflito mal resolvido entre
a paixão por Blanchot, Bataille e, de outra parte, o interesse que eu nutria por certos
estudos positivos, como aqueles de Dumézil e de Lévi-Strauss, por exemplo. Mas, no
fundo, estas duas orientações, das quais o único denominador comum era talvez
constituído pelo problema religioso, contribuiu em igual medida a me conduzir ao tema
do desaparecimento do homem”8. A proclamação da morte do homem, em As palavras
e as coisas, se enraíza nesta ascendência.
Cada vez mais, todos os trabalhos anteriores de Foucault são por ele analisados
sob o ângulo da etnologia. Ele qualifica e justifica, assim, seu trabalho a partir de 1966:
“Eu quis fazer, em meus trabalhos precedentes e neste [isto é, As palavras e as coisas],
uma espécie de etnologia da cultura ocidental. Geralmente, os etnólogos ocupam-se
exclusivamente das populações ditas primitivas. No fundo, nós tomamos raramente em
relação à nossa própria cultura uma distância suficientemente grande para poder trata-la
como se nos fosse totalmente estrangeira [...]. Eu pretendi fazer, na História da loucura,
a etnologia deste fenómeno que é a presença do louco na medicina, na literatura, e esta
na sociedade europeia desde a Idade Média. Em Nascimento da clínica, eu igualmente
tentei tratar a medicina como uma espécie de fenómeno etnológico. E em As palavras e
as coisas, eu pretendi mostrar quais foram as condições nas quais apareceram as
ciências humanas”9.
Se a etnologia esteve sempre no horizonte do/no pensamento de Foucault, sua
relação com Lévi-Strauss com diferentes pontos de intuscepção não pode gerar dúvida;
do mesmo modo como a etnologia lévi-straussiana nos ensina que estamos submissos a
regras, a leis, a estruturas inconscientes que nos escapam, da mesma maneira a
arqueologia que descreve as estruturas mentais nos ensina o sistema que rege nosso
pensamento e governa nossos atos a nossa revelia.
Também se pode dizer que se Lévi-Strauss é o papa de uma nova sociologia,
desta etnologia, Foucault é seu profeta. Mais profundamente, Foucault abala a ideologia
etnocêntrica, pois, doravante, as civilizações estrangeiras não serão mais justificáveis
única e exclusivamente pelo julgamento do homem branco. Este é o momento de
oferecer a conclusão irônica à qual se entrega R.-M. Alberes: “Eis [diz ele] que noz faz
8
FOUCAULT, 2001a, 1967, p. 642.
9
FOUCAULT, 1966b, p. 46‐47.
Departamento de Psicologia Social e Institucional/ UERJ
Epistéme. 303
voltar sobre este complexo de superioridade que o homem branco, o homem da Europa,
adquiriu ao final do século XIX, e que Kipling, por exemplo, expressou. Hoje o homem
branco está descoroado. Michel Foucault sobrevém no momento oportuno para
desmembra-lo e para inverter-lhe a pele. Como foi destruída a lenda do grande Alemão
loiro, eis colocado em questão o homo logicus e scepticus da Europa voltairiana e pós-
voltairiana. Ei-lo aniquilado, este Ario-Latino que não tem sequer o mérito de ser nosso
ancestral, pois não existe continuidade entre os séculos”10.
Este olhar etnológico é também defendido por Michel Serres. Ele mostra que a
arqueologia é, quanto ao conteúdo, uma etnologia do saber europeu, pois o
empreendimento de Foucault é justamente procurar o homo rationalis em suas próprias
terras e estuda-lo como objeto de etnologia. “Eis [diz ele] que aparece o diagrama do
Colono e do Selvagem, do pensamento lúcido, vigilante, consciente e dominador, e do
pensamento sonhador, mítico, inconsciente, naturado, delirante e submisso. A
descolonização do Colono por si mesmo, por si mesmo habitado pelas trevas do Outro,
começou. Está certamente no destino de nossa modernidade apurar este débito secular: é
necessário regrá-lo a ferro e fogo? Pegamo-nos a sonhar com um Gandhi interior, com
uma autodescolonização pela não-violência.”11.
Esta pequena variação sobre o colono e o selvagem, duplo da outra variação
diferenciada entre homem branco e seu Outro, mostra que o olhar etnológico é o que
imediatamente foi apreendido como implementação metodológica em As palavras e as
coisas. Que a etnologia tenha aparecido aí como a disciplina incontornável, é um fato
que se enraíza na racionalidade da abordagem presente. O próprio Foucault não se
enganou quanto a isto. Ele devia confiar a Raymond Bellour que se a história detém
uma posição privilegiada na sua abordagem, é não somente porque consiste em “uma
etnologia interna de nossa cultura e de nossa racionalidade”, mas muito mais porque é
“a possibilidade mesma de toda etnologia”12. Michel Serres tem, então, razão quando
afirma que Foucault aplica as grades de análise de Lévi-Strauss sobre a cultura
ocidental: “o universo do paralelismo esposa maravilhosamente as analogias estruturais
que atravessam a troca das palavras (gramática, linguística – nossa oralidade esquecida
– formalizada?), a troca dos bens (análise das riquezas, economia – nossa analidade
arcaica – simbolizada?) e a troca das mulheres (história natural, biologia – nossa
10
ALBERES, 1966a, p. 05.
11
SERRES, 1968, p. 198. N.T. alteramos o ano da edição nesta citação, uma vez que a referência foi
publicada em 1968, e não em 1966, como indica o original.
12
FOUCAULT, 2001b, p. 626.
Mnemosine Vol.11, nº1, p. 299-308 (2015) – Artigos
304 Jean Zoungrana.
genitalidade primária – logicizada?)13”. As diferentes análises de Foucault entram
justamente em sinergia com os grandes temas desenvolvidos por Lévi-Strauss.
O estruturalismo de Foucault seria, deste modo, um estruturalismo à la Lévi-
Strauss: um estruturalismo que, todavia, exploraria a história cultural da Europa. Dois
grandes temas lévi-straussianos podem assim se ler em Foucault. De uma parte,
interrogando a epistéme de uma época, Foucault se pergunta qual é a grade conceitual e
qual é o esquema conceitual que ordenam a experiência de uma época considerada: em
O pensamento selvagem, Lévi-Strauss faz amplo uso do termo grade. Foucault aplica a
seu estudo, de outra parte, o princípio binário caro a Lévi-Strauss. Assim, em Lévi-
Strauss, toda estrutura tem tendência a produzir um efeito invertido de si mesma:
revolta dos jovens contra os velhos, conflito de gerações. Em Foucault, em As palavras
e as coisas, a Renascença não é inteligível senão como inversão da Idade Média, a era
clássica como imagem especular da Renascença.
Além disto, é preciso sublinhar que o conceito de epistéme tem fortes acentos de
totalidade cultural como aquela desenvolvida por Lévi-Strauss em sua Antropologia
estrutural: é suficiente alcançar a estrutura inconsciente inerente a todo costume para
obter um esquema interpretativo aplicável a todas as outras instituições ou costumes. Do
mesmo modo, pode-se perguntar finalmente se este conceito não funcionaria como uma
epistéme estruturalista, pois, colocando o caráter unitário, rígido e autônomo da
epistéme, esta não podia deixar de ter uma expressão holística: “Numa cultura e num
dado momento, nunca há mais que uma epistéme, que define as condições de
possibilidade de todo saber”14; as mudanças ou mutações epistêmicas – isto é “o fato de
que em alguns anos, por vezes, uma cultura deixa de pensar como fizera até então e se
põe a pensar outra coisa e de outro modo”15 – intervêm bruscamente de maneira
bastante inesperada: “de súbito as coisas não são mais percebidas, descritas, enunciadas,
caracterizadas, classificadas e sabidas do mesmo modo”16. A epistéme, assim
apresentada, tem todas as caraterísticas de uma totalidade cultural e se aproxima, então,
do estruturalismo.
Mais profundamente, o próprio empreendimento arqueológico advém do
estruturalismo. Com efeito, esta busca é aquela do fundamento original constitutivo de
todo saber. Ora, um tal empreendimento ressoa como um eco ao trabalho empreendido
13
SERRES, 1966, p. 198
14
FOUCAULT, 1966a, p. 179; Trad. p. 230.
15
FOUCAULT, 1966a, p. 64; Trad. p. 69.
16
FOUCAULT, 1966a, p. 229; Trad. p. 298.
Departamento de Psicologia Social e Institucional/ UERJ
Epistéme. 305
pelo Lévi-Strauss de O pensamento selvagem. A epistéme, como experiência nua da
ordem, permanece muito próxima de certo funcionamento selvagem do pensamento. Em
seu livro Foucault ou o nihilismo da cátedra (1986), José Guilherme Merquior mostra
que é precisamente porque Foucault pretendeu desnudar os códigos culturais
independentemente de seus referentes empíricos que seu empreendimento é próximo
daquele de Lévi-Strauss.
A estes diferentes pontos de convergência se une a consideração bastante
particular que Foucault nutriu em relação à etnologia. “Adivinha-se [diz ele] o prestígio
e a importância de uma etnologia que, em vez de se definir primeiramente, como o fez
até então, pelo estudo das sociedades sem história, buscasse deliberadamente seu objeto
do lado dos processos inconscientes que caracterizam o sistema de uma dada cultura”17.
Se nestas palavras rende uma nobre homenagem a Lévi-Strauss, destaca, de certo modo,
a importância de sua própria abordagem arqueológica que se inscreve perfeitamente
também na veia etnológica. O lugar de Lévi-Strauss testemunha igualmente o lugar do
arqueólogo.
No pensamento de Lévi-Strauss, há um olhar novo sobre o homem e o saber. Eis
porque, na descrição que faz Foucault do saber moderno, a etnologia lévi-straussiana e a
psicanálise lacaniana ocupam um lugar privilegiado. Elas são ambas animadas por um
“perpétuo princípio de inquietude, de questionamento, de crítica e de contestação
daquilo que pôde parecer, por outro lado, adquirido”18. Foucault vê na etnologia e na
psicanálise formas de contestação do saber moderno. É assim que o descentramento do
sujeito analisado por Lacan, acompanhado da dissolução do homem anunciada por
Lévi-Strauss, passava por uma crítica da modernidade.
Como tal, pode-se dizer que o estruturalismo de Foucault é manifesto; Foucault
se engajaria indubitavelmente na via estruturalista, introduzida pela abordagem
arqueológica. Além disso, o título inicial que Foucault pretendia dar a seu livro era Uma
arqueologia do estruturalismo; ora, uma tal arqueologia dificilmente podia escapar do
determinante estruturalista. Hubert Dreyfus e Paul Rabinow defendem, em seu Michel
Foucault: uma trajetória filosófica, a influência real do estruturalismo sobre Foucault,
notadamente na época de As palavras e as coisas. Com efeito, nesta época, Foucault
tinha verdadeiramente a etnologia e a psicanálise, ambas eminentes representantes do
estruturalismo, como únicas capazes de pensar “o vazio do homem desaparecido”. Eis
17
FOUCAULT, 1966a, p. 391; Trad. p. 526.
18
FOUCAULT, 1966a, p. 385; Trad. p. 517.
Mnemosine Vol.11, nº1, p. 299-308 (2015) – Artigos
306 Jean Zoungrana.
porque Foucault pode opor um riso liberador, um riso filosófico – como em eco às
explosões de riso de Zarathustra – “a todos os que não querem formalizar sem
antropologizar, [...] que não querem pensar sem imediatamente pensar que é o homem
quem pensa”19. Só uma tal atitude pode acordá-los do sono antropológico no qual estão
adormecidos.
O argumento decisivo quanto à sua inscrição no estruturalismo virá
paradoxalmente do próprio Foucault. Em plena metade de seu livro-acontecimento ele
faz uma abordagem positiva do estruturalismo bastante congruente com o papel de
contestação atribuído à etnologia como à psicanálise, no saber moderno: “O
estruturalismo [diz ele] não é um método novo; é a consciência desperta e inquieta do
saber moderno”20.
Ora, sabe-se o objetivo final fixado por Lévi-Strauss para as ciências humanas
em O pensamento selvagem: o objetivo declarado não é constituir o homem, mas
dissolve-lo. Do mesmo modo, Foucault ao termo de sua análise arqueológica das
ciências humanas, chegou a se encontrar com Lévi-Strauss neste terreno, mostrando que
a etnologia, a psicanálise e a linguística, na medida em que lepidamente se abstêm do
conceito de homem, tendem a, no fundo, dissolve-lo. “O mundo [declararia Lévi-
Strauss] começou sem o homem e se concluirá sem ele”21. Esta figura passageira do
homem é também o prognóstico que faz Foucault ao termo de sua “arqueologia das
ciências humanas”.
Em consequência disto, pode-se sustentar que é precisamente neste projeto, isto
é, na operação estruturalista de dissolução, que Foucault lê a função de contestação do
saber moderno próprio da etnologia. Dito de outro modo, o estruturalismo, definido
positivamente acima, articular-se-ia com a função de contestação atribuída por Foucault
à etnologia: o estruturalismo como consciência inquieta do saber moderno divide sua
inquietude com a etnologia, habitada pela mesma inquietude. É, pois, da conjunção da
etnologia e do estruturalismo que se logra a morte do homem.
Assim, o tema lévi-straussiano da eliminação do homem se encontra certamente
em Foucault. Mas, se em Lévi-Strauss, este tema se constrói em benefício da estrutura,
em Foucault, o tema se opera devido ao desequilíbrio epistêmico da modernidade.
19
FOUCAULT, 1966a, 353‐354; Trad. p. 473.
20
FOUCAULT, 1966a, p. 221; Trad. p. 287.
21
LÉVI‐STRAUSS, 2008, p. 443, Trad. p. 390.
Departamento de Psicologia Social e Institucional/ UERJ
Epistéme. 307
A obra de Lévi-Strauss se impôs a Foucault como uma referência fundamental.
A partir desta referência, ele foi levado a se colocar na esteira do estruturalismo. Mas,
apropriando-se originalmente da abordagem etnológica (transformando-a inteiramente
nesta transposição), faz nascer o método arqueológico, que se propõe a descobrir a
epistéme que governa a cultura ocidental. Assim apresentada – e a escrita de Foucault
estando ela mesma presa nas redes do estruturalismo –, a arqueologia não podia ser
senão próxima ao estruturalismo. E é também precisamente para evitar toda inscrição
estruturalista que Foucault tinha de se propor, em A arqueologia do saber (1969), uma
outra abordagem da epistéme, apresentada como relação discursiva própria a uma época
dada. Ele, todavia, abandonaria muito rápido este conceito e o método associado, ambos
fundamentalmente marcados pelo estruturalismo, em prol da genealogia, definida como
um método de análise cultural a partir de questões presentes.
Referências
ALBERES, R.-M. Lhomme n’est plus dans l’homme. In : Les Nouvelles litéraires, n.
2035 :5, 1966.
FOUCAULT, M. Les mots et les choses. Paris : Gallimard, 1966a. Tradução Salma
Tannus Muchail. São Paulo : Martins Fontes, 2002.
FOUCAULT, M. Un arhéologue des idées (Entretien avec J.-M. Minon). In : Synthèses
n. 245, 1966b, p. 46-47.
FOUCAULT, M. Qui êtes-vous professeur Foucault? (1967) In: FOUCAULT, M. Dits
et écrits I, 1954-1975, Paris : Quarto/Gallimard, 2001a, p. 629-648.
FOUCAULT, M. Sur les façons d’écrire l’histoire. (1967) In: FOUCAULT, M. Dits et
écrits I, 1954-1975, Paris : Quarto/Gallimard, 2001b, p. 613-628.
LÉVI-STRAUSS, C. Tristes tropiques. In : LÉVI-STRAUSS, C. Oeuvres (Bibliothèque
La pléiade). Paris: Gallimard, 2008. Tradução Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
MERQUIOR, J. G. Foucault ou le nihilisme de la chaire. Paris : PUF, 1986. Tradução
Donaldson M. Garschagen. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1985.
SERRES, M. Hermès ou la communication. Paris : Éditions de Minuit, 1968.
Jean Zoungrana
Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement em Europe
(SAGE, UMR 7363, CNRS-UDS)
Faculté des sciences sociales
Université de Strasbourg
Alessandro Francisco, tradutor.
Mnemosine Vol.11, nº1, p. 299-308 (2015) – Artigos
308 Jean Zoungrana.
Doutorando do Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia da PUC/SP, com
cotutela na Université Paris VIII – Vincennes/Saint-Denis.
E-mail: alessandro.fco@terra.com.br
Departamento de Psicologia Social e Institucional/ UERJ
Você também pode gostar
- Traumas Emocionais - Benne Den)Documento110 páginasTraumas Emocionais - Benne Den)CLEIDSON LIMA100% (13)
- As Leis EspirituaisDocumento316 páginasAs Leis EspirituaisDouglas Medeiros100% (1)
- Um Olhar para Fausto de GoetheDocumento203 páginasUm Olhar para Fausto de GoetheAryanna OliveiraAinda não há avaliações
- Foucault em Três TemposDocumento7 páginasFoucault em Três TemposDebora S. LonderoAinda não há avaliações
- Caderno de Exercícios Residência Multiprofissional PsicologiaDocumento49 páginasCaderno de Exercícios Residência Multiprofissional PsicologiaJuliane Garcia de AlencarAinda não há avaliações
- Foucault Pensa A Educacao (Cole - Desconhecido PDFDocumento175 páginasFoucault Pensa A Educacao (Cole - Desconhecido PDFAnonymous HtflG74OZ100% (4)
- Relatório Estagiário em Psicologia InstitucionalDocumento13 páginasRelatório Estagiário em Psicologia InstitucionalMarcelly LimaAinda não há avaliações
- FOUCAULT, Michel (Et Al.) - O Homem e o Discurso (A Arqueologia de Michel Foucault)Documento132 páginasFOUCAULT, Michel (Et Al.) - O Homem e o Discurso (A Arqueologia de Michel Foucault)Rodrigo Duarte100% (1)
- LIDÓRIO Ronaldo AntropologiDocumento5 páginasLIDÓRIO Ronaldo Antropologiallison fernandoAinda não há avaliações
- Ditos e Escritos IIDocumento76 páginasDitos e Escritos IISpiritus Alves100% (1)
- Foucault, Simplesmente - Salma TannusDocumento71 páginasFoucault, Simplesmente - Salma TannusKelvisNascimento100% (2)
- Estruturalismo, Pós-Estruturalismo e FocaultDocumento14 páginasEstruturalismo, Pós-Estruturalismo e FocaultNicholas Pinheiro100% (1)
- O mesmo e o outro – 50 anos de História da loucuraNo EverandO mesmo e o outro – 50 anos de História da loucuraNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- EneagramaDocumento18 páginasEneagramaUeftonAinda não há avaliações
- Artigo 2 - Conceituando A Antropologia - Ronaldo LidrioDocumento9 páginasArtigo 2 - Conceituando A Antropologia - Ronaldo LidrioThiago Adriano AlvesAinda não há avaliações
- Da Filosofia à História: Os Diálogos entre Foucault e os AnnalesNo EverandDa Filosofia à História: Os Diálogos entre Foucault e os AnnalesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- AtençãoDocumento11 páginasAtençãoCatarina Gomes100% (1)
- Comunicação Interpessoal e MarketingDocumento76 páginasComunicação Interpessoal e Marketingrocket_pt100% (1)
- Fichamento Antropologia Estrutural - Levi StraussDocumento3 páginasFichamento Antropologia Estrutural - Levi StraussLucas Rodrigues SouzaAinda não há avaliações
- Mapa Mental Processos Tipos MemoriaDocumento1 páginaMapa Mental Processos Tipos MemoriaEster DuarteAinda não há avaliações
- Cuidado de si e atitude crítica em Michel FoucaultNo EverandCuidado de si e atitude crítica em Michel FoucaultAinda não há avaliações
- As Palavras e As CoisasDocumento8 páginasAs Palavras e As CoisasVald_araAinda não há avaliações
- Salma Tannus Muchail - Foucault, SimplesmenteDocumento71 páginasSalma Tannus Muchail - Foucault, SimplesmenteJainara OliveiraAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio em Psicanálise - Setting e ContratoDocumento5 páginasRelatório de Estágio em Psicanálise - Setting e ContratoMariana AzevedoAinda não há avaliações
- Michel Foucault e o Nascimento Da ModernidadeDocumento8 páginasMichel Foucault e o Nascimento Da ModernidadeFernanda Akemi PereiraAinda não há avaliações
- Mecanismo de Crise Psicológica Sílvia Campino P 2Documento38 páginasMecanismo de Crise Psicológica Sílvia Campino P 2Carmo de SousaAinda não há avaliações
- Psicologia de DesenvolvimentoDocumento53 páginasPsicologia de DesenvolvimentoArsénio Sadique Aualo100% (3)
- GABRIELA ISAIAS - Resumo de "As Palavras e As Coisas", FoucaultDocumento10 páginasGABRIELA ISAIAS - Resumo de "As Palavras e As Coisas", FoucaultGabriela100% (1)
- SALMA TANNUS MUCHAIL Foucault e A História Da Filosofia PDFDocumento6 páginasSALMA TANNUS MUCHAIL Foucault e A História Da Filosofia PDFchristiano_tre3Ainda não há avaliações
- GIACOMINI. VARGAS. Foucault, A Arqueologia Do Saber e A Formação DiscursivaDocumento11 páginasGIACOMINI. VARGAS. Foucault, A Arqueologia Do Saber e A Formação DiscursivaJuliana LoureiroAinda não há avaliações
- FilosofiaFascX Vol3 08Documento104 páginasFilosofiaFascX Vol3 08Jailton100% (1)
- Os Três Foucault Ou A Sempre Difícil SistematizaçãoDocumento14 páginasOs Três Foucault Ou A Sempre Difícil SistematizaçãoFábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- Candiotto, Cesar. Notas Sobre A Arqueologia de Foucault em As Palavras e As CoisasDocumento16 páginasCandiotto, Cesar. Notas Sobre A Arqueologia de Foucault em As Palavras e As CoisasJonas RangelAinda não há avaliações
- Foucault - Filosofia Ou Fetichismo - Nildo VianaDocumento15 páginasFoucault - Filosofia Ou Fetichismo - Nildo VianadomliterisAinda não há avaliações
- A Concepção de Ciências Humanas em FoucaultDocumento4 páginasA Concepção de Ciências Humanas em FoucaultMarcus Vinicios P da SilvaAinda não há avaliações
- A Epistemologia Arqueológica de Michel FoucaultDocumento14 páginasA Epistemologia Arqueológica de Michel FoucaultDaniel Viana de SouzaAinda não há avaliações
- 616-Texto Do Artigo-1794-1-10-20120910Documento23 páginas616-Texto Do Artigo-1794-1-10-20120910Arlindo PicoliAinda não há avaliações
- Analise de A História Da Loucura FoucaultDocumento21 páginasAnalise de A História Da Loucura FoucaultrafaelimazzaroloAinda não há avaliações
- Nietzsche, A Genealogia e A HistóriaDocumento14 páginasNietzsche, A Genealogia e A HistóriaFábio Leonardo Brito100% (1)
- O Legado de Foucault PDFDocumento10 páginasO Legado de Foucault PDFLeila GiovanaAinda não há avaliações
- Eleutheria - Sexualidade e Psicanálise Como Formas Culturais - Raphael PegdenDocumento21 páginasEleutheria - Sexualidade e Psicanálise Como Formas Culturais - Raphael PegdenraphaelthomasAinda não há avaliações
- GONDRA, J.G. Paul-Michel Foucault - Uma Caixa de Ferramentas...Documento13 páginasGONDRA, J.G. Paul-Michel Foucault - Uma Caixa de Ferramentas...flavio_titoAinda não há avaliações
- Apresentação de Gênese e Estrutura Da Antropologia de Kant de FoucaultDocumento3 páginasApresentação de Gênese e Estrutura Da Antropologia de Kant de FoucaultAndré Constantino YazbekAinda não há avaliações
- O Ultimo Foucault PDFDocumento8 páginasO Ultimo Foucault PDFAllan LopesAinda não há avaliações
- Bourdieu Sobre FoucautDocumento7 páginasBourdieu Sobre FoucautTiago BonatoAinda não há avaliações
- Michel Foucault - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento11 páginasMichel Foucault - Wikipédia, A Enciclopédia LivreIngrid CordeiroAinda não há avaliações
- Foucault-VivnciasDocumento12 páginasFoucault-VivnciasLucas CavachiniAinda não há avaliações
- Cult Especial 5 - Michel FoucaultDocumento34 páginasCult Especial 5 - Michel FoucaultMaria GabrielaAinda não há avaliações
- As Ciências Da Vida de Canguilhem A Foucault PDFDocumento4 páginasAs Ciências Da Vida de Canguilhem A Foucault PDFDiana PichinineAinda não há avaliações
- As Ciencias Humanas Na Arqueologia de Foucault - GeraldiniDocumento17 páginasAs Ciencias Humanas Na Arqueologia de Foucault - GeraldiniCássia CostaAinda não há avaliações
- 16 RicardoCavalcanteDocumento18 páginas16 RicardoCavalcanteTito Ariel SalvadorAinda não há avaliações
- Michel Foucault e A Construção Discursiva Do Corpo Do SujeitoDocumento10 páginasMichel Foucault e A Construção Discursiva Do Corpo Do SujeitoDiego PazAinda não há avaliações
- Diagnóstico Do Presente - ArtigpDocumento22 páginasDiagnóstico Do Presente - ArtigpPatricia Albuquerque BragamonteAinda não há avaliações
- DosseDocumento2 páginasDosseGeiza Gimenes SaraivaAinda não há avaliações
- Carlosoliveira, 05 Artigo Livre - POCHAPSKIDocumento14 páginasCarlosoliveira, 05 Artigo Livre - POCHAPSKIMarcos ViniciusAinda não há avaliações
- Fazendo Nietzsche Ranger FinalDocumento13 páginasFazendo Nietzsche Ranger FinalFábio De Oliveira SilvaAinda não há avaliações
- Uma Nova Introdução A Foucault PDFDocumento3 páginasUma Nova Introdução A Foucault PDFRafael EfremAinda não há avaliações
- Bourdieu Sobre FoucaultDocumento7 páginasBourdieu Sobre FoucaultRafael GodoiAinda não há avaliações
- fichamento Michel FDocumento1 páginafichamento Michel FmarianaericeiraAinda não há avaliações
- A Verdade e As Formas Juridicas 1Documento60 páginasA Verdade e As Formas Juridicas 1Alessandro AlvesAinda não há avaliações
- Cardoso de Oliveira-Estrut. e HermenDocumento6 páginasCardoso de Oliveira-Estrut. e HermenMichel NunesAinda não há avaliações
- O Efeito-Foucault Na Historiografia BrasileiraDocumento22 páginasO Efeito-Foucault Na Historiografia BrasileiraFábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- A Permanencia Do Pensamento de FoucaultDocumento25 páginasA Permanencia Do Pensamento de FoucaultJoao Janio LiraAinda não há avaliações
- Baltazar - 2014 - Destruir, Pensar, Problematizar A HistóriaDocumento14 páginasBaltazar - 2014 - Destruir, Pensar, Problematizar A HistóriaMarcos GoulartAinda não há avaliações
- Arqueologia da Diferença Sexual: Mulher na Antropologia de Tomás de AquinoNo EverandArqueologia da Diferença Sexual: Mulher na Antropologia de Tomás de AquinoAinda não há avaliações
- Apostila ESTUDIO AULAS - Gestão de Pessoas Parte 2Documento11 páginasApostila ESTUDIO AULAS - Gestão de Pessoas Parte 2HEITOR FERNANDES DA CUNHAAinda não há avaliações
- Trabalho LCADocumento18 páginasTrabalho LCACatarinaAinda não há avaliações
- Revista - Unifreire Sabor Do SaberDocumento466 páginasRevista - Unifreire Sabor Do SaberLARA CAMPELOAinda não há avaliações
- Ap3 GerontologiaDocumento22 páginasAp3 GerontologiaAndreiaGarciaAinda não há avaliações
- 7 42 1 PB PDFDocumento7 páginas7 42 1 PB PDFJúlio MouraAinda não há avaliações
- Carta de Apresentação Curriculum Vitae Europass BaseDocumento1 páginaCarta de Apresentação Curriculum Vitae Europass BaseRenato Costa100% (1)
- Psicologia OrganizacionalDocumento125 páginasPsicologia OrganizacionalGlaucy KéllerAinda não há avaliações
- MEDITAÇÃODocumento2 páginasMEDITAÇÃOMariza CimaAinda não há avaliações
- O Que É A Montagem PDFDocumento5 páginasO Que É A Montagem PDFPatrícia NogueiraAinda não há avaliações
- O Que Os Homens Desejam Secretamente EbookDocumento25 páginasO Que Os Homens Desejam Secretamente EbookedenevandoAinda não há avaliações
- EMPATIADocumento4 páginasEMPATIABeatriz Pereira SampaioAinda não há avaliações
- Sinopse Cronológica Da Obra Psicológica de Jean PiagetDocumento11 páginasSinopse Cronológica Da Obra Psicológica de Jean PiagetTaila BeckerAinda não há avaliações
- Resolução CONTRAN #425 DE 27112012 - FederalDocumento5 páginasResolução CONTRAN #425 DE 27112012 - FederalRogelianaAinda não há avaliações
- Palácio Da MemóriaDocumento4 páginasPalácio Da MemóriaRecurso QuestãoAinda não há avaliações
- Teorias Da Personalidade Análise CríticaDocumento13 páginasTeorias Da Personalidade Análise CríticafujokamiAinda não há avaliações
- Influência Social Atitudes e Persuasão 3.2. Mudança de Atitudes 3.3. Conformidade e ObediênciaDocumento23 páginasInfluência Social Atitudes e Persuasão 3.2. Mudança de Atitudes 3.3. Conformidade e ObediênciaMonica MascarenhasAinda não há avaliações
- A Prática Do Karatê para Pessoas em Cadeira de RodasDocumento8 páginasA Prática Do Karatê para Pessoas em Cadeira de Rodasqtm5jyszxhAinda não há avaliações
- AprendizagemDocumento28 páginasAprendizagemAriane SilvaAinda não há avaliações
- 1 Aula TP 6. Sistema Neurologico-Sensorial e Estado Mental 2022-23Documento27 páginas1 Aula TP 6. Sistema Neurologico-Sensorial e Estado Mental 2022-23sofia canelasAinda não há avaliações