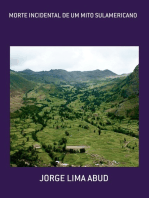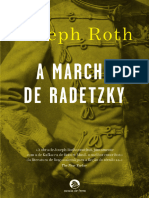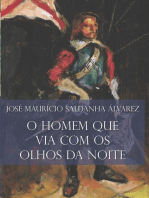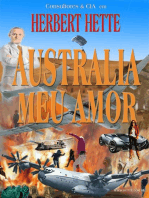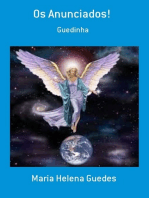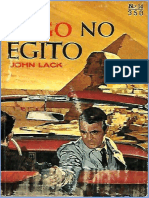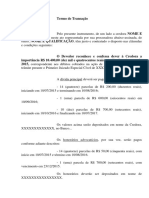Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
027 Fox Duffi - Anatomia de Um Atentado
Enviado por
MusicA QUITítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
027 Fox Duffi - Anatomia de Um Atentado
Enviado por
MusicA QUIDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FOX DUFFI
ANATOMIA DE
UM ATENTADO
© 1965 – Editora Monterrey Ltda
Digitalizado por Carlos Natali
530901
CAPÍTULO PRIMEIRO
Mergulho no Vale das Sombras
Mágica Ocidental em pleno Oriente
Na Gueixa Subterrânea, todos os métodos são válidos
Do alto do minarete, o “muezin”, chamava com seu
canto dolente os fiéis muçulmanos para a mesquita principal
de Teerã. As ruas adjacentes ao templo formigavam de
povo, à espera do general Ali Razmara, chefe do governo
persa.
Um imenso automóvel americano logo surgiu, sua
brilhante pintura cintilando ao sol. A multidão, enquanto o
carro avançava lentamente, aclamou com mil vozes e
palmas o estadista, que desceu do automóvel acompanhado
dos membros de seu gabinete e entrou no templo.
Precediam aqueles homens importantes, duas dezenas de
soldados de armas em punho, postados em redor da porta
principal da mesquita, estáticos e vigilantes, enquanto o
general assistia fervorosamente ao ato religioso.
Uma hora durou a oração. Por fim o general saiu,
descendo a escadaria, rodeado de seus ministros e guardas.
O povo prorrompeu em nova aclamação ruidosa, enquanto o
grupo luzidio se dirigia lentamente para o enorme e caro
automóvel estacionado junto à calçada.
De repente, um môço começou a dar cotoveladas em
meio à multidão. Tinha muita pressa, e com movimentos
bruscos ia abrindo caminho e avançando sempre. Uma voz
irritada protestou. O môço dera uma cotovelada no
estômago de um espectador aue se dispunha a revidar com
violência. Mas não houve briga, pois o momento era solene
e emocionante, ao clamor das vozes que aplaudiam o líder
da Pérsia.
O jovem, cuja cabeça mostrava um turbante vermelho,
era alto, de feições duras e, naquele momento, parecia
alucinado. Um ricto nervoso lhe contraía fortemente o lábio
inferior. Suas pupilas fixas refletiam ódio ao olhar em
direção a figura do general. Respirou profundamente,
descompassadamente. Um esgar misto de fúria e desprezo
transfigurou seu rosto. E, embora pretendesse mostrar-se
calmo, era evidente a lividez de suas faces e a palpitação
convulsa das têmporas.
Tinha alcançado já a barreira formada pelos soldados do
serviço de segurança. O general Razmara, agora a não mais
de três metros dele, chegava ao carro e se dispunha a
embarcar. Num arranco supremo, o jovem rompeu o cerco
dos policiais, e então tudo se desenrolou com vertiginosa
rapidez. Ninguém pôde impedir-lhe o movimento. Quando a
escolta quis reagir, era tarde: o irremediável ocorrera. O
homem de turbante vermelho empunhava uma automática
de grosso calibre, não fizera pontaria, e nem precisara tomar
esse cuidado, pois estava a um passo da vitima. Apertara o
gatilho como se estivesse acostumado a fazê-lo. A arma
detonou duas vezes num relâmpago só, e no mesmo instante
o general Razmara levou a mão ao peito, sentindo
escurecer-lhe a vista... Razmara, general da Pérsia, seu mais
alto governante, caiu nos braços de um dos ministros, o
peito perfurado. Das feridas, o sangue jorrava, empapando
seu uniforme recoberto de passadeiras e condecorações.
— Traidor! — foi a única exclamação do assassino.
Vários policiais saltaram sobre ele, aprisionando-o. Não
resistiu. Alguém lhe arrancou da mão a automática e quis
matá-lo ali mesmo, sendo, entretanto, impedido pelos
soldados.
— É um assassino! Matou nosso chefe! — gritou um
dos ministros, fora de si.
Parte da multidão o apoiou, propondo em altos brados
seu linchamento, mas de novo intervieram os policiais. No
entanto, o ajudante de Razmara aproximou-se, empurrando
um sargento, e desfechou uma sequência de socos no rosto
do moço, antes que fosse agarrado por um agente de
segurança.
Dois passos além, o cadáver do general, rubro de
sangue, como que proclamava ao mundo o magnicídio,
talvez o começo de uma onda de terrorismo cuja origem
estava na luta subterrânea pelo petróleo. Ainda no auge do
estupor, um grupo daqueles que tinham sido seus
colaboradores no governo procurava inutilmente chamar à
vida o corpo varado de balas.
Agentes de segurança e soldados conduziram o detento
até o carro, cercados pela multidão ululante que pedia o
sangue do assassino. Um policial pós o automóvel em
movimento. No banco de trás, dois homens mantinham o
jovem homicida sob a mira de suas metralhadoras, dispostos
a liquidá-lo ao menor movimento.
Na Chefatura de Polícia, o interrogatório foi habilmente
conduzido, longamente feito, mas redundou em nada.
— Quem foi que o mandou? — perguntava o
comissário.
Ahmed Ben Ruizi, o assassino, permanecia
imperturbável:
— Eu o matei, e ninguém me ordenou isso — respondia
com voz ríspida. — O general Razmara constituía um
perigo para a pátria. Foi por isso que o matei.
— Está mentindo! Você é um assassino pago!
— insistiu o comissário, provocando com essas palavras
uma indignação genuína no rapaz.
— Eu o matei sem receber nada de ninguém!
— gritou.
— E por que fez isso?
— Ele era um traidor. Não quis nacionalizar o petróleo.
Alguém tinha de matá-lo.
O comissário não pôde conter sua raiva: deu- lhe uma
estrondosa bofetada.
— Ainda se atreve a insultá-lo, seu bandido!
— exclamou. — Quem lhe ordenou? Diga logo! Vai ter
de confessar de qualquer jeito!
Ahmed Ben Ruizi continuava negando, sempre dizendo
que não recebera ordens, que tudo fizera voluntariamente.
Entretanto, aquela confissão mil vezes repetida não
convenceu a polícia. Soube-se depois, nos círculos policiais,
que Ahmed fazia parte de um grupo de fanáticos
denominado “Fedeiyan”, compostos de islamitas
intransigentes e duros, cujos princípios ideológicos se
fundamentavam na violência como única solução para os
problemas econômicos e sociais da Pérsia.
Ahmed foi encarcerado, à espera da sentença que o
levaria inevitavelmente a enfrentar o pelotão de
fuzilamento. Enquanto isso, as representações diplomáticas
estrangeiras e seus serviços secretos começavam a agir —
depois da apresentação protocolar de pêsames.
No parlamento, o ambiente. ficou tenso e carregado. A
qualquer momento ‘podia surgir o primeiro sinal de revolta
popular. O ânimo dos deputados veio ao auge da excitação,
e a dialética mais ardorosa contra tudo que fosse estrangeiro
encheu a boca dos representantes exaltados. Aquele Seria
um dia importantíssimo na história do jovem parlamento
iraniano, pois os deputados começaram a discutir um
assunto candente, no qual tinham idênticos interesses
muitas nações, tanto europeias como americanas e asiáticas:
o da nacionalização do petróleo.
Sessão tumultuada, quando o problema foi posto em
votação.
— É uma necessidade para nós a nacionalização do
petróleo! — bradava um deputado, os cabelos desfeitos
caindo-lhe no rosto, gestos de tribuno ardoroso e demagogo.
— É vergonhoso, vermos uma nação estrangeira explorar
nossa riqueza petrolífera, dessa maneira controlando as
manifestações dos persas. O tratado de 1933, feito para nos
escravizar por cinquenta anos, precisa ser denunciado!
Uma longa e vibrante ovação acolheu estas palavras.
Houve gritos de hostilidade aos estrangeiros, especialmente
à Inglaterra.
— Não estamos dispostos a consentir em que a Grã-
Bretanha continue a embolsar sete e meio por cento dos
benefícios do nosso petróleo! — exclamou outro
parlamentar. — Abaixo a intromissão estrangeira! O
petróleo de nosso subsolo será totalmente persa!
O presidente da assembleia somou os votos, com a
assistência dos líderes dos partidos. Depois, olhando
significativamente para o embaixador britânico, ali
presente, proclamou o resultado;
— A indústria do petróleo, bem como a companhia
inglesa que o explora ficam a partir de hoje exclusivamente
em mãos de nosso povo e servindo unicamente aos seus
interesses. A assembleia decidiu nacionalizá-la.
Um clamor intenso seguiu-se a essas palavras.
O petróleo é um produto essencial à vida moderna. Sem
ele, os povos se veem condenados a um meio de vida
arcaico. O petróleo move as engrenagens do mundo, dá vida
a todos os motores, ganha as guerras. É a panaceia
universal, interessando profundamente à política e à
ambição dos povos.
No Irã — a ex-Pérsia — encontram-se as maiores e mais
produtivas jazidas do globo. Cinco oleodutos conduzem o
petróleo bruto desde os poços, no interior, até o porto de
Abadan, no Golfo Pérsico. A Anglo-Iranian Oil Company é
uma gigantesca empresa de exploração petrolífera,
controlada pelo próprio governo britânico. De seus poços
localizados no Irã extrai ela trinta e dois milhões de
toneladas anuais, para isso empregando cento e vinte mil
trabalhadores em terra, no ar e no mar — neste, como
tripulantes de seus cento e trinta petroleiros. O capital da
empresa ultrapassa a incrível cifra de dez trilhões de
cruzeiros. Se a Royal Navy, isto é, a marinha-de-guerra
inglesa, navega, isto se deve ao petróleo iraniano.
Pode-se facilmente imaginar a tremenda importância que
envolvia a recém-decretada nacionalização, pelo
parlamento.
A situação estava nesse pé — uma verdadeira pré-guerra
— quando desembarcou em Teerã um homem de pouca
idade, desengonçado no andar, aparentemente inofensivo e
calmo, alto como um cedro do Monte Líbano. Nome:
Arnald Payne. Profissão declarada no hotel em que se
hospedou: engenheiro industrial em viagem de turismo. Na
verdade um elemento do OSS — Divisão de Choque, parte
especial da CIA, a qual forma, com o OSS, o poderoso
organismo norte-americano de espionagem.
Arnald Payne procurou entrar em contato,
imediatamente, com os elementos nacionalistas, para saber,
antes de mais nada, quais eram as tarefas que tinha a
realizar. Nada como ficar conhecendo o inimigo, para
orientar-nos — pensava ele. Mas fracassou na primeira
tentativa, pois os fanáticos do “Fedeiyan” haviam feito de
seu partido uma organização secretíssima, quase
impenetrável. O agente secreto Payne tinha de fazer, assim,
alguma coisa de grande importância para ganhar a
confiança daquela misteriosa e intransigente seita de
políticos ambiciosos.
Payne já chegara a Teerã incumbido de missão
muitíssimo arriscada: conhecer os próximos passos da
“Fedeiyan", para encaminhá-los ao encontro dos interesses
norte-americanos.
Durante alguns dias, passeou pelas ruas da capital persa,
colhendo os informes disponíveis. Concluiu que o assassino
do general Razmara pertencia mesmo ao “Fedeiyan”.
Concebeu então um plano mais ousado, dispondo-se a
executá-lo imediatamente.
Ahmed Ben Ruizi estava preso no subterrâneo da
Chefatura de Polícia. Payne queria por qualquer modo
chegar até o terrorista e falar com ele — sem identificar-se
nem deixar sinais. Tarefa para um James Bond de verdade.
O agente estudou as particularidades dos arredores da
Chefatura, que era instalada num imponente edifício dos
subúrbios, muito bem e constantemente vigiada por
soldados vivos e treinados. Nacionalistas furiosos já haviam
tentado assaltar o prédio, mas foram repelidos a bala, alguns
deles tendo morrido na operação.
Payne resolveu entrar na prisão naquele mesmo dia. O
tribunal marcial proferira a sentença que condenava à morte
por fuzilamento, no dia 10 de março, o homem do
“Fedeiyan”, e só restavam 24 horas para qualquer trabalho.
Assim foi que naquele dia, às onze da manhã, Arnald
Payne se uniu a um grupo de manifestantes que clamavam
pela imediata proscrição do tratado anglo-iraniano de
exploração do petróleo. Houve incidentes, e mesmo
choques com a polícia, perto da Chefatura. Payne, astuto e
já conhecedor do ambiente, fez-se condutor da massa, um
perfeito agitador que revelava invulgar aptidão demagógica.
Num árabe fluente e claro, aprendido na escola especial da
OSS, falou aos manifestantes:
— Amigos, este é o momento! Não vamos permitir que
um companheiro nosso seja morto pelas armas mercenárias!
Uma voz violenta logo veio em resposta:
— Ruizi é um patriota, e nós havemos de ajudá-lo!
Muitas bocas, então bradaram em uníssono. A arenga de
Payne atingia as profundezas daqueles corações de raça
inflamável, dispostos sempre a decisões acaloradas e
irrefletidas.
— Vamos à prisão! Vamos à prisão! — proclamavam a
seguir.
E o grupo de manifestantes para lá se encaminhou.
Tentando conter a onda que avançava, os soldados
inicialmente atiraram para o ar. Mas em vão: a multidão
parecia ser inarredável em sua determinação. Não cederia
em seu propósito, mesmo que as balas chovessem em seu
seio, dizimando-a.
— Mirem no europeu! — foi a ordem do sargento,
percebendo que Payne conduzia a turba.
O agente, milagrosamente, saiu ileso. Alguns homens
caíram a seu lado, mas ele conseguiu proteger-se atrás de
um manifestante. E foi o corpo deste que recebeu a descarga
maciça dos soldados da guarda.
— Assassinos! Vocês pagarão esta traição! — disse
entre dentes o homem da CIA, mas suficientemente alto
para que os demais o entendessem.
— Viva Ruizi, o patriota! — um outro gritou.
Entretanto, chegavam reforços policiais, e os defensores
da prisão em pouco dominaram os manifestantes. O grupo,
antes compacto e decidido, logo se esfumou, desapareceu. E
Payne, entre os outros, poderia escapar; mas não era isso o
que desejava. Deixou-se cair, fingindo ter deslocado um
tornozelo. Os soldados correram para ele, acompanhados
pelo sargento:
— Prendam esse! É o organizador do assalto.
Os soldados engatilharam as armas, apontando-as para o
agente do OSS.
— Levante-se, cachorro! — ordenou a voz raivosa do
sargento.
— Traidores nojentos! — Payne ainda os insultou.
— Logo veremos quem é o traidor... Marche, vamos!
Coxeando, Arnald Payne foi conduzido ao escritório do
coronel — um homem de baixa estatura, gordo, de feições
duras e gestos bruscos:
— Quem é você? — perguntou o oficial com voz áspera
e uma expressão de desprezo no rosto. — Está claro que
não é árabe. Que está fazendo neste país?
O agente olhou-o fixamente:
— Vim aqui para lutar pela Pérsia.
— Então, é um aventureiro, hem?
O coronel aproximou-se. Sua cabeça alcançava apenas a
altura dos ombros de Payne.
— Vim lutar pela Pérsia, já que vocês a traíram.
O coronel Abdillah ergueu-se quanto pôde, conseguindo
atingir apenas levemente o queixo do agente- E como as
duas bofetadas que lhe quisera aplicar não o atingissem
como desejava, enfureceu-se tanto que Payne temeu que ele
sacasse o revólver. Mas não foi o revólver que o homem
buscou: em lugar dele, surgiu em sua mão um curto chicote.
Dois segundos depois, o rosto do agente exibia duas estrias
vermelhas.
— Nós mesmos costumamos resolver nossos problemas
— declarou o coronel, apontando com o chicote os olhos de
Payne. — Não precisamos de nenhum estrangeiro
intrometido para dar-nos lições de patriotismo.
— Nem mesmo dos ingleses?
O agente fez aquela pergunta de maneira tão irônica que
o militar não soube conter os nervos, chicoteando-o mais
duas vezes.
Os golpes foram suportados com admirável segurança,
sem um músculo se contrair.
Payne mantinha-se firme, a ironia bailando no olhar.
— De onde é você? — insistiu o coronel.
— Sou norueguês.
— Bem, bem... vá se despedindo da ideia de voltar à sua
pátria, pois amanhã vai morrer ao lado do homem que
pretendia libertar.
— Quero falar com meu cônsul.
— Você é um apátrida, um aventureiro que não merece a
defesa de ninguém. Não falará com ninguém! Levem-no!
O sargento lhe meteu a coronha no ombro. Ele aguentou
o golpe sem alterar a expressão irônica em sua fisionomia.
Dois soldados foram à frente, outros dois seguiam atrás; o
sargento, de um lado, completava a guarda, apontando-lhe
um revólver de calibre médio.
— Tire a roupa — ordenaram.
Ele assim fez.
O sargento apanhou a roupa, dando-lhe em troca uma
calça e uma camisa de tecido grosseiro e áspero.
Tiraram-lhe os sapatos e as meias, dando-lhe em troca
alpercatas.
— Quero minha carteira.
— Não lhe servirá de nada. Ande!
Desceram o último trecho da escada. Viu ali vários
soldados, imóveis Junto às paredes. Prosseguiram por um
corredor, estancando diante de uma cela onde nada se
percebia, tão completa era a escuridão. O sargento abriu a
poria, fazendo-o entrar com um pescoção. Em seguida, o
ruído da chave que o encerrava ali, ao mesmo tempo em
que o sargento ordenava:
— Vocês dois fiquem de guarda. À menor suspeita,
atirem.
Alguns momentos se passaram, antes que seus olhos se
habituassem á escuridão do aposento. Foi distinguindo aos
poucos as paredes nuas e o teto cuja altura a penumbra não
lhe permitia avaliar.
Mais uma voz se fez ouvir, distinta no antro escuro:
— Quem é você? Que faz aqui?
— Ah! — fez Payne. — Tenho companhia, não? Pensei
que estivesse só.
Procurou divisar o dono da voz.
— Que faz aqui? — insistiu a tal voz.
— Penso que vão matar-me. Organizei uma
manifestação para libertar Ahmed Ben Ruizi. Tivemos
muitos mortos, Não ouviu os tiros?
— Daqui não se ouve nada. Só os passos dos guardas.
Houve um silêncio pesado, ainda mais denso pela
profundeza da escuridão.
— Por que fizeram aquilo? — continuou o homem que
falava. — Você levou amigos meus ao matadouro. Daqui só
se saí para enfrentar o pelotão.
— Farei o possível para evitar isso — retrucou Payne
calmamente.
— Não seja bobo, rapaz. Se eles lhe disseram que vai
morrer, é porque vai mesmo.
A escuridão parecia desvanecer-se mais e mais. Seus
olhos viam agora, no fundo da cela, um vulto indistinto, que
lhe pareceu ser de um homem ainda Jovem.
— E você, quem é? — perguntou.
— Não me conhece? — estranhou o outro.
— Não sei meu amigo. O fato é que não o vejo.
— Ah, é verdade! Meu nome é Ahmed Ben Ruizi.
— Ruizi? Você é Ruizi?
— Sim, Por que essa surpresa?
— Não sei, não sei... Talvez eu não esperasse encontrá-
lo aqui. — Enquanto falava, deu uns passos inseguros,
aproximando-se de Ben Ruizi. Baixando a voz: — Vim
libertá-lo.
— Você deve estar sonhando — respondeu Ruizi com
ironia. Mas não deixou de indagar: — Quem o enviou?
Payne falou rápido, como se não tivesse escolhido a
resposta naquele momento:
— O “Fedeiyan”.
— Sua voz e sua aparência não são de um persa. Como
pôde ingressar no partido?
— Sou um aventureiro pago para a tarefa. Para dizer a
verdade, muito bem pago.
— Quem pagou? — quis saber o outro.
Via-se que Ruizi era cauteloso. As palavras de Payne
não o convenciam facilmente.
— Não sei quem foi. — O agente admirava-se de seu
próprio gênio inventivo. — Três homens disseram que
vinham da parte do chefe, e que esta noite você e eu
devíamos estar em Abadan.
Foi obrigado a insistir muitas vezes, para persuadir o
prisioneiro de que fora mandado pela organização.
Explicou-lhe com detalhes o plano de fuga, que parecia
irrealizável a Ben Ruizi:
— Não há quem possa fugir daqui — sustentava o persa.
— Eu farei isso, e você vai comigo. Veja!
À vista do homem maravilhado, Payne executou uma
operação dificílima.
— É incrível! — exclamou o persa em voz baixa. —
Nunca pensei que... O que é isto?
— Dentro de algumas horas, quando for noite, eu lhe
ensinarei a maneira de sair. Quando vierem trazer o jantar,
você verá...
O tempo deslizou lenta e penosamente. Em posição
alguma conseguiam um pouco de conforto. A umidade que
subia do chão lhes penetrava na pele. Tinham de ficar nas
pontas dos pés, para que o barro não lhes cobrisse os
tornozelos. E do outro lado das grades os dois soldados
passeavam na penumbra com seus fuzis ameaçadores bem à
mostra, como se anunciassem a morte. Quem podia dizer
que as balas daquelas mesmas armas não trariam dali a
horas, a morte deles?
Às tantas, Arnald falou:
— Que horas serão?
— Oito ou nove da noite. Logo virão trazer o jantar.
Vamos! Pode escolher entre dois pratos: água com pão
velho molhado, ou pão molhado na água.
— Magnífico! — retrucou Payne, divertido com o
anúncio do cardápio.
Alguns minutos mais tarde, chegou o carcereiro. Fez
girar a chave e entrou; fechou de novo, enquanto os
soldados da guarda introduziam os canos dos fuzis pelos
vãos da porta. Os policiais, entretanto, não perceberam que
Payne comprimia na mão direita uma pequenina bola do
tamanho de um feijão.
O carcereiro deixou a comida e apressou-se a sair,
abrindo novamente a porta.
Aquele era o momento. Às escondidas, o agente atirou a
bolinha contra os soldados do corredor. Ouviu-se um estalo
mínimo, quase o ruído de uma garrafa sendo aberta.
Foi como mágica: um dos soldados levou a mão ao
nariz, tentando tapá-lo; o mesmo fez, de imediato, o outro.
O carcereiro agarrou-se às barras da porta, e foi caindo
devagar. Os fuzis escaparam das mãos dos guardas, que
também caiam e mostravam sinais de intoxicação.
Payne usara um gás muito sutil, mas forte bastante para
deixar inconscientes os três homens. A estranha operação
não havia durado mais que alguns segundos. E, enquanto se
passava a cena dentro da cela os dois prisioneiros engoliam
pílulas.
Saíram para o corredor.
— Viu como foi fácil, Ruizi? — Payne sorria. — Se
você não tivesse ingerido aquele comprimido, também
estaria inconsciente.
— É maravilhoso! — sussurrou Ben Ruizi. — Mas, de
onde você tirou as pílulas e a bolinha?
— Depois lhe explicarei. Agora, precisamos sair. Tire a
roupa de um soldado, que eu cuido do outro.
A farda era pequena demais para o agente. Ficou
ridículo, aquele grandalhão. Parecia um menino metido em
calças curtíssimas e com as mangas pouco abaixo dos
cotovelos.
Apanharam os fuzis e os revólveres, apresentando-se
para enfrentar a guarda, pois era impossível que o
“meninão” de quase dois metros passasse despercebido em
frente dos policiais.
— Vai ser preciso empregar a violência — advertiu
Ruizi. — Se você fosse mais baixo, talvez pudéssemos
passar sem atropelos, mas... — olhou pensativamente o
corredor, de cuja primeira curva vinha uma luz mais forte.
— Fique aqui — disse.
— Que é que vai fazer?
— Matarei os soldados à espada — respondeu Ruizi. —
Não podemos disparar, não é? Com o sabre é melhor.
Payne concordou:
— Bem, bem... Vá você na frente, então.
Ruizi, fardado, adiantou-se uns passos. Viu logo o
primeiro guarda. Este também o notou, mas o prisioneiro
parecia realmente ser um soldado, dentro da farda.
Aproximou-se naturalmente do guarda. Logo que o
alcançou, enfiou-lhe o sabre no ventre. No mesmo instante
sua outra mão fechava a boca, dentro da qual transformou-
se em gemido o grito a ser expelido.
Continuando a cautelosa caminhada para fora e seguido
a distância pelo agente, o persa repetiu mais adiante, com
outro policial, a operação silenciosa e eficiente.
O corredor era só curvas, e os soldados ficavam
convenientemente separados, invisíveis uns para os outros.
Além disso, as lâmpadas muito espaçadas aclaravam pouco,
iluminando parcamente e apenas de trecho em trecho.
Quando o ventre do quarto guarda abriu-se pela ação do
sabre de Ruizi, este chamou Payne:
— Aqui está a solução — murmurou o árabe. — Este
soldado é quase da sua altura. Troque a farda.
Frio como um verdadeiro oriental, ele ria do agente que
se atrapalhava em desabotoar as roupas apertadas.
Em um minuto, Payne já parecia um robusto soldado
persa.
Seguiram juntos, agora, andando despreocupadamente.
Passaram por duas sentinelas.
— Já vão? — indagou um.
— O sargento disse para subirmos depois da ceia dos
prisioneiros — respondeu Ruizi.
Subiram as escadas. No topo estava a porta que abria
para os aposentos da guarda. O árabe bateu com força,
como se fosse um ato natural de um soldado impaciente por
descansar.
— Ouviram-se ruídos de ferrolhos, alguém abriu a porta,
perguntando:
— Por que vieram?
— Ordens do sargento.
A resposta surpreendeu o guardião do alojamento, pois o
superior nada lhe dissera sobre aquilo. Por isso ainda os
observou atentamente e... — Levantem as mãos! — gritou,
apontando-lhes rapidamente um revólver. — Quem são
vocês?
— Somos novos. Entramos em serviço na noite passada.
— Mentira! Ninguém chegou aqui desde um mês atrás.
Conheço toda a companhia. Vamos andando em direção do
escritório do coronel. Vamos!
A situação se complicara. Era preciso agir depressa, e
sem que o guarda pudesse apertar o gatilho.
— Você parece idiota, meu amigo — disse Payne,
ofendido. — Somos do regimento de Agha Sari.
— Não conheço vocês. E chega! — retrucou o policial,
indicando uma porta. — Vamos em frente!
O soldado mantinha-se cuidadosamente fora de alcance.
À menor resistência, daria ao gatilho; assim sendo, não
puderam fazer nada no primeiro instante.
Chegaram logo à porta do gabinete do coronel. Um
ordenança atendeu.
— Quero ver o coronel. É urgente — disse o guarda.
O ordenança foi transmitir a mensagem, e logo voltou:
— Podem entrar — disse, abrindo a porta e olhando sem
compreender para o companheiro que empunhava a arma.
Mas, supondo que aquilo fosse um caso de disciplina, não
se importou.
— Adiante — disse o coronel, sentado à escrivaninha.
O comandante estava escrevendo. Não levantara logo a
cabeça. E quando o fez, ao ouvir um ruído seco, era tarde
demais: o guarda que trouxera os dois fugitivos se distraíra
por um instante, o que permitiu ao agente do OSS lhe
assestar com forte soco na nuca.
— Que está acontecendo? Alto! — gritou o coronel. E,
como se repentinamente percebesse o ocorrido, a
perplexidade tomou conta de seu rosto, mas num instante
retomou o sangue-frio de militar calejado.
Payne aproximou-se, revólver na mão. O coronel
olhava-o autoritariamente:
— Voltem para a cela. Ninguém sairá daqui — disse,
apertando os punhos para conter a raiva.
— Nós sairemos — respondeu calmamente o agente
secreto grandalhão, enquanto apontava o revólver
diretamente ao peito do baixo e gordo oficial.
— Não permitirei!
— Logo verá quanto está enganado. Levante-se: Você
vai nos acompanhar, e sem demora. À menor suspeita, atiro.
Os olhos vermelhos de fúria, o coronel negou-se a
acompanhá-los.
— Prefiro morrer. Um militar nunca ajuda assassinos a
fugir.
— Então, se quer tanto a morte, vai tê-la — exclamou
Ruizi, desembainhando o sabre ensanguentado.
O americano não pôde conter o companheiro de fuga.
Num relâmpago, Ruizi fizera com que a lâmina se
embebesse até a metade do abdome do coronel. Quando
Payne o alcançou, já o militar se debruçava, caindo ao chão.
— Não devia ter feito isso Ahmed! — reprovou O
agente. — Você estragou meu plano.
— A negativa dele me enervou.
No escritório havia agora dois corpos. Mas o coronel
não morrera ainda: quando os fugitivos fecharam a porta,
ele se arrastou penosamente, tentando alcançar uma
baioneta. Faltavam-lhe as forças. Sua vida se esvaia com o
sangue que escapava em borbotões da ferida no ventre. A
vista se lhe nublava. Então, num último gesto, agarrou o
revólver que Payne deixara nas mãos do soldado
desfalecido, e disparou. Foram dois, três, quatro tiros. E
depois, tentando ainda gritar, imobilizou-se ante a chegada
da morte.
Um grupo de soldados veio às pressas. Deu-se o alarma.
Alguns guardas abandonaram os postos, atraídos pelos
disparos.
— Assassino!
— Assassinaram o coronel!
A terrível notícia propagou-se com rapidez, provocando
um corre-corre inusitado no edifício. Vários oficiais
chegaram ao escritório.
— Quem fez isto? — indagou o capitão, os olhos
chamejando.
Ninguém soube dizer. Um tenente, no entanto, ousou
responder:
— Talvez algum prisioneiro que estivesse interrogando
tenha fugido.
— Acompanhem-me! — ordenou o capitão, tomando a
direção das masmorras.
No princípio do corredor, dois guardas apresentaram
armas:
— Saiu alguém por aqui?
— Ninguém, capitão.
Seguindo adiante, o grupo se horrorizou ao encontrar
uma sentinela nua, em cujo dorso uma brecha vermelha se
abria. Dez passos além, a mesma cena.
Compreendendo, finalmente, o que ocorrera, o capitão
correu à cela dos condenados à morte, ali encontrando os
dois guardas e o carcereiro dormindo a bom dormir, ainda
sob o efeito do gás, babando e roncando copiosamente.
Uma batida imediata nos arredores da prisão resultou
infrutífera. Os fugitivos tinham aproveitado a confusão
generalizada. Ninguém lhes barrara a saída.
Arnald Payne e Ahmed Ben Ruizi estavam agora já bem
seguros numa casa da cidade. O primeiro objetivo fora
cumprido; a parte mais fácil, por assim dizer. A partir
daquele momento, o agente Payne, da Divisão de Choque
da CIA, tinha de enfrentar inimigos que trabalhavam na
sombra, gente que matava tecnicamente e com absoluta
falta de escrúpulos. Agora ele entrava no terreno da alta
espionagem, tendo que lutar contra profissionais de outras
grandes potências, luta fria e calculada, sem descanso.
O petróleo persa estava em perigo! As jazidas mais ricas
do mundo, que a Rússia, a França, a Inglaterra e os Estados
Unidos cobiçavam! O produto que movimentava os motores
da Royal Navy, da esquadra, dos tanques e aviões dos
países e da poderosa NATO, a Aliança Atlântica.
CAPITULO SEGUNDO
A serviço do inimigo
O bem jogador sabe blefar
Um império petrolífero é a sucursal do inferno
Arnald Payne respirou fundo, enchendo o peito largo.
Depois falou secamente:
— Vim porque também sou um idealista.
— Resposta que não diz nada — cortou, áspero, o chefe
do “Fedeiyan”. — Procure outra que faça mais sentido.
— Sou da KPA.
— Também nisso não acredito.
— Então, que quer que eu responda?
— Que você é da Central Intelligence Agency dos
Estados Unidos. É isso que eu quero que você confesse.
Os lábios de Payne se alargaram num riso divertido. Ao
lado dele estava Ruizi. Em sua frente, sentado numa cadeira
giratória, mostrando uma brilhante careca, olhos
chamejantes e grossas sobrancelhas pretas, destacava-se o
enorme Batal El Juri, chefe supremo da organização
“Fedeiyan”.
— Você deve estar querendo brincar — falou Payne,
rindo. — Eu da CIA! Seja sensato, amigo! Por que havia eu
de ser da CIA?
— Estou absolutamente certo de que há cinco dias atrás
chegou a esta cidade um agente americano.
— E por que hei de ser eu esse agente? Procure em outro
lugar. Pode ser o correspondente do “New York Times”, o
missionário que faz sermão nas esquinas... Pode ser até — e
ele deu uma gargalhada — pode ser até Ben Ruizi!
— Não seja engraçadinho — disse El Juri.
O homem parecia falar sem abrir a boca, entredentes, e
no entanto as palavras saiam claras, como uma voz de
comando.
— Você pode ser de qualquer organização — continuou
El Juri — mas nunca do KPA.
Arnald anotou mentalmente a declaração do homem. Era
importantíssima, pois dela se podia deduzir que o KPA
atuava em comum com o “Fedeiyan”.
— Não sou do KPA nem de qualquer outra, vá lá —
disse por fim.
— Que veio fazer aqui?
— É um aventureiro — interveio Ruizi.
— Sim, eu sou um aventureiro — concordou o agente.
— Vim à Pérsia para ganhar dinheiro, pondo-me a serviço
de sua organização. Meu primeiro trabalho me recomenda,
não? Espero ganhar muitos esterlinos por meus serviços.
— Quanto?
— Por agora, nada. Quando eu fizer outros, vocês me
pagarão segundo a importância de cada caso.
— Estou disposto a considerar isso. Amanhã lhe
responderei.
Estavam refugiados numa casa particular, que pertencia
a um membro do “Fedeiyan”. Ruizi tinha sido o contato
natural para chegar ao chefe da organização.
Ali permaneceram dois dias. Através das janelas, e
escondidos atrás das cortinas, os dois fugitivos viam o
movimento das ruas. O estado de alerta e a lei marcial
continuavam a ser observados em todo o país; motins e
manifestações se sucediam; e em meio disso os revoltosos
faziam pouco caso das ameaças e dos tiros, continuando a
hostilizar as forças armadas.
Batal El Juri voltou no segundo dia, acompanhado de
outro homem. Era este de altura mediana, robusto e de
feições evidentemente caucasianas. Teria seus quarenta
anos e vestia roupa azul.
Payne viu-se veementemente interrogado. Faziam-lhe
perguntas aparentemente absurdas, mas que tinham relações
com a espionagem mundial. O homem era esperto,
insinuante como poucos na arte de interrogar. Mas Payne,
convenientemente treinado na escola especial de
Washington, não lhe ficava atrás em manha. Respondeu h
saraivada de perguntas sem se deixar descobrir na mínima
contradição.
— Está bem, vamos aceitar sua cooperação — concluiu
o interrogador, apresentando-se: — Sou Manneliski.
Quando terminar o trabalho que lhe vamos dar, você
receberá uma bela quantia.
— Que devo fazer? — quis saber Payne.
— Não seja impaciente. Daqui a algumas horas vai
saber.
A noite começava a descer sobre a cidade quando Payne,
olhando pela janela, viu que um automóvel estacionava
diante do prédio. “Van guard” inglês, de cor preta.
— Venham comigo — ordenou o homem que desceu do
carro e foi bater à porta do quarto. — Manneliski mandou
buscá-los.
— Nós dois?
— Os dois, é claro.
Ben Ruizi os seguiu pela escada. O motorista abriu a
porta do carro, cujo interior mantinha-se em penumbra.
Entraram, encontrando lá outro homem, que Ruizi logo
reconheceu:
— Como?! Você, Abdul? Pensei que estivesse no
Azerbaidjão! — e, apresentando-o ao agente da CIA: —
Este é Abdul, do “Tudeh”.
— Muito prazer — disse Payne apertando a mão de
Abdul, enquanto procurava achar qual seria a ligação entre
o “Tudeh” e o “Fedeiyan”. concluindo que certamente as
duas organizações trabalhavam para uma potência
estrangeira e inimiga secreta dos Estados Unidos.
Abdul apertou um botão. Espessas cortinas cerraram
automática mente as janelas do carro. O interior tomou-se
completamente escuro.
— Posso fumar? — indagou o agente secreto.
— Sim, mas esconda o cigarro.
O automóvel saiu da cidade, seguindo por uma estrada
asfaltada.
— Para onde vamos? — perguntou Ruizi.
— Esta estrada leva a Abadan.
— Abadan? — exclamou Payne. Mentalmente indagava-
se o que haveria de importante a fazer em Abadan.
Mas Ruizi também pensava nisso. Perguntou:
— Que vamos fazer lá?
— Qualquer coisa, menos jogar pôquer — disse Abdul.
— Que pensa que faremos?
Foi Payne quem retrucou prontamente, antes que Ruizi
abrisse a boca:
— Estourar a refinaria?
— Estupenda intuição! — exclamou Abdul.
— Qualquer menino podia imaginar — disse Payne,
modesto. — Em Abadan só se pode fazer coisas assim
quando se tem a nossa profissão.
— Nossa? — estranhou Abdul.
— Minha. Acho que só eu sou aventureiro, aqui —
emendou Payne. — Vê-se logo que não vamos lá para nadar
nas piscinas dos europeus da Anglo-Iranian.
— Quanto tempo ficaremos lá? — quis saber Ruizi.
— Depende das circunstâncias — falou Abdul, que
fumava ocultando a ponta acesa do cigarro na mão em
concha. — Talvez tenhamos de ficar uma semana. Depende.
***
Era noite alta quando chegaram à cidade, situada à
margem do Golfo Pérsico. Instalaram-se numa casa que não
atraía a atenção.
De manhã, três personagens muito agradáveis os
visitaram. Um deles era especialmente simpático: mulher e
mulher bonita, raridade da Pérsia, estímulo às ideias dos
estetas.
Teria seus vinte e cinco anos, olhos negros levemente
rasgados, refletindo uma vivacidade felina. Payne se
encantou. Sobre o corpo esbelto trazia ela um vaporoso
vestido estampado com grandes rosas, e na cabeça um
chapéu de abas largas a ocultar quase toda a cabeleira ruiva.
— Nunca pensei que a Pérsia pudesse reter semelhante
beleza — galanteou o americano. — Bem, quero dizer:
mulher tão deslumbrante, tão... bem construída...
— Nem tanto — retrucou ela, secamente.
Por aquelas duas palavras, Payne deduziu que Sônia —
assim se chamava — não era persa, mas europeia. A
pronúncia revelava uma origem nórdica. Alemã, talvez. Ou
escandinava.
Os três visitantes constituíam a vanguarda da
espionagem oriental em Abadan. Sônia, pela maneira
autoritária de falar, revelava-se chefe. E procedia como tal,
não dando maior atenção as opiniões de seus companheiros.
Destes, um se vestia bem, um pouco afeminado talvez. Era
Atamek.
— Você é o novo elemento do “Fedeiyan"? —
perguntou a Payne.
— Sou.
— Pois tenho um trabalho a seu gosto. Soubemos que é
especializado em fugas.
— Não sou especialista em nada — gracejou o agente.
— Pode-se dizer que tenho entusiasmo por aventuras, nada
mais. E gosto das Fugas de Bach...
Sônia não deixava de observá-lo com olhos penetrantes,
como se quisesse varar seu íntimo. Tentava descobrir um
ponto fraco, adivinhar virtudes ou defeitos.
— Explique de uma vez, Atamek — falou ela daquela
maneira característica, seca.
Atamek tossiu de leve, como se estivesse doente. Payne
chegou a perguntar-se se não era uma contradição aquele
mocinho frágil pertencer a uma organização dedicada a
violências.
— Esta semana iremos às refinarias da Anglo-Iranian
Oil Company, sabia?
— Já fomos informados.
— Bem, bem. Mas o que você não sabe e deve saber
agora, é que a organização decidiu incumbi-lo de roubar os
planos que estão nas mãos da Anglo-Iranian.
— Que planos são esses? Gostaria de saber, já que vou
roubá-los.
— Entre nós, ninguém faz perguntas desta natureza —
interveio Sônia, os olhos muito belos lixos nos de Payne,
que os sustentou.
— Sou um caso especial, Sônia. Um aventureiro é
diferente de um fanático. Não faço nada às cegas. Sabendo
tudo o que devo saber, o perigo já é grande; não sabendo
nada, então...
O argumento não pareceu convencer a jovem, mas ela
não insistiu. Tinha percebido que o aventureiro não era fácil
de manejar.
— Pode falar, Atamek — disse, ao fim de um minuto.
— De qualquer maneira, ele terá de saber.
— A coisa é simples, simples — começou o janota
amaneirado, tão suave que não se sabia se falava sério ou
brincava. — Trata-se de entrar no escritório do diretor da
companhia e surrupiar do cofre os projetos e plantas de um
novo oleoduto que estão construindo.
— Parece que é subterrâneo — disse o secundo homem
que chegara com Sônia, um cinquentão que até aquele
momento se conservara mudo, passeando no aposento. —
Há um boato, talvez fantástico, de que o oleoduto
atravessará o mar, levando o petróleo até o território turco.
— Penso que não é tão fantástico assim. Seria, na
verdade, uma obra prodigiosa de engenharia— observou
Payne. — A técnica inglesa é extraordinária...
— No lugar de “inglesa”, diga “americana” — atalhou
Sônia.
— Que têm os americanos a ver com o petróleo persa?
— admirou-se ele.
— Vejo que não está bem informado. Leia isto — e a
mulher lhe entregou um recorte de jornal.
“Os Estados Unidos vão ajudar a resguardar os
interesses da Grã-Bretanha no Golfo Pérsico” — dizia o
jornal europeu. — “Desapareceu a competição econômica
entre os trustes petrolíferos ingleses e ianques, tendo-se
realizado uma aliança política para dividir as zonas de
extração ainda não exploradas. A Standard Oil e a Socony
americanas são agora acionistas da Irak Petroleum. As
jazidas do Kuwait serão exploradas em comum, além do
que o Almirantado britânico já consentiu em ceder parte da
produção da Anglo-Iranian.
— Quem pode estar certo de que isto é verdade? Talvez
seja apenas uma suposição de jornal.
— Não tem nada de suposto. Você vai hoje mesmo para
lá — replicou Sônia, com um tom que não admitia
discussão.
Os três logo saíram, deixando um embrulhe sobre a
mesa.
Ruizi abriu o pacote:
— É um uniforme de trabalhador da Anglo-Iranian —
disse, e atirou-o para o americano, depois de verificar seu
tamanho avantajado.
— Vou vesti-lo.
Às primeiras horas da tarde, um novo empregado da
Anglo-Iranian, alto como um poste, com uma ficha de
identidade no bolso, deixava aquela casa e caminhava pelas
ruas de Abadan. Chegando às instalações da companhia,
que cobrem todos os arredores da cidade, ele apresentou a
caderneta aos guardas de um portão. Olharam-no bem,
comparando-o com a fotografia que ele próprio havia
pregado habilmente à caderneta falsificada, e permitiram
que entrasse.
Dezenas e dezenas de quilômetros de arame farpado
cercavam as instalações da Anglo-Iranian, impedindo a
entrada de estranhos. A cada centena de metros havia
soldados de sentinela, o que fazia quase impossível atingir-
se as dependências da refinaria.
Payne, lá dentro, deu uma olhadela à planta que levara
consigo. Não queria perguntar a ninguém onde era o
escritório, pois poderia despertar suspeitas. Andou
longamente, observando a cidade dos empregados. Parecia
uma vila muito limpa e bem planejada, embora as
numerosas chaminés da refinaria lançassem continuamente
sua fumaça negra sobre o lugar. Pôde ver também que,
perto um do outro, fora instalado o que de mais moderno
havia para extinção de incêndios.
Prosseguindo a caminhada, atento, o agente-operário
tirou um cigarro do bolso. Mas, quando o ia acender,
alguém se aproximou rapidamente:
— Que vai fazer? Está louco? Apague o fósforo!
Payne quis aproveitar, de imediato, a situação:
— Deixe-me em paz!
O homem não respondeu. Em vez disso, mandou-lhe
uma bofetada, derrubando o cigarro e apagando-o com o pé.
Payne não reagiu.
— Em Abadan é um crime fumar — disse o outro. —
Uma brasinha qualquer pode começar o mais terrível
incêndio. Se você quer fumar, vá a uma sala apropriada. Há
muitas espalhadas por aí.
— Desculpe. Eu acabo de me empregar aqui. Esqueci
por um momento as instruções que me deram.
— Pois convém que se lembre sempre da proibição de
fumar.
Sozinho novamente, caminhou até um edifício de tijolos
aparentes. Um letreiro indicava ser ali o escritório central da
companhia,
Payne entrou. No mesmo Instante, um homem barrou
seus passos. O agente lhe mostrou a identidade, com o que
foi liberado. Prosseguiu, deixando lá fora a tarde lenta e
quente.
No primeiro andar se encontrava o gabinete do
engenheiro-chefe. Muitos auxiliares cruzavam, pelos
corredores, levando ou trazendo papéis.
Um deles notou a presença do americano:
— O que deseja o senhor?
— Tenho uma entrevista com o diretor.
— Com o chefe? — estranhou o outro. — Mr Pawlew só
concede entrevistas de manhã.
— Entretanto, eu quero falar com ele. Diga que é
urgente.
— Tentarei. Como é seu nome, senhor?
— Diga que é urgente — Insistiu Payne, sem identificar-
se.
O homem entrou, saindo ao fim de poucos segundos
acompanhado por um moço alto e magro com óculos de
lentes e aro espessos. O aspecto era precisamente o de um
fiel súdito de Sua Majestade Britânica.
— Sou o secretário de Mr. Pawlew — anunciou o moço,
que trazia nas mãos papel e uma caneta. — diga-me o que
deseja, e eu comunicarei ao senhor diretor.
— É impossível. Preciso falar pessoalmente com ele.
— O senhor diretor só recebe visitas previamente
marcadas.
Houve entre eles uma discussão em que Payne pôs a
funcionar toda a sua capacidade de persuasão. A negativa
de dar seu nome, bem como a impaciência que
demonstrava, fizeram com que o secretário finalmente
imaginasse tratar-se de algo muito sério e secreto.
— Espere um momento. Falarei com Mr. Pawlew —
concordou por fim.
Entrou e regressou instantes depois, deixando a porta
aberta.
— Faça o favor de entrar, senhor — disse, indicando a
porta.
O moço conduziu Payne por um longo corredor entre os
escritórios, em direção de uma ampla porta.
Arnald Payne encontrou-se frente a frente com um
homem quarentão. Detrás das lentes de uns óculos
elegantes, dois olhos azuis o estudavam detidamente. Os
gestos eram simples e graves ao mesmo tempo:
— Deixe-nos a sós, Alex — disse ao secretário, que saiu
imediatamente.
— Obrigado por me receber, Mr. Pawlew.
— Recebo sempre as pessoas que me vêm contar coisas
interessantes — respondeu o inglês em um tom de voz que,
apesar das aparências, não era de brincadeira.
— Então, o que vou dizer vai deixá-lo entusiasmado.
— Fale — exigiu o engenheiro.
O agente Arnald Payne achou melhor não revelar sua
verdadeira identidade. Não que duvidasse da discrição do
diretor, a quem vinha prestar um grande favor. É que sua
missão era secreta demais, e revelar sua vinculação ao OSS
seria uma traição aos ideais que defendia.
Payne falou durante vinte minutos sem parar. Pawlew
ouvia atentamente, e seu rosto sereno anuviava-se à medida
que as palavras do agente descreviam o caso. Para o diretor,
notava-se, o assunto era sumamente grave e
comprometedor.
— E isto é tudo — concluiu Payne, acabando de expor
os motivos de sua visita.
Pawlew alisou o queixo, em dúvida. Cravou os olhos no
americano, como se quisesse ver seus pensamentos mais
íntimos. Permaneceu estudando dessa maneira o visitante.
Os minutos passavam em silêncio.
— Posso fumar? — indagou Payne, sorrindo e
apanhando um cigarro.
O engenheiro fez que sim.
— E como posso saber que tudo o que me expôs é
verdade? — perguntou, limpando os óculos com um lenço
finíssimo. — Quais são as suas credenciais?
— O senhor não tem remédio senão acreditar em mim
— disse Payne. — Minhas credenciais não importam. Sou
norte-americano, embora não tenha passaporte. E meu
interesse em que o petróleo do Oriente Médio fique a
serviço dos ocidentais é tão grande quanto o seu. É
absolutamente necessário que seja assim. Além do mais,
preciso dos planos e plantas dentro de três horas. É claro
que serão falsos. Poderão ser feitos nesse prazo?
— Você pertence à espionagem dos Estados Unidos? —
perguntou o diretor, sorrindo levemente.
— É uma pergunta ingênua, não acha? Se não faz
questão, deixarei de respondê-la.
— Está bem, não responda. Já resolvi.
— Resolveu em que sentido?
— Já verá.
O engenheiro-chefe fez soar várias campainhas. Em
poucos segundos o escritório se povoou de técnicos:
— Tenho urgente necessidade de um mapa da região de
Gach Seran. Vamos estender, de lá a Abadan, um oleoduto
duplo, que deve ter as mesmas características daquele que
estamos construindo. Façam os mapas imediatamente.
À meia-noite daquele dia, Arnald Payne tinha nas mãos
os papéis que Sônia Lhe encomendara. Não eram os
mesmos de que ela necessitava, pois se diferenciavam em
multa coisa dos que Mr. Pawlew guardava no cofre da
Anglo-Iranian. Eram projetos de um oleoduto inexistente,
mas muito bem traçados e realizados segundo a lógica, e os
elementos do “Fedeiyan” somente se dariam conta do logro
uma semana depois. Pelo menos, isso era o que esperava o
agente. E durante esse tempo, as mãos da CIA, isto é, as de
Arnald Payne, teriam mexido os pauzinhos, armando o caso
como convinha aos ocidentais.
Passou a noite num hotel, na própria cidade rodeada de
instalações petrolíferas. Na manhã seguinte saiu
calmamente, mostrando sua caderneta de empregado aos
guardas do portão e despedindo-se da cerca de arame
farpado.
Ruizi atendeu-o, fixando os olhos na pasta que carregava
sob um braço:
— Conseguiu?
— Sim.
— Isto me alegra. Estão esperando por você.
No outro aposento, Sônia Lubriski e seus dois comparsas
estavam sentados à vontade num divã.
— Cumpriu a missão? — indagou ela, com a secura
habitual nas palavras, sempre concisas e duras.
— Tome — respondeu apenas Payne, como se a
aspereza dela o tivesse contagiado.
A jovem abriu a pasta. Estendeu o mapa sobre a mesa e
estudou-o atentamente, o mesmo fazendo seus ajudantes. O
belo rosto da mulher contraiu-se, e num instante ela
mostrava extrema contrariedade. Não disse uma palavra.
Payne a observava, mas não supunha que pudesse agir
com tal rapidez e agressividade.
Sônia meteu a mão no bolso do casaco, tirando um
objeto metálico. Payne foi apanhado de surpresa.
— Embusteiro! — gritou ela.
Disparou por duas vezes. As balas atingira o agente, que
tombou em silêncio e se contorcendo.
— Que fez você? — gritou Ruizi, não compreendendo a
cena. — Por que...
— Ele quis enganar-nos — disse Sônia, ainda apontando
a arma, disposta a dar outra vez ao gatilho. Trouxe um
projeto feito há poucas horas. A tinta está fresca, e o papel
nunca foi manuseado. Ele nos traiu!
— É impossível! — protestou Ruizi que, lembrando o
que Payne fizera por ele, não entendia por que agora o
tachavam de traidor. — Como sabe que o projeto é falso?
— O projeto do oleoduto em construção é antigo e está
queimado num canto. Foi traçado em 1948 e pastou por
mais de cem mãos. Quando o Ministro do Exterior britânico
o examinou deixou cair o charuto sobre o papel e o deixou
marcado por uma queimadura. Está claro?
— Que quer dizer? — exclamou Ruizi. — Está
pensando que ele pertence ao serviço secreto inglês?
— Talvez sim, talvez não. Logo veremos. Veja se as
feridas são mortais.
O agente fora atingido no braço esquerdo e no peito.
Conservava os olhos fechados, e o sangue já se coagulava
nos ladrilhos.
— Se quisermos livrá-lo da morte temos fazer uma
transfusão de sangue — disse Rui examinando-o — Assim
talvez tenha forças para explicar o que aconteceu.
— Não há tempo — replicou Sônia. — Já sabemos que é
um traidor. Vamos embora!
Deixaram a casa, embarcando num “Vanguard”. Ruizi,
sem querer, esbarrou o pé numa caixa.
— Cuidado! — disse Atamek. — É dinamite.
O cano pôs-se em marcha, deixando aquela rua onde,
dentro de uma bela casa, um homem agonizava. Só um
milagre poderia salvar o agente Arnald Payne, que pagava
assim, esvaindo-se em sangue, a imprudência de não ter
estudado as condições em que se encontrava o projeto
autêntico.
***
Sônia e seus companheiros agiram com precisão
automática. Em Abadan havia uma greve dos empregados
em apoio da decisão do Parlamento, que promulgara a lei de
nacionalização da indústria petrolífera. A jovem soube
aproveitar aqueles momentos de vacilação: era a hora
apropriada ao surgimento de manifestações de rua, pois
havia muito seus sequazes mantinham ligações com os
dirigentes dos sindicatos.
Ao meio-dia, chegaram a um lugar deserto, uns trinta
quilômetros ao sul da cidade. De um galpão surgiram vários
homens.
— Preparamos tudo, senhorita — disse um indivíduo de
óculos escuros, de blusão de couro e calças largas. Era um
aviador, a julgar-se pelas roupas.
— Está certo. A dinamite está no carro. Não creio que
precisem de mais instruções.
Perto do galpão havia um pequeno bosque; e lá, entre as
árvores, um helicóptero que os homens trouxeram a céu
aberto, pondo-o em condições de voar. Então, o aviador,
Sônia, Ruizi, Atamek e o outro subordinado da espiã
subiram a bordo. Os demais ficaram em terra.
Sônia olhou o relógio.
— Daqui a quarenta e cinco minutos, acendam o pavio
— disse aos que ficavam. — Cada um deve estar no lugar
combinado. E é importante que todos ajam ao mesmo
tempo.
O piloto movimentou o aparelho. Sônia continuava a
falar aos terroristas:
— Atenção! Acertem os relógios! — gritou para fazer-se
ouvir. — São 2 e 13! Às 2 e 32 em ponto vocês acenderão
as mechas! Boa sorte
O helicóptero se elevou. Fez uma grande volta rumando
para o norte.
Os cinco homens seguiram-no com os olhos até perder-
se de vista. Então entraram no “Vanguard” e, seguindo pela
estrada de Abadar, deram velocidade ao veículo para que
pudessem chegar à hora combinada.
Deixando o carro perto da cidade, partiram dali em
direções diversas, levando cada um uma pequena maleta.
Junto aos portões da imensa refinaria exibiram aos guardas
suas identidades, entrando no reduto.
Às 14 horas e 58 minutos, quatro explosões simultâneas
sacudiram as instalações da refinaria. O quinto homem não
pôde detonar sua bomba, pois foi seguido por um policial
que suspeitou de seus movimentos em direção dos depósitos
das margens do rio Shatt El Arab. Quando se dispunha a
acender o pavio num depósito à margem do rio Shatt El
Arab, foi abordado pelo guarda, aos gritos e de arma em
punho:
— Que está fazendo aqui? Pare!
O sabotador respondeu imediatamente, mas não com
palavras. Em sua mão subitamente apareceu uma arma que
disparou, não acertando. O policiai pôde esconder-se atrás
de um bloco de cimento, respondendo ao fogo. O terrorista
caiu as mãos apertando o abdômen, o rosto contraído
violentamente pela dor.
Mas o guarda não teve tempo de aproximar-se, pois
naquele instante quatro explosões repentinas fizeram elevar-
se nuvens vermelhas e negras. Aos céus de Abadan. As
chamas tomaram conta de pontos estratégicos, iluminando a
paisagem com suas tintas de tragédia. E um segundo depois
um estrondo espantoso se produziu lançando o policial para
cima, e fazendo-o cair a dez metros de distância.
O pânico dominou os habitantes de Abadan. As cenas de
espanto e incredulidade repetiram-se durante horas. Meia
dúzia de grandes depósitos explodiram em série, atingidos
pelo calor, e os destacamentos especiais de bombeiros
puseram-se a combater freneticamente os incêndios. Não
houve descanso para os extintores, que não conseguiam
impedir o avanço das chamas indomáveis até os maiores
depósitos. As colunas de fumaça negra ocultavam o céu,
cobrindo a cidade com uma noite dantesca; o esplendor da
fornalha tinha reflexos de morte e desolação. Os habitantes,
espavoridos, estupefatos, fugiam desordenadamente; outros
imobilizavam-se pelo terror.
Uma gigantesca língua de fogo alcançou o oitavo
depósito, o maior de todos. Então a cena foi apocalíptica.
Destroços de cimento e ferro voaram como penas. Uma
enorme onda de petróleo em chamas se esparramou pelas
ruas, esguichando sobre as casas, atingindo pessoas. Toda a
cidade se inflamou. O depósito número oito desaparecera
numa passe de mágica, e em seu lugar se instalou o centro
do inferno. Os tubos de um oleoduto despejavam em
abundância o alimento das chamas que, sequiosas, o
devoravam rugindo.
Aquele dia não teve igual em horrores na turbulenta
história do petróleo persa, tão cobiçado pelas grandes
potências para a garantia de sua supremacia mundial.
Abadan tornou-se em cinza. Os mortos se contaram pelas
centenas. Os casos de loucura não foram poucos, e milhares
de flagelados abandonaram a Pérsia como se aquela terra
tivesse sido amaldiçoada.
***
Somente dois dias depois o incêndio foi dominado. A
cidade era uma só ruína desolada. Aqui e ali aparecia ainda
uma casa quase intacta, em bora enegrecida. O céu,
saturado de fumaça, perdera sua cor azul. E o silêncio caía
sobre Abadan. O silêncio impressionante era de quando era
em vez quebrado pelos soluços de uma mulher que havia
perdido o marido, de uma outra cujos filhos haviam
perecido. E a tudo dominava uma amargura infinita.
Depois, a reconstrução foi iniciada. A companhia
perdera perto de um bilhão de esterlinos com o desastre,
mas destinou igual quantia para refazer o que os incêndios e
as explosões tinham destruído.
Abadan, cheia de homens trabalhando, ressuscitava das
próprias cinzas.
CAPÍTULO TERCEIRO
Uma cidade e um homem revivem a lenda da Fênix
Cena pouco idílica num velho moinho do campo
A jovem mais linda do mundo...
Quinze dias depois da destruição, um homem alto e
desengonçado, que trazia um braço pendente por um lenço
ao pescoço, entrava em uma residência do bairro mais
elegante de Teerã onde manteve uma longa entrevista com
um personagem esquisito. O homem desengonçado e ferido
era Arnald Payne, e seu interlocutor era o agente que a CIA
lhe revelara ser o elemento de ligação entre os agentes
destacados no Oriente Médio. Esse homem era “o Cônsul”,
apelido que lhe dera a CIA, e tinha posição de destaque
como alto funcionário do Ministério do Exterior persa.
Hassan Alá parecia ter seus quarenta anos. Vestia-se
como um ocidental. Por seus modos suaves e impecável
pronúncia do inglês, via-se que vivera muito tempo no
ocidente europeu. Causou uma impressão indefinível,
estranha, no agente, que se perguntou intimamente em que
baseava o serviço de espionagem americano a confiança
naquele homem ambicioso.
— Soube de suas aventuras no cárcere e em Abadan —
disse o persa, recebendo-o afavelmente. — Agora que o
caso está esfriando, posso dizer-lhe que fez mal em não se
apresentar a mim logo que chegou a Teerã. Eu lhe teria
preparado o caminho.
— Não tive tempo. Os fatos se sucederam muito
depressa, e eu não pude entrar em contato com você.
— Pois agora já sabe que estou à sua disposição. Faz
cinco anos que trabalho para seu país, e meus serviços têm
sido sempre de grande valor.
Conversaram durante longo tempo. O agente lhe
comunicou haver depositado no Banco Nacional uma certa
quantia, em paga da tarefa que o diplomata ia realizar.
Combinaram novo encontro para o dia seguinte.
Payne estava hospedado no Hotel Excelsior. Na portaria,
entregaram-lhe um telegrama de Ernest Pawlew, o
engenheiro-chefe da Anglo-Iranian Oil Company:
Depois do que aconteceu, Abadan adquire de
novo o ritmo de trabalho de antes. Faço votos de
que, como nossa cidade, esteja recuperado dos
ferimentos recebidos.
Arnald sorriu. Devia a vida a Ernest Pawlew. Se o inglês
não tivesse desconfiado imediatamente, e não tivesse
igualmente ordenado que um de seus homens o seguisse,
não estaria agora entre os vivos.
Pawlew quisera certificar-se de que Payne não o
enganava.
— Siga-o — ordenara a um ajudante — e comunique-se
comigo, logo que puder.
As onze horas da manhã em que Payne apresentara o
projeto a Sônia, o telefone do diretor tilintou:
— Estou num chalé, a nove quilômetros da estrada
principal. Payne foi assassinado.
— Está certo disso?
— Claro que estou! Tenho o corpo dele à minha frente!
— Fique aí e espere. Vou imediatamente.
Algum tempo depois, Pawlew chegava ao chalé, à cuja
porta seu ajudante acenava.
— Só posso dizer que uma mulher e três homens saíram
da casa e tomaram um “Vanguard” preto. Verifiquei que o
senhor Payne não morreu, mas seu estado é gravíssimo.
Tem uma bala no peito e outra no braço. Talvez uma
transfusão de sangue possa salvá-lo.
— Não podemos perder tempo! — exclamou o
engenheiro. — Vamos levá-lo ao doutor Anchilet, depressa!
O cirurgião fez um gesto pessimista, ao inspecionar o
corpo de Payne. Nu, fora estendido na mesa operações da
clínica, em Bumani, a alguns quilômetros de Abadan. O
médico examinou-o mais detidamente:
— No braço, foi insignificante, mas o ferimento no peito
é muito grave. Já não tem muito fôlego. Pode-se tentar uma
operação, mas sem muita esperança. Algum dos senhores é
parente dele? Preciso de seu consentimento para fazer uma
operação tão delicada.
— Não podemos esperar por um parente! — respondeu
Pawlew, imperativo. — Faça a operação, doutor!
— Muito bem. Um dos senhores pode doar sangue?
— Às ordens — replicou decididamente o diretor da
Anglo-Iranian.
Seu sangue foi analisado. Afortunadamente era do
mesmo grupo sanguíneo de Payne. E logo o engenheiro
ajudava a salvar o agente, deitado a seu lado e vendo seu
sangue transferir-se para a circulação do ferido.
Enquanto o doutor Anchilet metia o bisturi nos
ferimentos e com pulso seguro procurava o projétil,
cuidando para não tocar nos pontos vitais, várias explosões
longínquas fizeram tilintar os objetos da sala. Se a mão do
cirurgião houvesse tremido pelo susto, o americano teria
morrido instantaneamente. Mas não mudou sequer a
expressão do rosto, e por fim a bala que se encravara junto
ao coração de Payne fez um ruído seco ao cair numa
bandeja de metal.
O auxiliar de Pawlew, que olhava o horizonte através da
ampla janela, soltou um grito:
— Abadan está em chamas! Olhem!
Pawlew se desfez como pôde dos apetrechos de
transfusão, correndo para a saída. Subiu ao automóvel,
disparando pela estrada. Seu ajudante, embora também
corresse, não conseguiu acompanhá-lo.
E assim Arnald Payne, ao mesmo tempo em que Abadan
ardia, voltou do portal da morte. Quando o efeito da
anestesia passou, seus olhos se abriram. Viu Anchilet que
lhe fazia aspirar novamente o líquido volátil, para evitar que
um esforço reabrisse as feridas. Sentiu o vapor subir-lhe ao
cérebro como uma lâmina penetrante, ouviu palavras
incompreensíveis e...
Alguns dias mais tarde, recebeu a visita de Pawlew.
Sorriu muito satisfeito para o engenheiro. Soubera pelo
médico que lhe devia a vida.
— Muito obrigado, Mr. Pawlew — e estendeu a mão
para o visitante. — Não sei como pagar o que fez por mim.
— Isso não tem importância. O mal é que não pudemos
chegar a tempo de impedir a sabotagem.
— É — respondeu Payne, compadecido.
Estava recostado numa almofada. O ferimento do peito
já não era grave, cicatrizando rapidamente.
— Mas a partida ainda não está perdida — continuou. —
Ainda verei Sônia Lubriski.
— Sônia Lubriski? — espantou-se Pawlew. — Quem é?
— Uma mulher muito bonita, mas de coração tão frio e
calculista, que se torna difícil imaginar uma tal soma de
fatores — falou Payne, do olhos fechados, como se quisesse
recordar os mínimos traços fisionômicos da mulher. — É
ruiva, de olhos azuis, um belo corpo e um caráter
dominador. Magnífico exemplar talvez único na
espionagem mundial. Talvez vinte e cinco anos de idade,
mas com uma classe...
— Ela ordenou que disparassem sobre você?
— Por quê? Ela mesma tinha o revólver... Atira bem,
não há dúvida!
Mudaram de assunto. Pawlew falou sobre os trabalhos
de reconstrução de Abadan. Os técnicos ingleses
descarregavam no porto uma infinidade de materiais
necessários. A nova instalação dos depósitos e a reparação
dos oleodutos logo estariam terminadas.
— A propósito de oleodutos: você disse que Sônia
descobriu à primeira vista a falsificação das plantas. Como
foi isso?
— Parece que as verdadeiras foram feitas há anos, e as
que eu levei eram novas demais. A tinta ainda estava fresca.
Quando caí, pude ouvir Sônia dizer que um dos papéis
verdadeiros tem uma queimadura num canto. Parece que um
inglês deixou uma brasa de charuto sobre ele.
Pawlew pensava, alisando o queixo.
— Você disse que Sônia é ruiva, de vinte e cinco anos e
olhos azuis?
— Sim.
— Então, estou quase certo de que há três anos ela
trabalhou comigo. Lembro-me de que seu nome era Mary
Anderson, inglesa. Um dia desapareceu, e desde então não
tivemos notícias dela.
O doutor entrou, recomendando amavelmente ao
engenheiro que não se demorasse muito, para evitar
complicações no estado do paciente:
— Uma conversação prolongada pode fazer-lhe mal —
disse.
Pawlew despediu-se.
O ferido foi melhorando ao passar do tempo. No décimo
segundo dia após a operação, levantou-se pela primeira vez
e deu uns passos no quarto, a princípio incertos, mas logo
retomando as forças e o domínio dos movimentos.
Anchilet, naquele mesmo dia, encontrou-o saltando por
sobre as cadeiras do quarto, exercitando-se.
— Que está fazendo? Quer matar-se? Que loucura!
Payne o encarou:
— Já é hora de ir andando, doutor. Tenho muito trabalho
a fazer; amanhã deixarei a clínica.
— Não pode! — replicou energicamente o cirurgião. —
Você não deve esforçar-se antes que esteja totalmente bom.
Como profissional não posso consentir. Ainda faltam vinte
dias ou mais para que eu o considere curado.
— É inútil tentar impedir-me, doutor. Há muitos feridos
nesta clínica, depois do atentado à refinaria. Outro homem
estará certamente necessitando do lugar que eu posso muito
bem deixar.
Anchilet, convencido da inutilidade de seus argumentos,
pensou da melhor maneira possível os ferimentos para que
pudessem suportar esforços maiores. Atou-lhe firmemente o
peito, pondo o braço numa tipoia, sempre com
recomendações para ter cuidado. Em seguida, emprestou-
lhe o próprio carro.
— Boa sorte, rapaz — desejou,
Estendeu a mão, que Payne apertou, sinceramente grato.
Mas aquele gesto não pareceu bastar para agradecer: desceu
do automóvel. Cujo motor já ligara, para abraçar com
emoção o cirurgião cuja competência lhe salvara a vida. O
agente seguiu para Teerã. Naquele mesmo dia, marcava
uma audiência com o novo primeiro-ministro.
***
Arnald se desfizera do lenço que lhe sustinha o braço,
pois estorvava seus movimentos. Além do mais a tipoia
podia facilmente denunciá-lo. Ao descer o braço, uma dor
aguda lhe fez apertar os dentes, mas logo se acostumou a
suportá-la. E a dor cedeu à força de sua vontade férrea.
O governo, através do próprio chefe, respondera que
estava de acordo com seus planos para desfazer as tramas
do “Fedeiyan” e seus aliados — isso é o que interessava.
Estava disposto a lutar sozinho contra os agentes russos.
Os conflitos e divergências entre partidos políticos pouco
interesse despertavam nele. Diante do próprio chefe do
governo persa, o agente dissera: “Os políticos podem fazer
demagogia, dizendo defender a independência econômica
do país, mas não devemos consentir que o petróleo venha a
cair em mãos inimigas de minha pátria e da sua”.
O plano consistia em desfazer a ação do KPA,
organismo de espionagem russa. Seria uma batalha nas
sombras, no silêncio, e o americano pretendia eliminar um a
um os agentes inimigos. Para isso, a única ajuda com que
contava era uma pistola automática, conjugando-a à audácia
e à inteligência de que era dotado.
Os primeiros a buscar, pois que o conheciam, e podendo
identificá-lo ofereciam maior perigo, eram Sônia e seus três
sequazes.
Durante dois ou três dias, Arnald Payne procurou na
capital o grupo inimigo. Quando soube de certos
movimentos paredistas nas instalações petrolíferas de
Magdid Sulaimon, não teve dúvidas. Seguiu para aquela
área imediatamente.
Chegado aos campos de extração, felicitou-se pelo
acerto da suposição de que os movimentos subversivos
eram provocados por Sônia e seu grupo. Entre os operários,
trabalhando com o objetivo que já conhecemos, estava Ben
Ruizi. Tão logo o descobriu, Payne não se despregou dele.
Tinha contas a ajustar com o árabe. Libertando-o da prisão e
do fuzilamento, não o fizera por caridade. Libertara-o para
poder descobrir o “Fedeiyan”, e como conseguira o que
desejava, era tempo de o assassino de Razmara pagar pelo
crime. Ele o entregaria às autoridades, ou enfiaria uma bala
em seus miolos frios e maldosos.
Ruizi, no entanto, por certo não estava disposto a
comportar-se conforme os desejos do agente. Haveria de
vender caro sua vida, pois já demonstrara de que eram
capazes seus nervos, sua inteligência, sua força física
incomum. Não, o árabe não seria um cordeirinho: na hora
em que se visse descoberto, não se entregaria facilmente.
Uma nova greve se estendeu a todas as instalações da
região, provocando incidentes violentos. Um grupo de
operários chegara a tentar destruir os tubos do oleoduto que
levava ao golfo o petróleo ali extraído, sendo necessário o
emprego de tropas para conter os sabotadores, Payne seguia
Ahmed Ben Ruizi, não perdendo um só de seus
movimentos. E numa das primeiras tardes depois de sua
chegada, viu-o entrar numa pequena casa de aspecto
miserável, no pimpo. A construção rústica tinha a forma dos
moinhos usados no Oriente.
Com muita cautela, Payne se enfiara debaixo da casa.
Nem acabara de fazê-lo, quando um homem desceu por
uma escada íngreme quase vertical.
O agente escondeu-se rapidamente atrás de um monte de
cordas e sacos velhos. O desconhecido se afastou. Ele,
então, empunhando a pistola, alcançou a escada e começou
a subir.
Um degrau estalou. Estremeceu, pois tinha consciência
da situação: estando a meio da escada, não poderia
esconder-se. Entretanto, o homem, que ficara de sentinela à
beira da estrada, não pareceu notar o pequeno ruído. Seguiu
avançando; parou novamente, perto de uma janela,
percorrendo rapidamente com o olhar o campo em redor.
Depois de uma plataforma, os degraus subiam em
espiral. De um lado havia uma porta estreita, que ele
entreabriu cuidadosamente.
A porta rangeu, no entanto; não teve tempo de olhar para
dentro. Lançou-se escada acima, e acabava de esconder-se
na primeira curva em espiral, quando um outro indivíduo
assomou a janela. Não era Ben Ruizi.
— Subiu alguém, Mohandas? — perguntou ao guarda da
estrada.
— Não. Por quê? — estranhou a sentinela
— Não sei. Talvez fosse o vento.
O sujeito fechou a janela e a porta, depois olhar abaixo e
acima.
Payne esperou uns minutos e desceu com cuidado.
Encostou o ouvido à porta, sem poder distinguir bem as
palavras dos que se achava lá dentro. Foi com
descontentamento que percebeu não estar ali a jovem. A
julgar pelas vozes, dois ou três homens conversavam
naquele compartimento. Onde estaria Sônia, então?
Mas o que importava era ouvir, e entender o que diziam.
Apanhando o punhal, do qual nunca se separava, enfiou a
ponta na fechadura, que não cedeu. O homem a fechara
firmemente.
— Que azar! — murmurou, voltando-se instintivamente
como um raio.
No mesmo instante foi golpeado rudemente no ombro
direito.
Um homem alto e corpulento, de olhar feroz estava a
dois passos. Era a sentinela, que subia despercebido, e cuja
arma endereçada poderosamente contra sua nuca, o agente
pressentira o momento exato em que procurava abrir a
porta. Um movimento instintivo salvara-o, desviara para o
ombro o golpe fatal. Sem hesitar um segundo, pulou sobre o
atacante, enterrando o punhal no peito largo. O homem, que
tentara desviar-se do golpe fulminante, rolou ruidosamente
escada abaixo.
Payne se pôs em guarda contra os homens interior do
moinho. Na mão esquerda conservava o punhal; na direita,
tinha já a pesada automática.
O barulho do corpo que tombava pela escada chamou a
atenção dos outros. Payne, encostado ao corrimão, dois
metros acima da porta. Logo viu surgir o mesmo indivíduo
que antes assomara à janela.
— Maldição! Apunhalaram Mohandas! — exclamou o
homem, olhando para baixo.
Entretanto, não apareceu mais ninguém na porta.
Payne não compreendia. A julgar pelas circunstâncias,
estava numa ratoeira da qual só escaparia atrás de uma
cortina de balas. E atirou, então, despachando para o outro
mundo o segundo indivíduo.
O que se seguiu foi um silêncio profundo, Desceu
devagar alguns degraus, e os leves ruídos de seus passos
cuidadosos ressoavam naquele silêncio como estrondos.
Por alguns segundos ainda a expectativa reinou. Então,
um revólver veio cair em sua frente, na plataforma. Que
significava aquilo? Seria uma emboscada, ou quem estava
lá dentro se rendia? Haveria apenas mais uma pessoa? Se
fosse, devia ser Ruizi.
Quem quer que estivesse lá dentro certamente possuía
outra arma, jogando aquela para enganá-lo. Para comprovar
sua desconfiança, acostumado a agir sempre
cautelosamente, o agente cruzou de um pulo o vão da porta.
Lá estava Ruizi, sozinho, com uma adaga na mão.
— Olá, Ruizi! — exclamou Payne, encostado à parede,
do lado de fora. Sua voz era sarcástica.
— Você é bom no punhal, hem?
O americano mostrou-se repentinamente no vão da
porta, frente a frente com o assassino. Ruizi conteve um
gesto de espanto, e seus lábios finos movimentaram-se: —
Ah, então é você? O ressuscitado!
O árabe ria, desdenhoso,
— Sim, sou eu. O mesmo que vocês deixaram morrendo
no chalé de Abadan — respondeu friamente o americano.
— Muito bem. Estou à sua disposição.
— Vou matá-lo Ahmed Ben Ruizi. A morte cruel e
desnecessária dos soldados, na prisão de Teerã, ainda me dá
uma raiva danada. Agora você vai pagar por aqueles crimes
e pela morte do General Razmara, e com a vida. Você não
pode continuar vivendo. Defenda-se.
A arma de Ruizi, uma adaga árabe de três centímetros de
largura, era uma curva reluzente, ameaçadora e pontiaguda.
Ele a brandia no ar, prestes a lançá-la. Payne estava pronto a
desviar-se, fingindo acreditar que o árabe a atiraria.
Mantendo perfeito conhecimento do caráter de Ruizi, sabia
que o adversário não executaria aquele ato traiçoeiro. Por
orgulho ou temperamento, lutaria limpamente. Não era um
traidor, embora fosse um assassino alucinado e fanático,
dominado por uma mulher muito inteligente.
— Adiante, Ruizi! — escarneceu Payne. — Eu lhe
concedo a iniciativa.
Ahmed estendeu o braço, fulminante. A arma passou
rente à face do americano, que se desviava num relâmpago,
fazendo surgir nela uma lista rubra desde a boca até a
orelha. Gotas de sangue borrifaram o peito de sua camisa. À
vista disso, o ânimo de Payne se exaltou:
— Em guarda, Ruizi! — gritou, lançando-se a o ataque
com todo o peso.
Deu um golpe enganador levando o punhal para a
direita. Ruizi tentou esquivar-se para a esquerda abaixando-
se. E o punhal, mudando o movimento, cravou-se no braço
direito do persa.
— Vamos, Ruizi, por que parou? — exclamou Arnald,
dando uma gargalhada. — A luta ainda não terminou!
O adversário apanhou com a esquerda a adaga que fora
obrigado a soltar da mão inutilizada. Seu braço direito
pendia inerte.
Encontraram-se no ar os dois punhais. Desvencilharam-
se, voltando a desferir golpes mortais. Em dado momento,
mantiveram um corpo-a-corpo feroz. Payne, com uma das
mãos, agarrou o pulso do adversário. Torceu-o, sem
contudo conseguir fazê-lo soltar a arma rubra de sangue.
Então, soltando a própria faca agarrou com ambas as mãos
aquele pulso tenaz. Torceu-o mais, e um estalar de ossos
partidos soou. A adaga rolou ao chão.
Payne o derrubou logo a seguir, lhe pondo um joelho
sobre o ombro. Um sorriso triunfante Surgiu no rosto
suarento do americano, que pegou a adaga, apoiando-a
contra o coração do persa e impedindo-o de erguer-se.
— Diga onde está Sônia Lubriski! Você sabe! —
intimou-o.
— Não adianta querer forçar-me pelo medo! —
respondeu Ruizi, orgulhoso ainda, embora vencido. — Não
me fará dizer!
— Neste caso, obriga-me a matá-lo.
— Prefiro morrer a delatar meus companheiros.
Payne não desejava matá-lo inutilmente. Interessava-lhe,
sim, sua confissão. Tentou convencê-lo, mas tudo foi em
vão. Não tinha remédio senão dar-lhe morte ali mesmo. Era
a única solução, pois se quisesse levá-lo ao destacamento de
polícia mais próximo, corria o risco de cair nas mãos dos
homens de Sônia, que abundavam nas redondezas.
— Fale! É a última oportunidade que lhe dou!
— Não! Acabe logo com isto!
Sua mão apertou a contragosto o cabo do punhal, pois
lhe desagradava matar.
Não pôde evitar que uma golfada de sangue do persa
alcançasse seu rosto. Havia forçado e o punhal se cravara
sem encontrar o obstáculo indo diretamente ao coração do
inimigo. Este exalou um gemido, gaguejou umas palavras
incompreensíveis, e depois de um instante inanimou-se. A
cabeça tombou de lado, os olhos desmesuradamente abertos
e revirados.
Payne fechou-lhe os olhos, desgostoso. Limpou-se como
pôde, arrumou a roupa e revistou as do morto, recolhendo
depois o punhal. A adaga ficou cravada no corpo do persa,
testemunha da justiça que, embora um pouco tardia, não
deixara de ser feita.
O americano desceu a escada, saindo cautelosamente.
Percebeu um grupo de homens que vinha pela estrada em
direção ao moinho. Eram seis, e não lhe convinha dar a
conhecer sua presença ali. Por isso rodeou rapidamente
pelos fundos do moinho, afastando-se no terreno acidentado
e desértico. Quando se viu a prudente distância, voltou à
estrada e tomou a direção de Magdid.
Da janela do moinho, um dos homens que acabavam de
chegar avistou-o ao longe, dando o alarma. Todos saíram
em sua perseguição, mas logo desistiram, pois já estava a
grande distância.
Arnald Payne resolveu voltar à capital. Levava no bolso
uma carta cifrada, que encontrara nas vestes de Ruizi.
Durante a viagem, deu-se ao interessante trabalho de a
decifrar. A leitura de mensagens desse tipo era, por sinal,
umas das matérias mais importantes nos estudos da
Academia de Espionagem americana. Tendo-o decifrado em
parte, o papel revelava que logo após realizar a “Operação
Magdid Sulaimon”, os remetentes voltariam a Teerã. A
assinatura era de “V. E. 18”.
***
Uma visita o esperava na capital.
— Uma jovem perguntou pelo senhor várias vezes —
disse o porteiro do Excelsior. — Disse que voltaria esta
noite.
Payne mergulhou num mar de confusão. Não tinha
amizades femininas em Teerã. Quem seria a tal jovem?
Sônia Lubriski?
Estremeceu, ao pensar nessa possibilidade.
A noite já caíra quando alguém bateu à porta de seu
apartamento.
— Entre — disse.
Sentado, ficou estudando a mulher que se detivera junto
da porta, depois de fechá-la atrás de si. Seu rosto era de
linhas diferentes daquelas do rosto de Sônia, embora fosse
mais bonito. Morena, olhos negros e grandes, com um lindo
e farto cabelo de azeviche a cair esparramado sobre os
ombros, seu colo alvo e escultural surgia fascinante entre as
mechas. Esbelta e serena, deixava se olhar sem sombra de
temor.
— Você é árabe, não é? — disse Payne, surpreendido
por sua beleza.
— Sim, em parte: inglesa, árabe e francesa.
Sua voz não destoava, antes completava os atributos
físicos. Era cristalina e suave.
— Bem, bem. Vá dizendo: em que posso servi-la? O
porteiro me disse que esteve à minha procura em várias
ocasiões.
— Queria trocar impressões com você.
— Trocar impressões? Sobre o que, por exemplo?
— Digamos... sobre Sônia Lubriski!
— Você a conhece?
— Sim. É minha amiga.
— E quem a mandou aqui?
— Ernest Pawlew, o chefe da Anglo-Iranian.
Payne receou. Não podia confiar numa mulher que sem
mais nem menos se dizia enviada de Pawlew e amiga de
Sônia. E se fosse uma emboscada dos elementos da KPA?
Ele prestou atenção às expressões que o rosto dela revelava.
Pediu uma ligação urgente com o escritório Pawlew, em
Abadan. O engenheiro o saudou calorosamente.
Logo Payne desligou, dirigindo-se à moça:
— Pawlew confirmou. Desculpe-me, mas Teerã está
repleta de espiões... Sente-se, por favor.
A jovem cruzou as pernas com recato, ao sentar-se. Fez
um trejeito gracioso e sorriu de leva Payne não despregava
os olhos de seu rosto, encantado. Poucas vezes vira mulher
tão fascinante, desse fascínio que vem da doçura, da voz
cristalina, da finura de traços e modos.
— Disse que é amiga de Sônia?
— E repito: sou amiga de Sônia.
— Onde está ela agora?
— Em Teerã, neste mesmo hotel. No apartamento logo
abaixo deste — disse, quase indiferente.
— Como? Que diz? — assombrou-se Payne. — Aqui
debaixo?
— Eu a encontrei há exatamente sete minutos —
respondeu, consultando o relógio de pulso.
Payne refletiu um pouco.
— Não posso detê-la — resmungou.
— Que foi que disse?
— Nada, nada. Eu imaginava prender essa mulher, mas
é impossível: não tenho autoridade.
— Meu irmão me disse...
— Seu irmão? Quem é?
— Ernest Pawlew.
— Mas... pensei que ele fosse inglês!
— E é. Somos irmãos paternos. Ringley Pawlew, nosso
pai, era viúvo quando chegou aqui. Trouxe Ernest. Depois
casou-se com minha mãe, que era filha de francês e egípcia.
Payne ficou calado, mas aquela mescla de raças lhe
pareceu felicíssima, pois originara uma pérola. Haviam
produzido a criatura mais linda que jamais vira.
— E Sônia sabe que Pawlew é seu irmão?
— Não. Eu a conheci faz um ano, em Istambul. Nós nos
fizemos amigas, e como eu assino Lília P. Blanchard, ela
não pôde descobrir que pertenço à família Pawlew.
Passaram então a falar do motivo da visita. Lília o
explicou, mas quando se despediu, Payne ainda estava
intrigado. Tanto que foi consultar Hassan Alá sobre o caso.
— Desconfie dela — advertiu o espião persa, passeando
em chinelos no jardim de seu palacete, sob a vista atenta de
Payne. — É uma intrusa, talvez trabalhe para o inimigo.
— E que interesse pode ter em que eu vá a Tabriz? Não
compreendo.
Hassan distendeu os lábios num sorriso de Ironia:
— É fácil perceber: querem matá-lo — tomou-se sério.
— Em Tabriz, sua vida ficará exposta a todos os perigos.
— De qualquer maneira, eu vou lá, aconteça o que
acontecer — insistiu o agente, estudando as reações do
persa.
Hassan era um personagem complexo, e desde o
primeiro diálogo Payne antipatizara com ele. Era um espião
mercenário, traidor da pátria,
traidor do alto posto que alcançara no governo,
trabalhando para uma potência estrangeira por simples
cobiça. Isso repugnava a Payne, cuja profissão era exercida
em função da aventura e do patriotismo. Para o americano,
a espionagem era constituída de atos nobres, audácia e
inteligência. Os espiões eram soldados da pátria.
Mas com Hassan Alá era muito diferente: a espionagem
consistia numa cadeia de mesquinharias e traições. Payne,
entretanto, sabia que graças àquele homem comprado, ele e
seus companheiros da CIA eram mais eficientes e obtinham
muito mais segredos. Além do mais, Hassan trabalhava para
os Estados Unidos.
— Sei que tem de ir — disse o persa, misterioso.
— Que é que você sabe? Como e por que sabe?
— Porque estou tão por dentro do jogo da CIA. aqui,
quanto você mesmo — respondeu, sentando-se num divã e
olhando fixamente os olhos do americano. — Esquece de
que sou o agente de ligação americano no Oriente Médio?
Você tem de passar por Tabriz para cruzar a fronteira e
chegar a Baku, onde sua tarefa é roubar documentos
reveladores da produção de petróleo nos países sob o
domínio soviético. Esses documentos me devem ser
entregues, para que eu possa enviá-los a Washington.
— Perfeito — reconheceu Payne. — E a KPA? A Jovem
me falou no KPA como se...
— É a organização de espionagem soviética, atalhou
Hassan. — Esconde outra sigla, bem conhecida de todos.
Payne não indagou mais. A explicação que o persa tinha
para aquelas três letras não o convencera. Ele mesmo tinha
outra opinião.
CAPÍTULO QUARTO
Seguindo um suspeito, Payne encontrou o ninho das víboras
Combate no subsolo
A morte pendente duma corda ensebada...
Um tanque “Sherman” fechou a rua Addama, em Tabriz.
A pequena cúpula girou e o canhão voltou-se para os
amotinados que tumultuavam aquela via central. Arnald
Payne, sentado no terraço de um hotel, ia tomar mais um
gole de Coca-Cola. Olhou com interesse o soldado cuja
cabeça emergia do tanque. Naquele mesmo instante, porém,
o soldado recebeu no rosto uma bala que fez espalhar-se o
sangue em suas faces, e pendeu frouxamente sobre a
escotilha.
Payne levantou-se devagar da cadeira de vime. Com os
olhos atentos, a testa enrugada, ouviu uma rajada de
metralhadora. Ao passar sibilando o segundo projétil, ele já
se jogara ao solo.
Um outro soldado ocupara o lugar do morto no tanque,
fazendo funcionar a metralhadora.
Payne observava um indivíduo de fisionomia
caucasiana, que se resguardava atrás de um poste no qual
alguns projéteis ricochetearam. Passada a refrega, o sujeito
foi seguido pelo agente até a parte velha da cidade. Ele não
o havia visto disparar, mas estava quase certo de que o
soldado morto no tanque recebera dele a bala fatídica.
Atravessaram um descampado, ambos andando
depressa. O indivíduo parou diante de um galpão encardido.
Assobiou; e outro homem apareceu. Como estivesse longe,
Payne não pôde ver o rosto do segundo. Apanhou o
pequeno binóculo de que se munira, e logo um sorriso
satisfeito apareceu em seus lábios. Eram conhecidos dele:
Manneliski e Abdul, os sequazes de Sônia.
Os dois subiram uma colina, por uma trilha rústica e
irregular. Minutos depois, também o agente subia.
Escondido pelas ramagens de uma árvore, usou de novo
o binóculo. Diante dele oferecia-se um quadro em que à
natureza exuberante unia-se um parque industrial. As torres
metálicas dos poços de petróleo brilhavam às centenas,
pontilhando o vale. Aquele era um dos campos mais
notáveis do Irã.
Não sem surpresa, viu através do binóculo que
Manneliski e Abdul entravam num elevador descendo num
poço. Memorizando bem qual era o poço, desceu ao campo.
Alguns operários, certamente crendo que ele, metido em
roupas ocidentais, fosse um engenheiro em inspeção, não
lhe deram importância.
Chegando ao poço, resolveu descer. Usar o elevador,
entretanto, seria perigoso. Amarrou uma corda bastante
comprida, que encontrara no local, a uma travessa de ferro e
desceu por ela.
O poço era profundo. Suas mãos se esfolavam na corda
áspera. Afrouxando os dedos, caiu rapidamente uns três
metros. Lá em cima, a claridade diurna ficava distante.
Por fim, alcançara o fundo. A escuridão era absoluta, e
ele não levara lanterna. Quando estava a ponto de acender
um fósforo, percebeu que se o fizesse matar-se-ia no mesmo
instante, pois sentiu o odor característico de gases de
petróleo. A menor faísca ocasionaria uma tremenda
explosão. Tinha, portanto de continuar às cegas, rezando
para que tudo desse certo.
Logo adiante, pôde ouvir vozes. Precavido, empunhou a
pistola, continuando a avançar. Podia perceber uma réstia
de luz ao fim da galeria.
Acertara, seguindo aquela pista. Ali se achavam Sônia e
seu estado-maior: Manneliski, Attamek, Abdul, o chefe do
“Tudeh”, e um desconhecido. Este, de costas para o
americano, era inteiramente calvo e bastante corpulento. A
porta estava fechada, mas uma frincha entre as madeiras
rústicas permitia a observação.
— Preciso de um homem valente e de confiança —
falava Sônia. — É necessário que seja bastante fanático,
para não pensar demais; um homem, afinal, para substituir
Ruizi. Você fica encarregado de encontrá-lo, Abdul.
— Tentarei — respondeu o chefe do “Tudeh”.
— É melhor começar logo a procurar. Ponha-o
imediatamente em contato com Manneliski — ajuntou a
mulher.
— É algum serviço especialmente difícil? — perguntou
o afeminado Attamek.
— O mesmo trabalho que Ruizi fez tão bem; só que a
vítima agora é outra, é claro.
— Está certo — concordou Abdul. — O atual primeiro-
ministro é ainda mais ocidental que Razmara. Temos de
eliminá-lo.
— Não é preciso insistir em que os principais
beneficiários dessa morte vão ser vocês mesmos, não é?
“Tudeh” e “Fedeiyan” é que mais lucrarão — ajuntou
Sônia. — Esta é a última parte de nossa missão.
Desaparecido este “premier”, o poder será nosso. Já
ajudamos bastante aos seus partidos. Fornecemos armas,
financiamos generosamente as revoluções desde 1948.
Graças a nosso serviço de propaganda, os persas já estão
convencidos de que devem ser independentes. A obra está
feita. Falta apenas o remate, e este cabe a vocês próprios.
— Asseguro-lhe que nunca esqueceremos a ajuda ao
“Fedeiyan”. Cumpriremos o pacto — prometeu uma voz
felina.
Quem havia falado era o homem calvo. Payne não
demorou a reconhecer naquela voz a do próprio Batal El
Juri, o chefe dos muçulmanos intransigentes com quem se
avistara logo após libertar Ahmed Ben Ruizi.
— Meu partido é suficientemente doutrinado em seus
conceitos, senhorita, e não preciso renovar o juramento que
fiz — ajuntava Abdul. — O “Tudeh” vai mais adiante do
que qualquer outra organização, nessa questão de negociar o
petróleo exclusivamente com a Rússia. O prometido será
cumprido.
Payne não demonstrou qualquer surpresa ao ouvir aquela
revelação. Sabia que a Rússia espreitava o petróleo
iraniano, e que não sossegaria até consegui-lo. O “Tudeh” e
o “Fedeiyan” caíam como patinhos em suas redes. Ambos
os partidos eram de confiança, e deles os soviéticos
obtinham a mais fanática lealdade.
O agente se agachara, observando os espiões e seus
sequazes. E antes que pudesse safar-se, a porta foi aberta e
ele ficou a descoberto. Um aos homens tivera a impressão
de que estavam sendo observados, e como a fresta só
deixava perceber uma parte do recinto, o agente não se dera
conta de que a maçaneta girava, abrindo num repente a
porta.
Foi um momento que jamais esqueceria. Mas não
vacilou. Os que conferenciavam ao redor da mesa
levantaram-se, todos ao mesmo tempo.
— Atirem! — gritou Sônia.
Ela tentou ainda esconder a surpresa que lhe causava ao
ver ali o homem deixado à morte em Abadan. Mas foi
inútil, pois a estupefação já marcara seu rosto.
Vários disparos retumbaram, ecoando, sinistros, nas
galerias. Ninguém cuidava da pontaria; nem mesmo Payne
que, afastando-se para um lado, respondia ao fogo nutrido
que vinha lá de dentro.
O americano correu loucamente pela galeria de saída,
perseguido de perto pelos inimigos. Na completa escuridão,
foi de encontro a uma parede, caindo. Não deu importância
à dor, colando-se ao solo e aproveitando a pausa para
recarregar a automática. Vendo que havia tempo para
erguer-se, tomou a comer, tendo o cuidado de conservar-se
em linha reta para evitar novo encontrão. Seus olhos logo se
habituaram às trevas, e aos poucos podiam distinguir o
caminho.
De repente, um foco de luz iluminou a galeria.
Atirou-se ao solo e disparou, agora mirando bem e
acertando na lanterna. Tudo voltou a escurecer. Ainda havia
remédio para a situação.
— Entregue-se! É inútil pensar em escapar — gritou
Sônia Lubriski. — Você não tem saída.
— Tentem pegar-me, e verão que também sei usar a
pistola — respondeu o agente, friamente.
— Seja sensato — aconselhou Sônia. — Ainda é tempo.
— Deixem de conversa e avancem! Estou aqui! —
tomou ele, irônico.
— Vai ficar como uma peneira, homem! Entregue-se!
Desta vez a réplica foi sibilante, em forma de bala.
Depois que dois clarões iluminaram a galeria, ouviu-se um
gemido afeminado, que só podia ter escapado da boca de
Attamek.
Estudando a situação com lucidez, viu que suas
possibilidades de evasão eram escassas. Retrocedeu, então,
e apalpando a parede procurou a saída. Mas a galeria
acabava ali. Estava encurralado!
Deu-lhe raiva o constatar o fato. Não havia remédio,
agora, senão enfrentar a morte, matando, por sua vez,
quantos pudesse com as quatro balas restantes. E se
quisesse seguir pelo outro lado, não poderia disparar, pois a
outra galeria continha gás e um tiro bastaria para matar a
todos, provocando terrível explosão. Ficando à espera,
ainda tinha possibilidade de continuar vivendo, por pequena
que fosse.
Passou a mão no rosto, enxugando a fronte.
Vasculhando rapidamente os bolsos, empalmou um
pequeno objeto parecido a meia casca de noz. Não renovara
a substância que usualmente ocupava o interior do
estojinho, mas uma última esperança o fez abri-lo e
verificar. Inútil verificação: desta vez não haveria bolinhas
para ajudá-lo. Ele se esquecera de munir-se delas ao deixar
o hotel de Tabriz.
Naquele momento, a galeria foi profundamente
iluminada, cegando-o. Três focos caíram de súbito sobre
ele.
Payne ficou deslumbrado; suas pupilas se contraíram
subitamente. E então, desconcertado, apertou seguidamente
o gatilho, sem fazer pontaria, sem nada ver, enlouquecido
pelo desespero.
Quando a última bala se perdeu, ele levou as mãos aos
olhos. Retirou-as, mas nada via ainda senão a forte luz dos
focos. Além deles, a escuridão da galeria avultava pelo
contraste.
O corpo alto e forte de Payne estava ali, imóvel,
enfrentando as pistolas que se emboscavam nas trevas.
Como um animal indefeso, esperava os projéteis mortíferos.
Mas a voz de Sônia ecoou:
— Esperem! Antes de morrer, ele tem de contar algumas
coisas de nosso interesse. Peguem-no vivo!
Cinco homens acercaram-se dele, todos ao mesmo
tempo. Batal, o primeiro à sua frente, recebeu um soco no
queixo e caiu pesadamente. Abdul, Manneliski e o quinto
homem, porém, juntaram suas forças e agarraram o agente.
Houve uma luta titânica. Rolavam pelo chão,
resfolegando. Batal ergueu-se, refeito do golpe, e lançou-se
às pernas de Payne. Abdul aproveitou para agarrar seus
braços e bater-lhe a cabeça contra a parede da galeria.
A jovem aproximou-se:
— Prendam-no — disse, apresentando um par de
algemas.
Abdul algemou-o.
— Cuidado — advertiu Sônia. — Evitem que ele se
suicide.
— Não se preocupe. Não sairei do lado dele — disse
Manneliski.
Levando-o, voltaram à sala subterrânea onde Payne os
encontrara em conferência. Tentaram forçá-lo a falar, e
Manneliski várias vezes o golpeou. Nada conseguiram,
porém.
— Nada tenho a dizer. Podem matar-me.
— Você falará, queira ou não queira — replicou Sônia.
— Engana-se. Ninguém me obrigará a isso — volveu
Payne, olhando-a com desprezo. — Vamos, atire outra vez!
— Mais tarde, mais tarde... Antes, preciso de sua
confissão.
— Repito que nada tenho a dizer.
— Que querem os Estados Unidos na Pérsia? Que veio
fazer aqui?
— Não sei o que os americanos querem. Quanto a mim,
a coisa muda: vim ganhar dinheiro. Pawlew me ofereceu
mais do que vocês. Por isso eu os trai, e é tudo.
— Você é um cretino, Payne — tornou Sônia.
— Cretino e cínico. Não nos traiu, pois nunca pensou
em ajudar-nos. Seu plano é ambicioso, mas não chegará a
realizá-lo. Fale logo!
Ele se ateve à negativa. Insistiu na versão de que era um
aventureiro e trabalhava para quem pagasse melhor.
— Sou norueguês. Nada tenho a ver com os Estados
Unidos. Se vocês me pagassem melhor do que Pawlew, eu
não veria inconveniente em trabalhar para a KPA.
Manneliski aplicou-lhe um soco:
— A KPA não precisa de répteis da sua laia! —
vociferou, raivoso.
— Você falará, Payne, posso assegurar — certificou-o
Batal El Juri, que esfregava o maxilar dolorido.
Sônia ausentou-se. Algumas horas se passaram. Quando
a jovem espiã, voltou, trazia um pequeno embrulho.
Abrindo-o, derramou seu conteúdo num copo d’água,
apresentando-o ao agente:
— Beba!
— Não quero. Deve ser veneno. Prefiro morrer fuzilado.
— Beba! — repetiu ela — você morrerá como e quando
eu quiser. Mas não vai ser agora. Isto não é veneno.
Abdul agarrou-lhe o queixo, obrigando-o a abrir a boca.
Manneliski despejou o líquido na garganta do prisioneiro,
que esteve a ponto de Sufocar.
— Bem, bem — falou Sônia. — Deixe-o, Abdul. Não
demora a cantar.
Com efeito, a diabólica beberagem mudou logo o modo
de pensar do agente. Logo que a jovem resolveu fazer novas
perguntas, ele respondeu diretamente, como se estivesse
sonhando.
— Quem é você? — perguntou ela.
— Philip Morgan, Ingressei na CIA em 1947, trocando
de nome. Desde então, trabalhei em operações especiais.
— Que faz na Pérsia?
— Primeiro, tenho de defender o povo persa contra as
ciladas de uma potência que se diz a amiga e não o é. Em
segundo lugar, evitar que o petróleo mude de donos.
— E que vai fazer a CIA para conservar os ingleses
aqui?
— Desbaratar o serviço de espionagem desta potência,
que explora em seu proveito os sentimentos nacionalistas do
povo.
— Quem é Sônia Lubriski?
— Não estou certo. Talvez seja a chefe do KPA no
Oriente Médio.
Cessaram as perguntas. Sônia estava satisfeita.
— Saiamos daqui. Dei ordens a Palduski para preparar o
patíbulo. Ele já terminou.
O elevador os levou à superfície. O ar fresco da noite
reanimou Payne. Aos poucos, o agente foi recobrando a
consciência. Ergueu os olhos para o céu noturno, onde as
estrelas brilhavam e a lua cheia subia no horizonte.
O grupo aproximou-se silenciosamente de uma casa de
madeira. Em frente dela, figura sinistra contra o céu,
haviam erguido um tablado que lançava ao ar um pequeno
poste, do qual saia, um ramo em ângulo reto. E desse braço
ameaçador descia uma corda.
— Está preparado? — indagou Sônia.
— Sim. Arrematei tudo passando sebo na corda. Ficou
bastante macia — respondeu um homem que se erguera à
chegada deles.
— Muito bem. Façam o serviço — ordenou ela. E
dirigindo-se aos que se achavam no interior da casa: —
Venham ver o espetáculo!
Vários homens subiram no tablado, rodeando o cativo. O
carrasco passou-lhe a corda ao pescoço.
Payne, ainda não de todo refeito da droga, sentiu o laço
gorduroso no pescoço. Sob o clarão da lua, podia-se
perfeitamente ver que os músculos de seu rosto
permaneciam tensos; mas não demonstrava o mínimo terror.
Sereno, impassível, sem lutar contra o destino, aguardava
desdenhosamente a chegada do instante fatal.
— Agora, Palduski! — ordenou Sônia.
Um homem forte deu um pontapé violento no caixote
sobre o qual Payne se achava, retirando-o.
O corpo balançou no ar.
De repente, no momento culminante, ouviu-se um ruído.
Das bocas dos assassinos saiu uma imprecação uníssona:
— Maldição! A corda rebentou!
Payne caiu, semiconsciente, no tablado, encolhido numa
posição grotesca. Lentamente, depois de permanecer quase
sentado por um secundo, resvalou para o solo.
— Palduski! Você pagará por isso! — gritou Sônia,
irritadíssima. — Eu lhe disse que usasse uma corda forte!
— Não entendo! Escolhi uma bem resistente. Devia
aguentar no mínimo quatrocentos quilos! — desculpou-se o
verdugo. — Aqui houve traição!
Examinou rapidamente a corda, achando o motivo da
ruptura:
— Veja isto! — exclamou enfurecido, olhando os dez
homens que já o rodeavam. — Queimaram a corda!
— Deixe-me ver — e a mulher apanhou a ponta rota,
verificando-a. — Quando terá sido feito?
— No máximo há uns dez minutos.
— Você se ausentou em algum momento?
— Sim, um minuto ou dois. Svoley me convidou a beber
um trago.
Sônia olhou para Svoley:
— Por que o chamou?
— Não vai pensar que fui eu quem fez isso, não é?
A jovem estudou os rostos dos demais e chegou à
conclusão de que o culpado não estava entre eles.
— Aqui por perto há alguém que tentou libertar Payne.
Procurem!
Sete homens iniciaram a busca, empunhando lanternas.
Ao lado do patíbulo permaneceram somente Sônia, Palduski
e o velho. As luzes afastaram-se.
Payne esfregou os olhos com esforço, erguendo as mãos
algemadas. Abriu-os.
— Puxa! Você me deu um susto, Sônia — disse.
Apoiando os cotovelos na borda do tablado, ele sorria
ironicamente. A corda pendurada em seu pescoço balançou.
Ele percebeu de imediato que alguém a puxara.
Surpreendido olhou dissimuladamente para baixo: uma
pequena mão lhe puxava agora a calça para chamar sua
atenção. Junto dos joelhos, viu um revólver.
Debaixo do tablado ocultava-se alguém. Como pudera
meter-se ali? Quem seria? Mas, o importante era aproveitar
a magnífica ocasião que se lhe oferecia.
Payne apanhou lentamente a arma.
— Agora! — murmurou uma voz.
Nenhum dos inimigos pôde reagir, quando ele se
levantou repentinamente. A arma os ameaçava.
— Cuidado com as mãos, amigos — dizia Payne — Se
alguém se mover...
De um lado do tablado, arrastando-se, apareceu uma
jovem, empunhando uma automática.
— Vamos, Sônia! Jogue-me a chave das algemas —
disse.
— Olhem só! A minha cara amiga...
Não pode terminar a frase. Uma coronhada a fez calar,
abatendo-a inconsciente. Pelo
se via, a violência não assustava a jovem salvadora de
Payne.
Entretanto, o americano caíra sobre Palduski, abrindo-
lhe a testa com um golpe do revólver. O velho sofreu o
mesmo tratamento por parte da jovem.
— Vamos sair daqui antes que os outros voltem! —
disse ela, libertando os pulsos de Payne.
— Foi estupenda! — comentou ele, enquanto apertava a
mão da jovem. — Acredite que jamais esquecerei o que fez
por mim. E é curioso, sabe? É a segunda vez que um
Pawlew me salva a vida!
— Vamos, vamos! Mais tarde poderemos conversar.
Agora não há tempo.
A noite os ajudava a fugir, embora a lua prateasse o
campo. Em poucos minutos alcançaram uma vegetação
bastante alta, que os escondeu. Caminharam então mais
devagar, passando a pequena distância de um dos asseclas
de Sônia, que tendo já vasculhado aquele lugar não teve o
cuidado de nova verificação e logo se afastou em direção do
patíbulo.
Payne e a jovem voltaram rapidamente para Tabriz. A
cidade estava a boa distância, e os homens de Sônia, quando
percebessem a fuga do enforcado, haveriam de encetar a
perseguição.
Correndo, Payne conjeturava: em Tabriz havia lei, mas o
“Tudeh” dominava a cidade.
— Você conhece alguma pessoa de confiança em
Tabriz? — perguntou à moça.
— Estava pensando nisso — respondeu Lilia.
— Conheço um missionário inglês que certamente nos
abrigará. Sua casa fica atrás daquela montanha, à nossa
frente.
— Escute! Ouviu? Já descobriram nossa fuga. Dê-me a
mão. Ainda que precisemos pôr os pulmões pela boca,
temos de correr como lebres.
— Estou disposta a não me deixar agarrar — respondeu
ela, animada.
Meia hora depois, chegavam à porta do missionário, um
homem idoso de expressão pacífica:
— Entrem — falou, sorrindo, sem parecer reconhecer
Lilia — Posso servi-los em alguma coisa?
— Sim — respondeu Payne, deixando que a jovem
passasse à frente.
Quando a luz do interior iluminou o rosto dela, o
missionário exclamou:
— Que alegria! É Lília! Entrem, entrem! Vou preparar
um chá. Querem comer? Tenho umas coisas deliciosas na
despensa.
CAPÍTULO QUINTO
Bob o manto divino...
Viagem a Baku
Maravilhas em miniatura com efeitos gigantescos
Lilia P. Blanchard, resfolegante, as têmporas reluzindo
de suor, parecia mais bela e cativante do que nunca.
Ansiosamente, Payne olhava aquela figura graciosa e
morena, doce e harmoniosa, a quem devia a vida. Olhava-a
de maneira toda especial, insistente, e a um psicólogo não
passaria despercebido que um sentimento novo despertava
em seu íntimo. “É mentira! Não estou apaixonado. Minha
noiva é a aventura. Pertenço ao trabalho, e não posso amar”,
pensava ele. Mas outra parte de si mesmo respondia: “Você
é covarde demais para confessar que está enamorado. Amar
não é crime, rapaz! Você é mesmo um cretino”.
— Bem, Lília, conte-me alguma coisa — pediu o velho
missionário. — De onde vêm a esta hora? Tabriz fica a
cinco quilômetros daqui...
— Estamos sendo perseguidos, Brint — respondeu ela.
— O “Tudeh”, sabe? Vão supor que fomos para Tabriz, mas
não será mau se você tomar cuidado.
— Que quer o “Tudeh”?
Lília voltou-se para o agente, encontrando os olhos dele.
— A cabeça do meu amigo — disse por fim. Rindo,
acrescentou: — Se não me engano, a minha também.
Devem estar muito irritados comigo...
— Você ainda não me disse como conseguiu chegar lá
— respondeu o agente, ainda estranhando a providencial
presença da jovem. — Dois dias atrás e eu a deixei num
hotel de Teerã, sem saber que viria ao Azerbadjão.
— No dia seguinte, resolvi procurar Sônia. Você já deve
saber que me agradam a aventura, a ação, o perigo...
— Não pensei que tivesse tal temperamento quando a vi
pela primeira vez. Pareceu-me urna pacata jovem de família
rica, acostumada à vida serena e rotineira... O que acaba de
acontecer me surpreendeu muito.
— Mudou sua impressão a meu respeito? Agora me vê
menos feminina?
— Não é isso. Aquela impressão nunca será totalmente
modificada.
O missionário, que fora à cozinha, anunciou que estava
pronta a refeição.
— Mas você não me explicou como sabia que eu fora
aprisionado — continuou Pasme.
— Chegaremos lá... Quando mataram o soldado do
tanque, eu me encontrava perto do terraço. Vi você e decidi
segui-lo, enquanto você seguia outro homem. Quando
desceu ao poço, eu estava por perto. Não saí daquele lugar.
Então, às cinco da tarde, Sônia saiu do poço e foi até à
casinha de madeira. Quando apareceu de novo, conversava
com o tal Palduski. Logo depois o homem construiu uma
forca. Não precisei pensar muito, para saber o que
tencionavam fazer... à noitinha, Palduski entrou na cabana,
dando-me ocasião para trabalhar a corda. Feito o serviço,
meti-me sob o estrado. O mais, já sabe.
— Você não calcula quanto lhe sou grato, Lília!
Estavam já tomando o lanche preparado pelo ancião.
— Tenho ainda uma dúvida — disse o agente — perdoe-
me, mas eu estranho seu altruísmo.
— Estranha? Que quer dizer?
— Vou explicar: você me libertou porque eu era
necessário ao serviço...
— Não entendo uma palavra do que está dizendo.
— Mais explicado ainda: você é agente do Intelligence
Service inglês.
— Eu, espiã! Vamos, não caçoe! — protestou ela,
fazendo uma graciosa careta. — De onde tirou essa ideia
descabida?
— De uma análise iria dos fatos, de suas atitudes.
O missionário, que ouvia a palestra, sorridente, mas
espantado, fez um sinal.
— Silêncio! Ouvi passos.
Chamavam à porta. Brint indicou-lhes um aposento onde
podiam esconder-se. Entraram, e logo o velho fechava a
cortina que servia de porta e se encaminhava a receber os
visitantes.
— Entrem, filhos. Que desejam deste pobre missionário?
Três homens desalinhados passaram ao vestibulo. Um
deles falou:
— Estamos procurando um indivíduo alto, estrangeiro,
acompanhado por uma jovem morena. O senhor os viu?
— Não, meus filhos. Aqui não apareceu ninguém, esta
noite.
— Temos de revistar a casa. É uma ordem.
— Vejo que desconfiam de mim. Entrem, se quiserem, e
revistem tudo...
A casa era pequena. Alcançaram logo o quarto onde
estavam os fugitivos e abriram as cortinas. Entraram,
enquanto nenhum músculo do rosto de Brint se movia. O
quarto continha apenas estantes com livros, e não interessou
aos homens do “Tudeh”.
— Não há ninguém aqui. Vamos.
Saíram. O missionário esperou que estivessem a boa
distância, antes de fechar a porta. Entrou na pequena
biblioteca e apertou um botão oculto. Uma parte da estante
girou silenciosamente.
— Muito bem construída a sua casa, Mr. Brint — riu
Payne. — Este compartimento é perfeito.
— Eu o construí há pouco tempo. Numa terra onde a
revolução e o ódio são parte do dia-a-dia, as precauções
nunca são demasiadas.
Dormiram na casinha do missionário. Pela manhã, ao
despedirem-se dele, pareciam outras pessoas. Brint, com
surpreendente habilidade, alterou suas fisionomias. Se não o
fizesse, seriam reconhecidos em Tabriz e fuzilados no
mesmo instante. Aplicando unguentos especiais, trocando
suas roupas e corrigindo sinais de identificação, o
missionário se revelou mestre em caracterização teatral.
A operação foi longa e trabalhosa. Concluído o trabalho,
Lília era uma mulher ruiva de meia idade, cheia de rugas e
com expressão cansada; Payne, por sua vez, tomou-lhe mais
tempo. Mas afinal aparentava ser um camponês alto e
gordo, de grandes bigodes e óculos, cinquentão e enrugado.
— Nem sua mãe o reconheceria — brincou o
missionário.
— Foi uma obra magistral — concordou o agente. —
Mas, por que faz tudo isso? Que seja pela amizade que
dedica a Lília, está certo. Mas isso é pouco para convencer-
me. Sejam sinceros: vocês pertencem ao Intelligence
Service, não é?
Os dois trocaram um olhar:
— Pode dizer, Lília — falou o velho.
— Sim, Payne. Somos agentes do Intelligence Service.
Aquela confissão o tranquilizou. Pelo que via, contava
com bons amigos na Pérsia. No entanto, mais tarde iria
descobrir que Lília P. Blanchard e o missionário Brint
continuavam mentindo...
***
Numa ensolarada manhã de março, um casal de
estrangeiros hospedou-se numa estalagem de terceira classe,
na cidade de Tabriz. Ninguém lhes deu atenção.
— Você voltará para Teerã, Lília. Não quero expô-la a
novos perigos.
— Esta mesma tarde sairei para Baku.
— Baku? Por quê? Tem autorização das autoridades
russas?
— Olhe — e exibiu um passaporte visado pelo
consulado soviético do Cairo.
— Um passaporte para lua-de-mel! E você me disse que
é solteira — surpreendeu-se Payne.
— E não menti. Enquanto durar esta excursão, meu
marido será você.
— Eu? Você está louca! Irei a Baku, mas sozinho —
protestou Payne. Na verdade, as intenções da jovem não lhe
convinham. — Não estou ligado a nenhum compromisso
com o Intelligence Service.
— Podemos formalizar um acordo. Londres lhe pagará
um monte de libras.
— Não posso aceitar.
— Por quê? Pertence a alguma organização que o
impede de trabalhar para a Inglaterra?
Aquela pergunta era muito hábil, e Payne o percebeu.
Embora estivesse certa de que um companheiro era agente
da CIA, não o revelava. Esperava que ele mesmo o
confessasse.
— Sim; trabalho por conta de Paris — mentiu ele, de má
vontade.
Lilia meneou a cabeça, fazendo um muxoxo:
— Está bem, amigo Payne. Vejo que minha franqueza
não obteve reciprocidade. Não mereço sua confiança, não
é?
— Olhe, Lilia. Sinto grande admiração por você, mas
existem circunstâncias que me impedem de ser mais claro.
Por enquanto, contente-se em saber que sou norte-
americano.
— Então, responda a só mais uma pergunta: está
disposto a entregar a Washington a informação que obtiver
na Rússia?
— Claro que sim! O que quero saber é se Londres estará
de acordo...
— Está. Lutamos pelo mesmo objetivo, às vezes por
meios diversos.
— Então... Vá lá! Vamos juntos a Baku.
***
A fronteira russa estava diante deles, guarnecida por
numerosos soldados com capacetes de aço. Payne mostrou
seus passaportes.
— Georgianos, hem? — murmurou o oficial, lendo os
documentos. — Qual é o ponto de destino?
— Está ai no passaporte: Sebastopol.
— Por que não passaram pelos Dardanelos? — insistiu o
oficial, estudando minuciosamente as folhas da
documentação. — Deram uma volta bem grande.
— Eu quis visitar um irmão que mora em Teerã —
informou Lília.
Passaram. Logo adiante a alfândega os reteve durante
horas. O exame da bagagem foi minucioso, mas sem
imprevistos. A máquina fotográfica especial da CIA,
escondida na maleta do agente, passou despercebida. Era
muito pequena, embora com ela se pudessem obter
ampliações nítidas, em grandes dimensões.
Baku é a Abadan russa, uma cidade que vive ,
exclusivamente em função do petróleo. Ali se localizam as
maiores jazidas soviéticas. É vigiadíssima: a cada dez
metros, com o fuzil ao ombro, um soldado atento; pelas
ruas, passeando discreta e incessantemente, muitos agentes
do governo.
Estrangeiros não podem entrar, pois se negam os vistos,
o que toma perigosíssima qualquer tarefa de espionagem no
local.
O casal Walwruek iniciou seu trabalho naquele mesmo
dia, pois era sua intenção retornar à Pérsia dentro de vinte e
quatro horas. A câmara fotográfica, muito parecida a um
apontador de lápis, foi instalada sob uma casa de botão do '
casaco de Payne, e dessa entranha posição fixou dezenas de
imagens importantes. De cima de um morro, onde pararam
para tomar um lanche durante o passeio pelos arredores,
Payne fotografou o enorme vale vibrante de trabalho, cheio
de torres metálicas e depósitos, donde sai o petróleo que
movimenta todas as atividades da Rússia.
Payne havia tomado várias fotos com a minúscula
câmara, e outras com uma câmara russa de tamanho normal.
Nesse momento um soldado gritou para eles. Aproximou-se
de fuzil apontado, com a baioneta calada, e uma expressão
severa:
— Vão embora daqui! Isto é zona proibida. Fora! —
berrou. — Espere! Vamos ver sua documentação. O que é
isso? Tirando fotografias?
— Que foi, guarda? — falou Payne num russo
impecável. — Há algum perigo?
— Venham ao posto de comando! — respondeu a
sentinela, engatilhando o fuzil.
Recolheram o cesto onde tinham levado a merenda, sob
o olhar impaciente e atento do soldado.
— Depressa! — comandou ele.
Caminharam, escoltados, até uma casamata a cuja porta
se achavam dois soldados. O guarda ordenou que
entrassem:
— Capitão, este casal estava no alto do morro Albric
tirando fotografias. Não sei como chegaram lá.
O oficial estudou-os:
— Não sabem que é zona proibida? Ninguém ignora
isso.
Pegou a câmara de Payne, examinando-a.
— É que acabamos de chegar do Egito.
— Deixem ver os passaportes.
Payne mostrou-os. O oficial não se satisfez com os
documentos.
— Onde viviam antes?
— Em Sebastopol, para onde vamos voltar amanhã.
— Qual é o time de futebol de Sebastopol? A pergunta
era simples, mas muito hábil. Payne hesitava, colhido de
surpresa. Lília não sabia responder.
— O quê? Não sabem? — e um sorriso de triunfo surgiu
no rosto do capitão,
— Creio que é o “Dínamo”. Mas não tenho certeza —
respondeu Payne.
— Claro que não tem certeza! Vocês são espiões a
serviço do capitalismo! Aléxis! — gritou. Um sargento
apareceu: — Leve-os à chefatura. Irei em seguida.
Cinco fuzis os ameaçavam.
— Andem!
Na chefatura, foram submetidos a extenso interrogatório.
O russo estropiado de Lília acabou com as dúvidas dos
policiais. De nada serviu explicar que tinham deixado o
território russo havia muitos anos, tendo ela esquecido um
pouco o idioma.
— São espiões! — gritou o chefe de polícia. —
Prepararam a cartada, porém de nada lhes valerá. As fotos
da zona proibida lhes custarão caro. Levem-nos para a cela.
Esta noite decidiremos o que fazer.
Arnald Payne sabia de antemão que “decidiremos”
significava “morte”. Mas não se assustou, nem Lilia
pareceu perturbada. Tudo fazia parte de um plano bem
estudado. Haviam subido ao morro com a fundada
esperança de serem detidos. A chefatura achava-se instalada
nos sótãos da oficina estatal. No segundo piso, os
engenheiros e técnicos em petróleo trabalhavam até tarde.
E, no mesmo local, tinham certeza de que encontrariam o
objeto de exploração do petróleo persa, unindo-a ao sistema
russo. Esse era o documento de que Arnald Payne queria
umas fotos, que entregaria ao primeiro-ministro persa! Com
tais provas na mão, o político podia convencer seu povo da
autenticidade das maquinações dos vermelhos para
apoderar-se da riqueza petrolífera iraniana. E então seria a
ruína do “Tudeh” e do “Fedeiyan”.
— Está certo de que poderemos sair daqui, Payne? —
perguntou Lília, olhando a cela onde afortunadamente
foram encerrados juntos.
O compartimento era pouco espaçoso e frio, numa
antecipação dos horrores da Sibéria... A tênue luz de uma
lâmpada iluminava parcamente e não contribuía para
melhorar a impressão.
— Lilia, de hoje em diante quero que me chame pelo
primeiro nome. Já que esperamos juntos o pelotão de
fuzilamento e nossos documentos nos dão como casados,
estamos completamente identificados. Não acha?
— Bem, tentarei, Mr. Payne.
Ambos riram. Na realidade, entre os dois havia já uma
ternura que fazia prever para breve a primeira jura de amor.
O tom romântico bailava na voz dele. Nos olhos dela
notava-se uma confiança quieta, quando olhava para ele.
Não importava quem daria o primeiro passo, mas Arnald, o
sisudo americano, foi quem primeiro falou de amor.
— Creio que a amo, Lília...
— Sim? — ela não se surpreendeu.
— Não, não creio. Estou certo! Aconteceu quando a vi
no hotel Excelsior.
— Acho que este não é o lugar nem o momento
adequado — quis desviar-se Lília, nada mais do que mulher
naquele momento, uma mulher como todas.
— Claro que é! — protestou ele.
E mais não esperou para abraçá-la, beijando-a pela
primeira vez. Ela correspondeu desde logo ao beijo,
deixando o calor de seus lábios finos na boca e na face
afogueada de Payne.
— Que bigode áspero! — disse Lília, rindo.
O tempo voava. Os passos da sentinela ecoavam
surdamente no corredor. Ouviram uma descarga e Lília
tremeu nos braços do agente:
— Agora é a nossa vez — murmurou.
— Nos não seremos fuzilados, querida. Tenho um
talismã.
— É impossível. Antes de entrarmos, você foi
inteiramente revistado. E a máquina pequena?
— Está aqui. Não a encontraram.
Duas sentinelas aproximaram-se e abriram a porta de
grades:
— Saiam Vão ser interrogados.
Era a ocasião esperada pelo agente. Sabia que antes da
execução costumavam fazer uma última tentativa com os
prisioneiros. Seria o momento certo para agir. Enquanto
caminhavam à frente dos guardas, o agente passou a mão
direita sobre a fronte, esfregando um olho. A moça não se
deu conta de operação tão insignificante; nem os guardas.
Entretanto, na palma da mão, Payne segurava agora o
talismã maravilhoso, a mesma bolinha que em Teerã dera
tão bom resultado para fugir com Ben Ruizi.
O comandante recebeu-os numa grande sala do primeiro
andar, acompanhado de vários oficiais. Arnald Payne sentiu
um aperto no coração. Ele e Lília estavam disfarçados, mas
havia ali um personagem que o reconheceria: Manneliski.
— Aproximem-se! — gritou o comandante.
Manneliski examinou o velho que tinha diante de si, não
o convencendo a gordura do agente.
— Fique direito! — ordenou, lhe pondo a mão no ventre
e forçando. — Encha o peito!
Pegou a ponta do bigode e puxou. Não conseguiu
desprendê-lo. Payne gemeu:
— Que quer fazer, senhor? — Sua voz era bem a de um
velho russo.
Manneliski, porém, não desistiu: puxou de novo. Desta
vez, o bigode se desprendeu. Em seguida, arrancou os
óculos.
A cara repulsiva de Manneliski estrondou numa
gargalhada:
— Bem que imaginei! — exclamou, falando ao
comandante. — É meu velho conhecido. Vocês erraram:
eles não pertencem ao serviço inglês. São de Washington.
Este indivíduo é Arnald Payne, que há algumas semanas
quis se introduzir no “Fedeiyan”, mas foi desmascarado por
Sônia.
O americano conservava a mão fechada. Limpou com o
dorso dela o suor da fronte, ao mesmo tempo em que
introduzia uma pílula na boca. Tirou um lenço do bolso e,
diante dos olhos sarcásticos de Manneliski e dos outros, que
riam do aparente medo do casal, passou-o no rosto de Lília,
enxugando-lhe o suor. Ela sentiu na língua um minúsculo
corpo adocicado, que logo se desfez.
Tudo estava preparado. Payne deixou cair, então, o
quase imperceptível objeto que segurava na mão. O
poderoso gás, quando ele pisou o grãozinho, espalhou-se no
aposento. O efeito foi imediato. Manneliski, o comandante e
os oficiais não aspiraram duas vezes, antes de cair.
Perderam o conhecimento à primeira inalação, tombando
molemente.
A perplexidade tomou conta de Lília. Não sabia explicar
aquela mudança repentina.
— Creio que o Intelligence Service não tem químicos
tão bons quanto a CIA — disse Payne, ante o espanto da
jovem.
— É maravilhoso, Arnald! — exclamou ela, por fim. —
O que era a pílula que me deu?
— Um antitóxico de ação rápida. Imuniza o organismo
contra qualquer gás. Mesmo contra esse que acabo de
libertar aqui. É uma invenção secreta norte-americana. E o
gás é um soporífero altamente concentrado, que entra pelas
narinas logo que se libera do pequenino invólucro.
Corrompe o ar num segundo.
Payne, enquanto falava, alcançou o telefone interno. Sua
voz mudou de timbre, assemelhando-se à do comandante,
chamando o chefe da guarda:
— Sargento, venha imediatamente com cinco soldados
do corpo de guarda. Diga às sentinelas à minha porta que
também entrem.
Minutos depois, os soldados, tendo à frente o sargento
apresentavam-se, batendo à porta.
— Entrem — disse Payne.
Ele e Lília esconderam-se atrás da porta. Logo que os
militares entraram, uma segunda bolinha espalhou no ar seu
gás. Oito homens caíram.
Depois de trancar a entrada, os dois agentes se
encaminharam ao segundo andar. No escritório do
comandante reinava o silêncio; os homens narcotizados
dormiam profundamente. Quem entrasse diria que ali
houvera uma grande farra, tal a posição grotesca em que se
achavam caídos.
No gabinete do diretor do escritório de engenharia, no
andar superior, havia luz. Um ordenança barrou o caminho
do esquisito casal de velhos, mas Payne se aproximou
timidamente e não houve palavras, pois um murro
inesperado quebrou a mandíbula do guarda. Arrastou-o para
um canto escuro, enquanto Lília vigiava o corredor.
Entraram no gabinete empunhando as pistolas que
haviam tomado aos oficiais. O diretor, que naquele
momento assinava uns papéis, sobressaltou-se. Demorou
alguns segundos para entender que estava sendo assaltado.
— Levante as mãos! — exigiu Payne.
— Que é isso? Vão embora! — protestou o diretor, sem
deixar, no entanto, de obedecer e erguer os braços
compridos.
— Abra o cofre! Depressa!
O agente encostou o cano da pistola russa nas costas do
homem, empurrando-o. Lília, no umbral da porta, vigiava.
O diretor hesitou um pouco, acabando por aceder ao
desejo do intruso. Abrir o cofre lhe custaria a destituição e
um julgamento sumário. As autoridades considerá-lo-iam
covarde, e certamente haveriam de passá-lo pelas armas. De
qualquer modo, adiava a morte...
— Depressa! — insistiu Payne.
Ameaçou apertar o gatilho, e o medo transpareceu no
rosto do diretor. Rubro de cólera e temor, o russo perdia as
estribeiras, desesperava-se ao imaginar as consequências de
seu ato.
Aberto o cofre, Payne espalhou no chão os documentos.
O momento exigia rapidez e precisão. Encontrou logo o que
procurava, e diante do diretor espantado tirou do blusão a
minúscula câmara, fotografando os papéis. Na verdade, não
lhe interessava levar aquele volumoso maço. Seria difícil
fugir com tal volume.
Prosseguindo no trabalho meticuloso, extraiu o filme da
máquina. O rolo não media mais de meio centímetro.
— Venha conosco — disse ao diretor, que havia olhado
tudo aquilo com muita curiosidade. — Ao menor
movimento em falso, meto-lhe uma bala no coração. Você
falará comigo como a um velho amigo, entendeu? Lília,
você será a amiguinha de nosso caro diretor.
O homem não tinha escolha. Não podia opor-se, a não
ser que cometesse um ato desesperada com possibilidades
mínimas de sair com vida. A coragem para isso, entretanto,
lhe faltava. Optou, pois, pela sensatez da obediência.
Lília, a velha russa de cabelos ruivos, pendurou-se num
braço dele como se fosse uma amante ocasional, faceira e
espalhafatosa, e Payne caminhou atrás dos dois.
Desceram ao térreo.
— Sorria — exigiu a moça em voz baixa ao ver um
grupo de funcionários conversando, na salda. O alarma,
pelo que se via, ainda não fora dado — Diga alguma coisa
amável a esses aí.
— Até amanhã, amigos — disse o diretor, com a melhor
entonação de que foi capaz.
Os funcionários estranharam, embora sem fazer
comentários. Para sorte de Lília e Payne, o diretor era
conhecido como conquistador barato, e nem a idade da
ruiva que o acompanhava causou estranheza.
As sentinelas, mais adiante, saudaram cordialmente o
trio. O diretor correspondeu com palavras amáveis.
Minutos depois, a escuridão os encobriu, já fora da
cidade industrial. Payne assestou um golpe na cabeça do
refém, deixando-o desacordado. Já não lhes servia para
nada, após o grande serviço que prestara.
Restava muito por vencer, ainda. A fronteira entre Baku
e o Azerbaidjão é muito bem vigiada.
— Pensou em algum modo de sairmos daqui? —
perguntou a moça, enquanto caminhavam meditando sobre
a maneira de escapar.
— Ainda não encontrei a solução — respondeu ele,
olhando em redor, temeroso de que alguém já os estivesse
caçando.
— Que podemos fazer, Arnald? — insistiu ela.
— Deixe-me pensar, Lília. Temos toda a noite. Agora o
que temos a fazer é esconder-nos fora do alcance dos
guardas.
Caminharam bastante. Num campo de feno, procuraram
o local mais oculto, passando a noite sem dormir, pois fazia
frio.
CAPÍTULO SEXTO
Fuga milagrosa, ainda sob o manto de Deus
O perigo ronda em Tabriz
Uma nova modalidade esportiva...
Ao longo de vinte quilômetros de fronteira, regimentos
inteiros do exército e da polícia, além de numerosos
vigilantes civis, foram destacados para impedir a fuga dos
agentes ocidentais. Foi uma mobilização geral, não ficando
uma só habitação de Baku sem ser revistada.
Payne e Lília perceberam aquele ambiente febril,
sentindo anuviar-se o porvir. Pela estrada próxima do
campo onde estavam, passavam caminhões lotados de
militares, cujo número daria para vigiar-cada palmo da linha
divisória. Payne não imaginava, porém, que o momento
fosse tão grave. Do lugar onde se encontravam escondidos,
na plantação de feno, podiam acompanhar com a vista a
fronteira onde os soldados formigavam.
— Se pudéssemos alcançar o monte...
— Nada adiantaria, Lília — raciocinou Payne, obcecado
pela ideia de achar um caminho mais viável que os
conduzisse à Pérsia. — A montanha está coalhada de
casamatas, e as sentinelas devem ter ordem de atirar antes
de falar.
— Mas temos de tentar! — replicou Lília. — Não confia
na minha intuição, Arnald?
— As improvisações sempre trazem consequências
desagradáveis — filosofou o agente. E erguendo a cabeça
por cima das plantas: — Veja: as sentinelas não nos
deixariam dar um passo.
— Sim, se nos pusermos de pé. Se formos devagar, a
coisa será diferente. Vamos, siga-me!
Payne seguiu-a, embora de má vontade. Arrastando-se e
ferindo-se às vezes no solo áspero, avançaram alguns
metros.
Em dado momento, já à beira da estrada, ele pediu
silêncio:
— Estão muito perto. Parece que Manneliski e o chefe
de polícia estão com esse grupo.
— Pensei que dormissem mais tempo.
— O efeito não perdura por tantas horas. E depois, eles
foram narcotizados ontem às nove da noite e...
Calou-se, imóvel. Lília empalideceu. Haviam
repentinamente compreendido que não sairiam da
armadilha. Bem perto dali, um cão ladrava iradamente. Um
arrepio enregelou o sangue da moça, quando viu o cão
aproximar-se, farejando na plantação. Era um soberbo
animal. Chegou, olhou-os... e não os denunciou. Deu umas
voltas em redor dos dois, lambendo o focinho e
respondendo quando outros cães, mais distantes, latiam.
Payne o acariciou, quando novamente se aproximou dos
fugitivos. Parecia cativar o belo animal com as cócegas e
carícias.
— Sou simpático, não acha, Lília?
— Se Manneliski e os outros também pudessem ser
conquistados assim...
— Foi uma sorte bem grande. Se ele nos denunciasse,
seriamos metralhados.
O resto da matilha, farejando o terreno, subiu em direção
do semicírculo que as montanhas formavam. Sem dúvida
haviam confundido o cheiro das sentinelas com o dos
fugitivos. O grupo do comandante foi afastando-se, e o cão
permanecia com Payne, aceitando suas carícias, esquecido
de seus donos.
Payne nunca soube explicar aquele quase milagre. O
certo é que o cão ficava com eles. Durante a calada da noite,
muito os ajudou aquele maravilhoso companheiro na fuga
para território livre.
***
O sol desaparecera num horizonte vermelho.
Condensaram-se as sombras da noite sem lua.
— Chegou o momento de agir, querida — disse Payne,
pondo-se de pé. — Não podemos esperar mais. Pegue a
pistola. Não ficaremos nem mais uma hora na Rússia.
— É o que temos a fazer — concordou ela. — Esta
solidão, esperando uma chuva de balas, me enerva. É
melhor enfrentar a morte, jogar a cartada.
— É melhor.
Arnald apanhou o cão pela coleira. Ele não resistiu,
uivando carinhosamente. Só aquilo já assustava Lília agora.
— Faça o calar — falou ela.
Mas o cão já silenciara, ao sentir o tom irado da moça.
Foram subindo pelas ladeiras. A trilha era abrupta e
inclinada, e para vencer a subida a Jovem tinha de recorrer a
todas as forças.
Subitamente, um grito rompeu o silêncio noturno:
— Alto! — era uma sentinela quem gritava, ao ver um
vulto mover-se.
Não esperou resposta. Disparou, segundo a ordem
recebida. Não tendo surtido efeito o primeiro tiro, voltou a
atirar e provocou o alarma. O cão, ouvindo as detonações,
enfureceu-se, e Payne precisou soltá-lo. A sentinela
confundiu-o com uma pessoa. Correu atrás dele encosta
abaixo, atirando sempre.
Payne percebeu logo o espaço que ficara sem vigia.
— Depressa, Lília! Vamos passar!
Pegou-lhe a mão. Correram, curvados para não serem
vistos. Lília não suportava mais o esforço. Arnald ouvia-a
resfolegar forte e prolongadamente, como a ponto de cair
sem vida.
— Vamos! — incitava-a.
— Não poderei chegar lá em cima! Estou extenuada!
— Só mais um esforço Lília! Não pare!
Os gritos dos perseguidores espalhavam-se pelo sopé do
monte, e acima dele já se faziam ouvir movimentos e vozes
de comando.
O chefe do destacamento de fronteira pediu reforços,
organizando imediata busca aos fugitivos. A sentinela que
havia disparado o primeiro tiro Conseguiu alcançar, por
fim, o cão ferido.
— Capitão, é o cão que fugiu esta tarde. Mas tenho
certeza de que havia outros vultos com ele, e não eram cães.
Escutei falarem em língua estranha, talvez inglês ou
alemão.
— Está bem, continuem procurando. Se for preciso,
passaremos além da fronteira. Há ordens terminantes de não
os deixar fugir. Quem os matar ganhará mil rublos!
A promessa entusiasmou os guardas. Redobraram de
atenção aguçando a vista e revolvendo o mato rasteiro. E
um deles surgiu repentinamente a dois passos dos
ocidentais. Disparou. O projétil sibilou no ouvido de Payne,
que apertara o gatilho de sua pistola ao mesmo tempo. O
soldado rodopiou, já agonizante, encosta abaixo.
— Corra! — animou Payne.
Lília aproveitara a pausa para descansar, sentada.
— Meus pés estão sangrando — queixou-se. — Perdi os
sapatos.
— Deixe-os! — exclamou o agente, agarrando- lhe um
braço.
Meteram-se por uma fenda, Lília a ponto de desfalecer.
Para sorte deles, aquela reentrância os levou ao cume
cuja vertente oposta já era território persa.
— Não posso mais, Arnald! — gemeu a moça. — Salve-
se! A missão foi cumprida. Meus pés não me obedecem.
— Pensa que posso abandoná-la? — sussurrou Payne.
— Vamos. Eu a levarei.
— Não! Você está em serviço! Os sentimentos pessoais
não contam!
— Escute aqui, eu sou um homem, não um monstro!
Você precisa de ajuda, e eu a ajudarei, queira ou não!
Tomou-a nos braços. Naquele instante soou um tiro.
Haviam-nos descoberto de novo. Cinco ou seis guardas,
comandados por um sargento os seguiam de perto. Payne
vacilou: devia cumprir a ordem de entregar o microfilme em
Teerã, abandonando a companheira?
Correu como um louco, levando Lilia nos braços. Em
dado momento foi de encontro a uma árvore, viu-se caindo,
mas logo restabelecia o equilíbrio, continuando a
desesperada corrida. Chegou a uma encosta abrupta. Não
havendo outro caminho, decidiu descê-la de qualquer modo.
Depositou a angustiada jovem na borda.
— Vamos rolar, Lilia! — falou quase sem fôlego.
— Atirem! — gritou uma voz atrás deles.
Uma descarga cerrada, simultânea, iluminou por um
instante a noite. Payne e a moça caíram ao mesmo tempo,
rolando sem controle, cada vez mais rápido, pela encosta
inclinadíssima.
Arrastando os arbustos do caminho, machucando-se nas
pedras, Arnald Payne foi o último a perder os sentidos.
Mesmo o longo treinamento para resistir a qualquer espécie
de castigo, na Academia Especial de Langley, não pôde
preservá-lo. Uma cabeçada mais forte numa pedra acabou
por vencê-lo.
***
As sentinelas não descansaram na procura do audacioso
casal. Ao chegar a claridade diurna insistiram na busca
inútil: Lília e Arnald tinham desaparecido. Finalmente, o
contrariado sargento, resmungando as piores palavras que
conhecia, informou o capitão dos resultados negativos. Teve
que retornar ao seu território sem levar nem mesmo um
troféu dos espiões.
Os dois, àquela hora, estavam em terras do Xá da Pérsia,
o solo do Azerbaidjão.
A primeira figura que os olhos de Payne vislumbraram,
ao voltar a si, foi a de uma grande mão cujos longos dedos
lhe aplicavam curativos na cabeça. Volvendo o olhar, quase
sem mover a cabeça, deparou com Lília imóvel, deitada em
outra cama, braços e pernas envoltos em gazes e ataduras.
— Está viva? — perguntou, ansioso.
Um velho de sorriso largo e suave lhe afagou o ombro:
— Não se preocupe, amigo Payne. Ela está bem. Apenas
machucou um pouco os pés.
— Obrigado, Mr. Brint! — disse, dando-lhe a mão. —
Mas, como viemos para cá? Foi o senhor quem nos tirou
daquele inferno?
— Bem, rapaz. Não me afogue com tantas perguntas.
Foi uma coisa esquisita... Vocês caíram em território persa.
Choveram do céu.
— Chovemos? Não entendo. Recordo-me de que... Não,
não me lembro. — O agente fez um esforço para evocar os
acontecimentos. — Espere... Sim, nós caímos por uma
encosta quando atiraram contra nós. Lília está ferida?
— Já lhe disse que não — repetiu o velho. — Uns
amigos persas, dos batalhões de fronteira, avisaram-me da
inacreditável chegada de vocês dois. A fronteira está a dez
quilômetros daqui. Foi fácil trazê-los à minha casa.
— E, por acaso, não estaria o senhor lá esperando por
nós?
— Bem, que importa? O principal é que estão a salvo.
O agente não fez mais perguntas. Mas presumiu, por
toda evidência, que Brint, o pretenso missionário, tinha
organizado uma excursão à montanha antes que os
acontecimentos se produzissem na fronteira russa. Aquilo
tornava claro que o velho fora avisado por Lília, antes da
partida dos dois agentes para a fabulosa aventura.
Arnald Payne quis sair imediatamente para a capital.
Devia entregar com urgência o microfilme.
Seu desejo, no entanto, ia defrontar-se com os de Sônia
Lubriski. A inimiga, informada por Manneliski, que já
voltara a Tabriz, tentaria impedi-lo de chegar a Teerã.
Payne e Lília, já medicados e repousados dispunham-se
a fazer uma refeição rápida, para partir em seguida. A
viagem era longa e discutiam se não seria melhor evitar
Tabriz. Não podiam supor que Sônia, Manneliski e Batal El
Juri estivessem tão perto deles. Na verdade, os inimigos
estavam observando, sorridentes, atrás de uma janela
envidraçada que dava para um jardinzinho.
Como se explicava que o cão de Brint não os tivesse
denunciado, se nunca deixava o jardim e tantas vezes já
pusera assaltantes ocasionais em fuga? Haviam-lhe dado um
naco de carne envenenada, o que lhes facilitou alcançarem a
janela.
Batal quebrou os vidros, e no mesmo instante três
pistolas se enfiaram pela janela. Os três comiam
despreocupadamente e seu espanto foi total.
— Abram a porta — gritou Batal.
Brint ergueu-se, apanhando a chave. Sônia entrou, os
olhos azuis lançando chamas.
— Alô, amiguinha! — saudou com um riso hipócrita. —
Afinal nos encontramos frente a frente. Pode crer que eu
ansiava por este momento. Mas vejo que não está em boas
condições físicas. Que lhe aconteceu? Brigou com o querido
noivinho?
— Como você está loquaz esta tarde, Sônia! —
exclamou Payne, tranquilo, sem levantar-se da mesa.
Continuava comendo com apetite. — Já recebeu a
informação do diretor do escritório estatal do petróleo,
creio,
— Levante-se! E você, missionário, venha também.
— Precisamos apertar os parafusos nesse missionário —
sugeriu Batal — o disfarce dele é muito bom, mas não nos
engana mais.
Saindo, encontraram nas imediações um automóvel que
os esperava. Não seguiram pela estrada, mas através do
campo acidentado, rumando para Tabriz. As pistolas de
Sônia e seus sequazes ameaçavam os cativos, e via-se que
não hesitariam em apertar os gatilhos a qualquer movimento
em falso. Lília e Brint iam amarrados um ao outro; Payne,
quieto, estava entre dois olhares ferozes.
Em Tabriz, desceram à porta do edifício mais alto da rua
Abdema, deserta àquela hora. A cidade parecia em estado
de sítio, com as luzes apagadas e muito pouco movimento.
De vez em quando passava um homem solitário. Não se
podia dizer se aqueles homens eram do “Tudeh”, senhor de
fato da cidade, ou policiais, aos quais era difícil manter a
ordem.
Payne não encontrou oportunidade para empregar sua
inteligência ou sua força, enquanto durou a corrida. Batal
mantivera bem junto de sua cabeça a pistola, causando-lhe
uma sensação desagradável a cada solavanco do apertado
veículo.
Subiram ao primeiro andar do edifício. O americano
estava certo de que eram conduzidos a uma câmara de
torturas. E não se equivocava: atados os três em cadeiras
diferentes, em posição muito incômoda, Sônia começou o
interrogatório. Batal e Abdul andavam de um lado para
outro, enervando o agente com aqueles movimentos
impacientes. Antes de amarrá-los, haviam revistado cada
centímetro de seus corpos e de suas roupas. Mesmo Lilia
teve de despir-se para que Sônia a examinasse.
— Payne, sabemos que você fotografou certos
documentos que estavam sob a guarda do chefe de
planejamento do petróleo — disse a mulher, sentada em
frente do americano, do outro lado da escrivaninha.
Do outro lado, sob a intensa luz de uma lâmpada, Payne
mal suportava a dor nos olhos.
— Responda!
— Não posso falar! Apaguem a lâmpada ou vão deixar-
me cego! — protestou, cerrando os olhos.
Manneliski o golpeou na cabeça.
— Abra os olhos! — ordenou. — Responda à pergunta.
— Não sei nada. Já me revistaram.
— Você escondeu as fotografias em algum lugar. Diga
onde foi!
— É inútil torturar-me. Um mensageiro levou o
microfilme para Teerã. A esta hora o primeiro-ministro já
deve tê-lo em seu poder.
— Não creio, Payne. Tenho certeza de que o filme ainda
está com você.
E dizendo isso, seus olhos azuis cravaram-se nos de
Payne, que mal podia mantê-los abertos. Sônia teve um
estremecimento de alegria, pois o que estava observando era
fantástico. O olho esquerdo do agente deitava lágrimas,
formando um risco na face, ao lado do nariz. O direito,
entretanto, continuava brilhante e seco.
— Payne, parece-me que descobri seu maravilhoso
esconderijo — disse jubilosamente.
— Sim?
Ela se ergueu, aproximando-se. Quis tocar o olho, mas o
prisioneiro fechou as pálpebras.
— Rapazes, creio que descobri o maior segredo da
Central Inteligence Agency! — exclamou.
Da boca do agente escapou um insulto feroz. Com
efeito, a diabólica mulher descobrira seu grande segredo, o
talismã que o livrara tantas vezes da morte, que o livrara de
tantos obstáculos. Essa maravilha estava agora à mercê de
Sônia Lubriski, a agente da espionagem russa no Oriente
Médio.
Sônia introduziu o fino dedo na parte superior da
cavidade ocular, extraindo um objeto reluzente e oco.
— Olhem. Este é o segredo do nosso amigo — e ela
mostrava um olho artificial.
— Que fez você? Arrancou-o! — perguntou Batal,
incrédulo.
— Sim, eu o arranquei, mas a operação foi fácil. Não
precisei fazer mais do que meter o dedo... e pronto! O olho
caiu na minha mão. Ele nada sofreu, e eu não precisei usar
nenhum bisturi. Não é verdade, Mr. Payne?
Pela primeira vez na sua vida, o agente estava tomado
completamente pela fúria incontrolável. Desesperado e
trêmulo, lutava por livrar-se das cordas. Desta vez tinha de
libertar-se à força, mais do que recorrendo à inteligência.
Acabara-se o recurso à bolinha milagrosa. Não podia
recorrer aos gases lançados de surpresa nas narinas dos
inimigos. Entre os dedos de Sônia, sua vencedora, estava o
olho artificial fabricado especialmente para ele.
Era um olho postiço, mas perfeito. Movia-se na órbita
como qualquer olho verdadeiro, pois as extremidades dos
nervos oculares articulavam-se com o finíssimo aparelho de
mecânica perfeita. Igual ao esquerdo em tamanho e cor, a
semelhança era total.
Uma golfada de sangue quente lhe subiu ao rosto. Ele
aproveitara a perda do precioso órgão para dessa maneira
habilitar-se a realizar as tarefas mais difíceis. As revistas de
que nenhum outro podia escapar, Arnald Payne sempre
vencera. Podiam procurar em cada centímetro de seu corpo,
entre os dedos dos pós, nos ouvidos, nos cabelos, mas nunca
havia ocorrido a alguém examinar seus olhos. O olho
artificial, tão perfeito, era sempre sua salvação. Debaixo
dele, quase impossível de encontrar, o agente levava seu
arsenal em miniatura. Como pudera aquela mulher ser tão
perspicaz?
De qualquer maneira, estava descoberto. O olho postiço
era oco — tal como todos os olhos falsos — e o espaço
vazio lhe servia para guardar os mais variados objetos.
Bolinhas de gás, antídotos e microfilmes podiam ser
encontrados ali, quase sempre, quando estava em serviço.
Lília e Brint seguiam a cena sem pestanejar. A jovem
compreendia, agora, muitas coisas que a haviam intrigado.
— Já viu seu noivo com um olho só, Lília? — perguntou
Sônia, fazendo sinal a Batal para que aproximasse a cadeira
na qual ela estava amarrada.
O olho verdadeiro de Payne, ofuscado pelo foco,
mantinha-se fechado, e no lado oposto aparecia um buraco
escuro, parcialmente encoberto pela pálpebra solta.
Lília não disse uma palavra. Na verdade, a situação era
tensa e exasperante. Sônia tinha nas mãos as provas
documentais que, se houvessem chegado ao governo de
Teerã, desmantelariam a ação dos partidários da
nacionalização fingida do petróleo. Se o povo tomasse
conhecimento das provas, eles perderiam seus adeptos. E
Sônia ia destruir o microfilme comprometedor.
— Dê-me um fósforo — pediu aos companheiros. —
Vou fazê-lo desaparecer.
Nem Manneliski nem Batal tinham fósforos.
— Não importa. Acho que tenho um isqueiro — e ela
procurou no bolso, tirando um minúsculo objeto.
Acendeu-o. A película estava na outra mão, e o olho
postiço sobre a mesa. Os dentes de Payne rangeram. Toda
uma façanha, aparentemente impossível, mas coroada de
êxito, ia ser destruída num instante.
Lília e Brint seguiam seus movimentos, certos de que o
companheiro tentaria uma derradeira luta contra a
adversidade. Mas, para grande infelicidade sua, o agente
não contava com nenhum fator favorável. E Manneliski,
bem como Batal, empunhavam suas pistolas. Não deixariam
que ele impedisse Sônia de queimar a película.
Arnald Payne conseguiu libertar uma das mãos. O
infortúnio lhe deu forças para levantar-se, embora ainda
atado à cadeira. Estendeu rapidamente a mão, arrebatando o
objeto precioso que a mulher estava prestes a queimar:
— Fique quieto ou atiro! — intimou Manneliski.
Ele disparou, ao ver que Payne não parava. O projétil
quebrou o assento da cadeira, chamuscando a calça do
prisioneiro. Este, arrastando a cadeira, correu para a janela,
a dois metros de distância. Ninguém esperava por isso, nem
mesmo Lilia, pois a façanha parecia impossível. Mas Payne
não parou. Bateu com os pés do móvel na vidraça,
rompendo-a. Em seguida, desapareceu, caindo. A cena foi
dramática, insana. Os cinco personagens, embora dois deles
per motivos diferentes dos demais, ficaram pasmados, sem
raciocinar tão rapidamente como pedia a gravidade do
momento. Quando Batal chegou janela, disposto a atirar, o
fugitivo corria, cambaleando, a uma boa distância.
— Salte e siga-o! — ordenou Sônia ao careca.
Batal calculou a altura que o separava da rua. Eram
quatro metros. Ele hesitou. Para saltar dali seria preciso que
o desespero lhe tirasse a razão. Um homem não salta quatro
metros se não for obrigado por uma causa muito forte. Para
livrar-se da morte, por exemplo.
— Sairei pela porta — disse.
— Covarde!
Sônia enfurecia-se mais. Não pensou duas vezes: atirou
certeiramente em Batal El Juri, o cabeça do “Fedeiyan”. O
homem dobrou os joelhos, já perto da saída, olhando-a com
indescritível ódio e espanto, e exalando o derradeiro sopro
de vida.
— Eu irei — disse Manneliski, o qual seguia as cenas
em atitude calma. — Darei uma batida em toda a cidade.
— Vá logo. Diga aos nossos que venham aqui. Preciso
falar-lhes.
Sônia sentou-se, olhando sinistramente sua rival de
profissão.
— Você não poderá escapar, e ele voltará por sua causa.
Cairá em minhas mãos. Terá que lutar comigo frente a
frente, mas você não chegará a ver isso, Lília Pawlew
Blanchard. Você não verá isso!
Parecia delirar, enlouquecida pelo desespero. Um ricto
de ódio lhe desfigurava a boca, retorcendo-a freneticamente.
Num ângulo da mesa, o olho côncavo reluzia. Era o
olho-talismã de Arnald Payne, o fugitivo que se atrevera a
saltar quatro metros, quebrando uma cadeira contra o
cimento da calcada.
CAPÍTULO SÉTIMO
A missão cumprida, agora é a vez do coração
Luta de vida ou morte, ao sol do Iran
O sepulcro da era mecanizada
Hassan Ala recebeu imediatamente o americano.
Recebeu-o ainda na cama, estendendo-lhe a mão bem
cuidada.
— Teve sorte, Mr. Payne? — perguntou, e via-se que
procurava controlar uma grande curiosidade.
— Custou um pouco, mas consegui — respondeu o
agente, sorrindo e indicando um olho vendado. — Tem de
enviá-lo hoje mesmo. O conteúdo é sensacional, posso
assegurar.
Entregou-lhe o filme, que o persa examinou
cuidadosamente. Seus olhos brilhavam com inusitado
fulgor: aquele insignificante rolo continha o mais
transcendental documento da espionagem moderna.
— Sim, sim. Enviá-lo-ei dentro de duas horas, por mala
diplomática, a Ancara. Não se preocupe, Mr. Payne: ele
chegará ao destino — e lhe dou umas palmadinhas no
ombro, levantando-se do leito.
— Creio que a KPA está desarticulada — disso Payne.
— Agora mesmo voltarei a Tabriz. Tenho de libertar dois
amigos e descobrir quem é o cabeça da organização.
— Tome cuidado. Não se exponha, agora que triunfou.
Quem são esses amigos? — indagou Hassan Ala, franzindo
a testa.
— Um deles é a moça em quem lhe falei. Equivocou-se
inteiramente, senhor Hassan. Lilia pertence ao Intelligence
Service.
— Quem diria! Está seguro disso? Eu lhe recomendaria
que continuasse a desconfiar dela.
Payne não lhe fez caso. Foi ao hotel Excelsior onde
trocou de roupa. De uma caixinha acolchoada tirou um olho
novo, que pôs no lugar certo. Carregou a pistola
sobressalente, tomando a sair com destino a Tabriz.
Sua missão estava cumprida. O diretor do OSS não
podia censurá-lo pelo que agora fizesse. Sua estada em
Teerã já não tinha objetivo, pois a missão de desarticular a
ação da espionagem russa na Pérsia terminara. O petróleo
iraniano continuaria ocidental!
O triunfo estava assegurado, a vitória da CIA: mas não a
de seu coração. Voltava a Tabriz para resgatar seus dois
amigos.
Ao meio-dia, chegou à cidade das revoltas. Passeou pela
rua Abdema, sem desviar os olhos do prédio que sobressaia
entre todos os outros. Os cacos de vidro que derrubara à rua
ainda permaneciam no local, bem como os restos da
cadeira, e a janela não fora consertada.
Subiu, decidido. Levava pronta a arma, no bolso da
calça. Nenhuma das pessoas que encontrou lhe dirigiu a
palavra, ou sequer demonstrou interesse por ele. Deu um
pontapé na porta do primeiro andar, onde supunha encontrar
algum dos inimigos. Não havia ninguém ali, contudo.
De repente, ouviu passos. Escondeu-se ao lado da porta.
Uma mulher pobremente vestida, trazendo um balde,
ajoelhou-se, espalhando sabão no piso e esfregando com
uns trapos.
— Que está fazendo? — indagou Payne.
A mulher voltou-se vivamente:
— O senhor Abdul me mandou limpar!
O americano fitou a mancha. Um nó sufocante lhe subiu
à garganta. O que a servente queria limpar era sangue, o
sangue de Batal El Juri. Mas Payne, que ignorava a morte
do esbirro de Sônia, supôs o pior, isto é, que Lília fora
assassinada.
— Onde está Abdul?
— Não sei. Quando cheguei, eles saíam de automóvel.
Foram para aquele lado — e indicou a direção dos campos
de petróleo.
Payne não quis saber mais. Tinha de agir sem perda de
tempo. Conhecia o local de reunião do estado-maior de
Sônia Lubriski. Saiu a correr.
Alcançando o poço, não viu ali nenhuma pessoa. Diante
do galpão já não havia sinal do patíbulo.
O elevador levou-o para baixo. As lâmpadas da galeria
bruxuleavam na escuridão. Seguiu com grandes precauções,
embora não visse nenhum movimento. No covil dos
inimigos, acendeu a luz; mas também aquela sala estava
deserta.
Tornou a subir, maldizendo o tempo que perdera.
No sopé dos montes, divisou a casa branca do velho
Brint. À porta, pôde distinguir um vulto negro. Verificou,
com o óculo de alcance, que se tratava de um automóvel. E
o desejo de salvar Lilia o empurrou para lá.
Súbito, porém, sete indivíduos saltaram à sua frente,
revólveres nas mãos. Viu-os sair de entre os arbustos, todos
ao mesmo tempo. Era impossível atirar, pois não
conseguiria derrubar todos antes de ser atingido.
— Solte a automática, Payne! — gritou um deles.
Jogou fora a arma. Manneliski aproximou-se.
— Que imbecil você é! — sorriu o russo. — Caiu como
um trouxa. Pensou que iriamos permitir que livrasse os seus
amigos?
Dirigiram-se para a casa. Payne seguia à frente, o
cérebro trabalhando em busca de solução para o impasse.
— A jogada está perdida, meu amigo. Sua propaganda
não convence mais o povo. É melhor que saia da Pérsia
antes que os verdadeiros nacionalistas se voltem contra
vocês...
— Isso ainda veremos. Não cante vitória antes do
tempo! — e o russo lhe aplicou um pontapé nas pernas.
Payne dobrou os joelhos, caindo.
— De nada lhe vai servir a violência! — exclamou o
agente. — Ainda vamos defrontar-nos em igualdade de
condições. E vou reservar-lhe o melhor golpe.
— Você é um fanfarrão incorrigível! Se quiser encrenca,
não precisamos esperar mais. Vamos, defenda-se!
Aplicou-lhe um soco no queixo, atingindo em seguida
com o outro punho o estômago do agente. Payne
cambaleou, mas não chegou a cair.
O americano parecia mais fraco do que seu adversário,
corpulento e todo músculos, com um rosto bestial. Payne,
mais alto, era muito menos musculoso. No entanto, ganhava
em agilidade o que perdia em força. Como o aço de
Pittsburg, era mais leve e resistente que o ferro.
O agente conseguiu por sua vez atingir-lhe o rosto,
derrubando-o. Transido de dor, com um fio de sangue
escorrendo da boca, Manneliski ergueu-se, mais selvagem
do que nunca, incitado pelos gritos inflamados de seus
companheiros.
— Quebre-lhe o crânio! — gritou um, que, como quase
todos os outros, mantinha o revólver pronto para atirar.
— Não perca a calma, Manneliski! Isso foi um golpe de
sorte — animou outro, que sentara numa pedra, vibrando
com a luta.
— Calem-se! Não preciso de conselhos! — protestou o
russo, dando uns passos e ficando em posição de
arremessar-se contra o ágil rival.
Os dois se engalfinharam num corpo-a-corpo
formidável, os braços cruzando-se como troncos. O russo,
de repente, agarrou o adversário pela cintura, procurando
quebrar-lhe a espinha dorsal. Quais duas feras, erguiam um
ao outro, caíam, sem que qualquer deles fraquejasse.
Sob o inclemente sol da Pérsia, em poucos minutos os
dois transpiravam por todos os poros.
A camisa do russo era uma pasta de lama grudada em
seu corpo.
Payne conseguiu passar o braço direito entre as pernas
do adversário, levantando-o. Atirou-o de cabeça para baixo
ao chão pedregoso, lançando-se sobre ele e aplicando um
torniquete com os braços no pescoço de gorila,
imobilizando-o. Ajustando os joelhos sobre o peito do
russo, foi apertando. Cada vez com mais força, os braços
enlaçados de Payne estrangulavam Manneliski. Vários
minutos passaram, e então ele se deu conta de que o russo
estava imóvel e frouxo sob seu corpo. O lugar-tenente de
Sônia, que tantas vezes o maltratara, sucumbira. Seus olhos,
donde o sangue parecia querer saltar, muito abertos,
olhavam sem ver o dia ensolarado.
Os seis homens intervieram, separando-o de sua vitima.
O suor e o sangue de suas feridas confundiam- se na
camisa empapada. Estava moído. Dois homens pegaram-lhe
os braços, mas não podiam contê-lo. Somente o
conseguiram quando outros dois lhe imobilizaram as
pernas. Amarraram-no com cintos, os braços atrás das
costas.
Prosseguiram caminho, um deles levando às costas o
cadáver do russo.
Ao abrir a porta, Sônia Lubriski não escondeu seu
assombro. Uma exclamação lhe escapou dos lábios. Ela
observou raivosamente os braços maltratados de Payne.
Logo compreendeu que Manneliski tivera morte violenta.
— Ele o matou? Por que permitiram?
Alguém lhe explicou por alto o sucedido.
— Mas está morto, mesmo? — insistiu ela.
— O americano o estrangulou. Nada pudemos fazer.
— Pois veremos agora se pode com todos nós. Entrem,
mas não o deixem sem vigia. Se fizer qualquer tentativa de
resistência, matem-no imediatamente.
No vestíbulo do chalé de Brint, onde se encontravam,
estavam também Lilia e o velho missionário, sentados no
chão. Um sorriso dançou no rosto da bela jovem, que
pousou em Payne um olhar cheio de encantamento, sem
despregar os lábios. O agente percebeu que ela estava
exauste e sonolenta, quase sem forças para manter os olhos
abertos. Haviam-na interrogado durante toda a noite,
tentando arrancar seus segredos, torturando-a até a
exaustão.
Ali estavam também Abdul e alguns de seus homens,
doze ao todo, contando Sônia e os recém-chegados.
— Tragam os três ao Jardim — disse a chefe.
No pequeno Jardim de Brint havia algumas ferramentas
de pedreiro. Um dos ajudantes apanhou um saco de
cimento, misturou-o com areia e água, formando uma
grossa massa.
Os prisioneiros foram metidos num compartimento
semelhante a uma garagem, desprovido de janelas. De fora,
as pistolas os ameaçavam. Payne estava amarrado, mas não
tão bem que o impossibilitasse de livrar as mãos.
O agente percebeu as intenções de Sônia: iam fechar a
porta! Os prisioneiros seriam emparedados vivos naquele
cubículo!
Um homem foi empilhando tijolos. Manejava a colher
de pedreiro com precisão e rapidez; acabaria o serviço em
poucos minutos, e então os prisioneiros ficariam fechados
ali, sem renovação de ar. Seus pulmões arderiam, e em
breve não poderiam respirar. Seria a morte inexorável, pois
o recinto não tinha ventilação alguma.
Obrigados à imobilidade pelas armas, os três viam
erguer-se a parede. Mais vinte centímetros e a entrada
estaria fechada. O calor intenso do sol encarregar-se-ia de
secar em poucos minutos a argamassa, endurecendo a
parede. Já não se viam os revólveres ameaçadores.
Payne podia golpear a parede, mas de nada serviria, pois
a morte seria imediata, pelas balas.
“Enquanto se pode viver”, pensava ele. “Há esperança”.
O último som exterior que ouviram foi uma gargalhada
dos inimigos, um riso coletivo que gelou o sangue de Lília.
Depois, nada; um silêncio terrível dominou o estreito
recinto. O derradeiro tijolo tapara o buraco por onde entrava
a última porção de ar. A atmosfera, até então pura,
rapidamente se foi tomando abafada.
— Esperaremos quinze minutos — disse Sônia. — É o
tempo suficiente para que morram asfixiados. Se
pretenderem derrubar a entrada, disparem todos juntos.
Quero que esta seja a última vez que se ouça o nome de
Arnald Payne. Seu método infalível de escapar à morte
acabou-se.
Ao falar, seus olhos azuis cintilavam de ódio.
Passaram-se os quinze minutos. De dentro não vinha
sinal de vida. Sônia encostou o ouvido à parede.
— Fiquem quietos!
— Ouve alguma coisa? — indagou Abdul.
— Não. Devem estar mortos! Já podemos ir
tranquilamente — e Sônia sorria com o triunfo.
— Esses americanos hão de saber que a KPA nunca
perde.
Saíram do jardim, olhando para a pequena construção.
Duvidavam ainda de sua vitória. Conheciam a destreza e os
misteriosos recursos de Arnald Payne. Não desdenhavam a
possibilidade de que, tal um titã fabuloso, ele se lançasse
outra vez à luta.
CAPÍTULO OITAVO
Quando não há saída, só a mágica resolve
Corrida contra a morte
O avião errado nem sempre é o errado...
— Levantem-se! Preciso subir em seus ombros!
— Não podemos, Arnald! Passamos a noite em claro,
amarrados. Não temos forças.
— Levantem-se! Disso depende nossa salvação!
Fazia alguns minutos que o sinistro pedreiro terminara a
parede, colocando o último tijolo. Ainda poderiam respirar
durante algum tempo, enquanto o ar não se viciava. Payne,
enquanto o pedreiro trabalhava, dava tratos à inteligência
para achar a ideia salvadora.
— Façam um esforço! Por Deus, Lília, levante os
ombros! — insistiu Payne, que se livrara dos cintos e
libertara em seguida os dois companheiros.
Puseram-se de pé. Os movimentos de Lília eram os de
um autômato dominado pela exaustão. As pernas de Brint
fraquejavam, e o velho mal podia manter-se de pé.
— Resistam, resistam, para salvarmos a vida! —
animou-os Payne, ajudando-os.
Ambos se apoiaram à parede, já respirando com
dificuldade. O americano subiu, colocou um pé no ombro
da jovem, agarrando-se à cabeça de Brint. Ergueu-se, por
fim. Mais o missionário cambaleava, e Lília também
parecia não resistir por muito tempo.
— Mais um minuto! Aguentem mais um minuto!
A moça retesou os músculos, num supremo esforço.
— Apoie o outro pé nos meus ombros, Arnald — disse.
— Brint vai cair.
Payne mudou o pé. A jovem apertou os dentes, fechou
os olhos, exigindo o máximo de seu organismo combalido.
O agente sacou o punhal que levava entre as pernas.
Com a pequena arma, pôs-se a golpear o teto do
compartimento. Em pouco, abrira uma brecha de quase dez
centímetros. O estuque cedia à lâmina. A argamassa caía
sobre eles. Uma fenda ficou desenhada no teto, e uma
golfada de ar penetrou por ali, inundando de oxigênio os
pulmões dos três prisioneiros.
— Agora podemos ficar quantas horas for necessário —
anunciou Payne, descendo e beijando o rosto sem cor de
Lília.
Deu-lhes tempo de recuperarem o fôlego.
— Que faremos, depois? — perguntou Lília.
A luz da esperança voltava a embelezar seu rosto
moreno, e suas pupilas readquiriam o fascínio que encantara
Payne.
— Esperaremos uma hora. O espaço entre o teto e o
telhado é pequeno, mas poderemos sair removendo as telhas
sem fazer barulho.
Quando Payne viu que os companheiros tinham
descansado o suficiente, dispôs-se a subir. Repetiram a
operação, que não exigiu tanto esforço.
Retalhou o teto, conseguindo abrir um espaço para que
pudesse passar. Agarrou-se a uma viga e impulsionou o
corpo para cima, sentando-se e começando a retirar
cuidadosamente as telhas.
— Deem-me os cintos, que eu os puxarei para cima. Não
há inimigo à vista.
***
Chegaram a Tabriz sem percalços.
Sônia não havia considerado necessário deixar
sentinelas. Para quê? Seus inimigos estavam encerrados em
um cubículo, onde morreriam irremediavelmente por
asfixia.
Em Tabriz, Payne não se ocultou; pelo contrário, logo
procurou a luta. Era certo que sua missão estava terminada,
uma vez entregue a Hassan Alá o documento. Mas queria
completar o trabalho, levando às autoridades persas os
provocadores das revoltas e da sabotagem de Abadan. Lília
seguiu-o, mas Brint foi obrigado a ficar no hotel, vencido
pela idade.
Primeiramente, muniram-se de automáticas. Em Tabriz,
quem não trazia consigo uma arma eficiente podia
considerar-se antecipadamente derrotado. Compraram nas
de um comerciante armênio, pondo-se logo no encalço de
Sônia Lubriski e seus esbirros.
Souberam que haviam saído da cidade há pouco tempo,
rumando para Teerã de automóvel. Payne dispôs-se a alugar
um carro, mas Lília lembrou que o “Vanguard” no qual ali
chegara estava guardado na garagem de um hotel.
Puseram-se a caminho, o velocímetro quase atingindo o
máximo.
O cabelo negro de Lília esvoaçava em seu rosto, tangido
pela ventania, fazendo-a tão fascinante que Payne sentiu a
tentação de soltar o volante para acariciar a bela
companheira.
Num posto de gasolina, a cinquenta quilômetros de
Tabriz, um rapaz os informou de que um “Rolls-Royce”
preto, conduzido por uma ruiva, havia passado por ali meia
hora antes.
— Ia lotado; creio que eram seis ou sete pessoas — disse
o rapaz.
Payne lhe deu uma propina e continuou, agora mais
veloz que antes. Em uma curva muito fechada, teve de frear
rapidamente, a poucos centímetros de um abismo.
— Escapamos de boa! — murmurou Lilia, com um nó
na garganta.
Mais à frente, alcançaram um trecho de estrada plano e
reto. Ao longe corria um ponto negro.
— Deve ser o automóvel de Sônia. Prepare- se! —
advertiu Arnald, pondo a pistola sobre o assento, pronto a
usá-la.
Ganhavam terreno. O “Vanguard” corria como uma
bólide, sacolejando às vezes com as irregularidades da
estrada. O motorista do “Rolls-Royce” pareceu dar-se conta
da perseguição, pois apressou a marcha. Uma corrida sem
freio se estabeleceu então. O ruído dos pneus no asfalto e
dos motores em regime máximo chegava a tornar-se
monótono. Ouviu-se o primeiro tiro, depois outro e outro.
Uma bala varou o para-brisa do “Vanguard”, lambendo a
orelha de Arnald. Lília se dispôs a atirar.
— Espere! Vou me aproximar um pouco mais, e então
atiraremos os dois juntos.
Pisou fundo no acelerador e saltou uma das mãos do
volante, pegando a pistola.
— Mire na roda direita! — gritou, entre o sibilar do
vento.
Desciam uma ladeira bastante íngreme. No fundo, a
ponte metálica sobre o rio Jalub. Dispararam, errando os
tiros, pois o “Rolls-Royce” ziguezagueava à sua frente.
— Venha para o volante — disse Payne. — Procurarei
dar-lhes o que merecem.
Trocaram com dificuldade as posições, sem diminuir a
marcha.
Uma salva de projéteis perfurou a lataria do “Vanguard”,
e uma das balas foi alojar-se no assento, a poucos
centímetros de Lília. Payne apertou o gatilho várias vezes.
Ouviu-se então o estouro do pneu do luxuoso carro de
Sônia. Mas ao mesmo tempo uma bala atingia o motor do
“Vanguard”. Os dois automóveis estavam descontrolados.
Lília quis frear; a velocidade era demasiada, e o carro
continuou correndo. Payne tentou ajudar Lília no volante,
mas naquele momento produziu- se o choque.
O “Rolls-Royce”, adernando para a esquerda devido ao
pneu perfurado, pode ainda ser freado, mas o “Vanguard”
investira contra ele, apanhando-o por trás. O carro de Sônia
foi empurra do violentamente, atravessou-se na estrada e
rompeu as guardas da ponte, caindo no rio antes que algum
dos ocupantes pudesse safar-se. A colisão fora tremenda. O
“Vanguard” ficou numa posição inverossímil, balançando-
se na borda da ponte, com meia carroçaria para fora, as
rodas dianteiras girando no ar. Uma grossa barra de ferro da
ponte o detivera, enganchando-o por baixo.
Lília sofreu as consequências do choque, o volante
apertando-lhe o peito e os cacos do para-brisa lhe
arranhando o rosto. Sua cabeça deitava sangue, que caía na
blusa branca, tingindo-a de rubro.
Payne também sofreu duro golpe. O para-brisa quebrado
atingiu-lhe os joelhos, que ele erguera instintivamente para
proteger-se, e a alavanca do câmbio contundiu seu
estômago.
O americano não tardou a recuperar sentidos. Percebeu a
gravidade do acidente. Movendo-se com cuidado, pois o
mínimo balanço podia fazer o carro desprender-se, passou
ao assento de trás, arrastando depois Lília para ali. Abriu a
porta com dificuldade e, pondo um pé na barra de metal,
sem deixar de segurar a jovem, saltou para a ponte.
Deitando a moça no solo por um momento, desceu à
beira do rio para ver o que acontecera aos inimigos. O
“Rolls-Royce” devia estar atolado no fundo, pois não se via
sinal dele. Duas pessoas, nadando afanosamente, tentavam
chegar à margem. Uma delas era a jovem ruiva e a outra
parecia ser Abdul.
Payne levou a mão ao bolso, e só então percebeu que
perdera a automática. Apanhou o inseparável punhal.
Abdul, já de pé, resfolegando, na margem, deixou ver
um pedaço comprido de metal. Embora o visse quase sem
fôlego, o americano não duvidou que ele ia atacar.
Levantando o punhal, lançou-o certeiramente no peito do
adversário. Abdul gemeu roucamente, estremecendo e
largando a barra de metal. Com o cabo da arma emergindo
do peito, o homem caiu de costas na água, desaparecendo
sob um círculo vermelho no rio barrento.
Sônia Lubriski, nesse momento, chegava à terra firme.
Embora extenuada, seu rosto demonstrava ferocidade, os
lábios contraídos, pálidos como cera. Lançou-se sobre
Payne como uma leoa ferida. Ele aparou seu peso,
segurando-lhe os braços. Impotente, a frialdade da mulher
desaparecera. Um ataque de fúria fazia-a tremer, e seus
dentes rangiam.
— Seja realista, Sônia, e entregue-se — disse Payne,
apertando-lhe os punhos. — Você perdeu o jogo, Sônia;
entregue-se.
Ela obedeceu. Estava aturdida, agora, como se o mundo
caísse sobre ela. Olhou para Lília com ódio desanimado.
Payne carregava Lilia, que continuava inconsciente.
Sônia ia à frente, caminhando sob o olhar atento do agente.
Assim venceram vários quilômetros, sem que a inimiga
voltasse para trás uma única vez os olhos azuis.
Chegaram a um posto de gasolina. Payne, sem deixar
Lília, chamou pelo telefone a residência de Hassan Alá, o
agente de contato do OSS no Oriente Médio.
Lilia abriu os olhos e distinguiu o americano. Abraçou-o
num impulso, beijando-o.
— Estamos vivos! — exclamava. — Que alegria!
Lembro-me do acidente da ponte...
Sônia passeava à beira da estrada, sob o olhar vigilante
de Payne. A caminhada parecia haver despertado seu
cérebro anuviado pelo choque e pela derrota. Payne não
descuidava em vigiá-la, pois sabia que a qualquer descuido
ela poderia tentar a fuga ou atacá-los.
Duas horas de espera se escoaram. Finalmente apareceu
um carro na estrada. Parou no posto, e dele saiu um homem
impecavelmente vestido, alto e magro.
Arnald Payne cumprimentou-o.
— Muito bem, Payne! Cheguei a temer por você —
disse o recém-chegado, à guisa de saudação.
— Eu lhe disse que tudo sairia bem — respondeu o
agente da CIA. — A KPA já não existe.
— Esta é a melhor notícia que jamais recebi.
Hassan olhou demoradamente para Sônia, sentada sob
uma árvore à margem da estrada.
— É a jovem de quem me falou?
— Não. Lília está lá dentro, descansando. Esta é Sônia
Lubriski, a espiã. Pensei que a conhecesse...
— Ouvi falar nela, mas nunca a tinha visto pessoalmente
— respondeu Hassan.
— Bem, vamos entregá-la às autoridades. É ela a
organizadora da sabotagem em Abadan — disse Payne,
entrando no abrigo do posto para despertar Lília.
Saiu em poucos minutos, trazendo-a nos braços. Deitou-
a cuidadosamente no assento traseiro do carro de Hassan.
— Você vai na frente — ordenou a Sônia, que obedeceu.
Payne aguçou a vista. Atendendo Lília, observava de
soslaio os movimentos de Sônia, que às escondidas
introduzira a mão no bolso do motorista. Aquele ato não o
surpreendeu. O motorista havia feito um leve sinal à
prisioneira, que Payne interceptara, pois o espelho
retrovisor inclinado mostrava os rostos dos que ocupavam o
banco dianteiro.
Aquilo vinha confirmar a suspeita que lhe viera à mente
na primeira vez em que se avistara com o funcionário persa.
— Solte o revólver! — gritou, erguendo a automática à
cabeça de Sônia.
No instante seguinte, o carro deu uma virada brusca. O
agente perdeu o equilíbrio e caiu sobre Lilia, que gemeu de
dor.
Hassan freou o automóvel, de repente, e a pistola
escapou da mão de Payne. Antes que ele pudesse apoderar-
se dela novamente, dois revólveres apontavam para sua
cabeça.
— Que imbecil você é, Payne! — riu sarcasticamente o
motorista. — Pensou que seria fácil vencer-nos, hem?
Hassan Alá, com os cotovelos apoiados no encosto do
banco, já premia o gatilho, e a seu lado Sônia ensaiava um
risinho de mofa.
— Você nunca me enganou, Hassan — respondeu
Payne, pondo um pé sobre sua pistola, disposto a recolhê-la
na primeira oportunidade.
— Eu já sabia que você fazia jogo duplo.
— Há, há, há! Você é tão estúpido como os outros —
replicou o traidor. — Ontem mesmo me entregou o
microfilme do documento.
— Dei-lhe uma película em branco. O verdadeiro filme
está depositado em lugar seguro.
— Sim? — Hassan afrouxou involuntariamente o dedo
que comprimia o gatilho, e fez um gesto irado: — Agora
mesmo vamos ver: já mandei revelar o filme. Se me
enganou, a farsa não lhe valerá de nada. Sei como forçá-lo a
entregar-me o filme verdadeiro.
Matá-lo-ia depois, quando houvesse verificado o que
Payne dizia. Sônia passou ao volante, deixando o revólver
sobre o painel. Hassan, ao rodear o carro para entrar pelo
outro lado, viu que Payne tentava recolher a pistola do piso,
abaixando-se para agarrá-la. Abriu a porta para tentar
impedi-lo, e o americano não esperou mais: ergueu o pé,
acertando a ponta do sapato na mandíbula bem barbeada do
outro, ao mesmo tempo em que alcançava a automática.
Sônia apanhou seu revólver e voltou-se imediatamente;
disparou, mas os projéteis saíram pelo teto do automóvel,
enquanto Payne segurava seu pulso. Teve de largá-la, pois
Hassan se levantava brandindo uma chave-inglesa,
dispondo-se a golpear. Atirou sobre o persa uma, duas, três
vezes. E Hassan, encolhendo-se, deixou a chave cair,
rodopiou e abateu-se no chão.
Lília, imóvel no assento e incapaz de qualquer ação,
seguia a cena com ansiedade.
— Não resista, Sônia — advertiu Payne. — Você está
perdida. Se tentar qualquer coisa, vai acontecer-lhe o
mesmo que a seu... marido.
— Oh, vejo que é bastante inteligente — respondeu ela
com frieza e ódio. — Também isso você sabe?
— Foi uma organização quase perfeita Sônia
— ele lhe tomava a arma — Enganou o “Fedeiyan” e o
“Tudeh”, fazendo crer que trabalhavam para uma potência
estrangeira. Vocês conseguiram até a ajuda de Manneliski,
o russo, que pensou estar tratando com gente leal. No
principio, vocês trabalharam bem, mas depois fizeram-se
independentes, organizando a KPA, resultante de um
casamento diabólico. Estou certo de que pretendiam vender
o documento que filmei em Baku. Foi por isso que seu
marido me incitou a passar a fronteira.
Lília espantou-se:
— Como descobriu que eles eram casados?
— Já vai saber. A segunda vez que visitei Hassan,
depois da morte de Ruizi, vi algo que me surpreendeu. Foi
um descuido imperdoável da parte dele: entre uns papéis
que me mostrou havia uma fotografia feita na Turquia há
uns cinco anos. Nela apareciam Hassan e uma mulher muito
parecida com Sônia: ruiva, esbelta, de olhos claros.
Memorizei o número que havia nas costas da foto e o nome
do fotógrafo, escrevendo-lhe imediatamente. A resposta foi
esclarecedora: a jovem era Mary Anderson, e fora batida no
dia de seu casamento com Hassan Ala. Mary, já se vê, é a
atual Sônia Lubriski.
Payne acendeu um cigarro:
— Por isso chamei Hassan hoje. Sabia que tentaria
salvar sua mulher e sócia. Contudo, eles agiram depressa, e
quase me surpreenderam. Enfim, tudo terminou bem.
Pensaram que me enganariam fazendo-se passar por espiões
russos, mas cometeram um engano que lhes foi fatal...
— Qual? — perguntou Mary Anderson, interessada.
— Em Abadan, você mandou que eu roubasse os planos
do oleoduto cuja cópia já estava em poder dos russos,
segundo pude depois averiguar no escritório de Baku. Um
plano, por muito bem pensado que seja, tem sempre as suas
falhas.
— Que faremos agora, parados aqui? — perguntou Lilia,
vendo que o automóvel não se movia.
— Esperamos a chegada da polícia. Eu avisei também o
Governo, pelo telefone.
***
No aeroporto de Teerã, Arnald Payne, Lília P. Blanchard
e o velho Brint estavam reunidos.
— Bem, Lília, chegou o momento de separarmo-nos.
Preciso voltar a Washington.
— Já, Arnald? — e ela sorria, tendo a mão entre as do
americano.
— Sim. Você irá para Londres, não é? Tem de levar a
informação...
— Não creio que seja preciso.
— Por que não é preciso? Você não voltará? —
estranhou ele. Apontou para Brint, que trouxera duas
maletas. — Olhe, Brint vai viajar para Londres.
— Eu também vou viajar. Tomarei o próximo avião.
— Que absurdo! O primeiro avião sai para os Estados
Unidos!
— Bem, então vou para Washington — seus olhos
negros tinham uma expressão encantadora.
— Vamos os três: Brint, você e eu.
— Mas, o Intelligence Service...
— Ah, é! O serviço secreto britânico me parece muito
bom, mas prefiro o americano.
— Vai oferecer-se ao OSS? Posso recomendá-la ao
chefe.
— Não é necessário, Arnald. Brint e eu pertencemos ao
OSS! Mandaram-nos aqui para, às escondidas, ajudar você
no que pudéssemos, creio que cumprimos nossa missão
satisfatoriamente. Não é verdade, Brint?
Os três se abraçaram, risonhos. Um empregado do
aeroporto ajeitou a escada, junto do avião. Payne subiu ao
aparelho marcado, na face, com o batom de sua noiva.
O quadrimotor elevou-se. Lá embaixo, o Irã distanciava-
se, livre de sabotadores como livre permanecia o seu
petróleo.
Sônia Lubriski e seus poucos auxiliares sobreviventes
aguardavam na prisão o momento de enfrentar o pelotão de
fuzilamento.
A seguir:
EMBRIAGUEZ DE SANGUE
Uma bela cantora de night club, um documento secreto e alguns milhões de
dólares são os ingredientes desta novela que você poderá encontrar
proximamente em todas as bancas. Não perca. É de um tremendo suspense!
Você também pode gostar
- Advocacia CriminalDocumento52 páginasAdvocacia CriminalFernandoZadockAinda não há avaliações
- Livros 1, 2 e 3 de Heaven Official's Blessing Tradução PT-BR PT 1 - YooourhighnessDocumento2.481 páginasLivros 1, 2 e 3 de Heaven Official's Blessing Tradução PT-BR PT 1 - YooourhighnessJulia Araújo Martins Costa88% (8)
- Apostila - Muros de Arrimo PDFDocumento46 páginasApostila - Muros de Arrimo PDFLucas VelosoAinda não há avaliações
- O Guia Definitivo Da Espada Amp Feiti 231 Aria - Alexandre Callari Bruno Zago e Daniel Lopes Pipoca Amp NanquimDocumento238 páginasO Guia Definitivo Da Espada Amp Feiti 231 Aria - Alexandre Callari Bruno Zago e Daniel Lopes Pipoca Amp NanquimMusicA QUI100% (2)
- 019 Espiao NazistaDocumento102 páginas019 Espiao NazistaMusicA QUI100% (1)
- 500 Questões - Português (Gabarito)Documento472 páginas500 Questões - Português (Gabarito)Bruno de Oliveira100% (1)
- A Inaudita Guerra Da Avenida Gago CoutinhoDocumento4 páginasA Inaudita Guerra Da Avenida Gago CoutinhoPaula Cruz100% (1)
- 006 O Misterio Dos Discos VoadoresDocumento96 páginas006 O Misterio Dos Discos VoadoresMusicA QUIAinda não há avaliações
- John Gardner - Missão No GeloDocumento250 páginasJohn Gardner - Missão No GeloCotinguiba100% (2)
- 018 Um Caso ItalianoDocumento95 páginas018 Um Caso ItalianoMusicA QUI100% (1)
- M77Z 051 - Aventura em Brooklin - Tony Manhattan PDFDocumento97 páginasM77Z 051 - Aventura em Brooklin - Tony Manhattan PDFJoão Rocha LabregoAinda não há avaliações
- Hob PDFDocumento3.286 páginasHob PDFLorena OliveiraAinda não há avaliações
- Condessa de SégurDocumento73 páginasCondessa de SégurMusicA QUIAinda não há avaliações
- A Grande Conspiração - Livro I - CompletoDocumento113 páginasA Grande Conspiração - Livro I - CompletoCharles Engels100% (2)
- Tian Guan Ci FuDocumento3.286 páginasTian Guan Ci FuJay us75% (4)
- Historia Secreta Da GestapoDocumento86 páginasHistoria Secreta Da GestapoWandyy Gonçalves100% (1)
- Ira Levin Um Beijo Antes de MorrerDocumento181 páginasIra Levin Um Beijo Antes de MorrerMusicA QUIAinda não há avaliações
- As Armas Do AnticristoDocumento106 páginasAs Armas Do AnticristoEnsino Bíblico100% (1)
- Npen001991-2 2017Documento153 páginasNpen001991-2 2017Artur Jorge GasparAinda não há avaliações
- História Do CearáDocumento73 páginasHistória Do CearáDeyvisson EmannuelAinda não há avaliações
- Daubigiié, J. H. Merle - História Da Reforma Vol 2Documento200 páginasDaubigiié, J. H. Merle - História Da Reforma Vol 2Edmario De Jesus CorreiaAinda não há avaliações
- Um Incidente Na Ponte de Owl CreekDocumento6 páginasUm Incidente Na Ponte de Owl CreekmirutyaroAinda não há avaliações
- 008 O Caso Do Atomo ZDocumento104 páginas008 O Caso Do Atomo ZMusicA QUIAinda não há avaliações
- 360 - Povos Originários 7Documento269 páginas360 - Povos Originários 7Fátima Regina AlmeidaAinda não há avaliações
- Condessa de Ségur o General DourakineDocumento78 páginasCondessa de Ségur o General DourakineMusicA QUIAinda não há avaliações
- Modelo Contrato de Representacao de AtletasDocumento3 páginasModelo Contrato de Representacao de AtletasEder BritoAinda não há avaliações
- AInaudita GuerraDocumento7 páginasAInaudita Guerramanela_borges7952Ainda não há avaliações
- O Primeiro ContatoDocumento6 páginasO Primeiro Contatobugudum80Ainda não há avaliações
- Um Trem Do Inferno - Alistair MacleanDocumento103 páginasUm Trem Do Inferno - Alistair MacleanJoao ChavesAinda não há avaliações
- Carvalho Mario de Guerra Av Gago CoutinhoDocumento8 páginasCarvalho Mario de Guerra Av Gago CoutinhocarlaAinda não há avaliações
- A Aclamação de D. Pedro I Segundo Jean-Baptiste Debret (Tradução)Documento3 páginasA Aclamação de D. Pedro I Segundo Jean-Baptiste Debret (Tradução)PedroAinda não há avaliações
- Robert Ludlum o Documento HolcroftDocumento375 páginasRobert Ludlum o Documento HolcroftMagnoMendes100% (1)
- O 5 de Outubro de 1910Documento10 páginasO 5 de Outubro de 1910Margarida CostaAinda não há avaliações
- A Revolução de 1891Documento14 páginasA Revolução de 1891Margarida CostaAinda não há avaliações
- A Inaudita Guerra Da Avenida Gago CoutinhoDocumento4 páginasA Inaudita Guerra Da Avenida Gago CoutinhoHélder AlmeidaAinda não há avaliações
- 3 Vinte Anos Depois Autor Alejandro DumasDocumento1.169 páginas3 Vinte Anos Depois Autor Alejandro DumasWilliam RodriguesAinda não há avaliações
- A Inaudita Guerra Da Avenida Gago CoutinhoDocumento5 páginasA Inaudita Guerra Da Avenida Gago CoutinhovitinhousaAinda não há avaliações
- A Inaudita Guerra Da Avenida Gago CoutinhoDocumento4 páginasA Inaudita Guerra Da Avenida Gago CoutinhoMarco AntunesAinda não há avaliações
- Áustria - Joseph Roth - A Marcha de RadetzkyDocumento42 páginasÁustria - Joseph Roth - A Marcha de RadetzkytucanalhaAinda não há avaliações
- O Lamento Das TumbasDocumento5 páginasO Lamento Das TumbasRac A BruxaAinda não há avaliações
- Full Download Ebook PDF Introduction To Corporate Finance 2Nd Asia Pacific Edition Ebook PDF Docx Kindle Full ChapterDocumento22 páginasFull Download Ebook PDF Introduction To Corporate Finance 2Nd Asia Pacific Edition Ebook PDF Docx Kindle Full Chapterkeith.cowley538100% (14)
- O Homem Que Via Com Os Olhos Da NoiteNo EverandO Homem Que Via Com Os Olhos Da NoiteAinda não há avaliações
- O Rio de Janeiro Através de JornaisDocumento457 páginasO Rio de Janeiro Através de JornaisPabloAinda não há avaliações
- Autores 5Documento3 páginasAutores 5igiturixAinda não há avaliações
- A Batalha Da GuanabaraDocumento4 páginasA Batalha Da GuanabaraCarlos Augusto ArãoAinda não há avaliações
- SgvnpreviaDocumento17 páginasSgvnpreviaWidemarcos Carvalho SalesAinda não há avaliações
- Inconfidencia - Leo RochaDocumento13 páginasInconfidencia - Leo RochaFernando MonteiroAinda não há avaliações
- O Monte Do Mau Conselho PDFDocumento235 páginasO Monte Do Mau Conselho PDFTyan ZevorkAinda não há avaliações
- Contos de Terror WW2 - AssombradoDocumento7 páginasContos de Terror WW2 - AssombradobugprintAinda não há avaliações
- Eh So P Baixar Os TroçoDocumento8 páginasEh So P Baixar Os TroçoBeatriz Pereira DinizAinda não há avaliações
- 27 de Maio de 1977Documento3 páginas27 de Maio de 1977Olívio De AlmeidaAinda não há avaliações
- As Areias de Sakkara (Glenn Meade)Documento247 páginasAs Areias de Sakkara (Glenn Meade)Alexander ZimmerAinda não há avaliações
- Canção Da Amoreira (CA) - Volume ÚnicoDocumento42 páginasCanção Da Amoreira (CA) - Volume ÚnicocryhoneyAinda não há avaliações
- Ficha Atividades - Avenida Gago CoutinhoDocumento4 páginasFicha Atividades - Avenida Gago CoutinhoAna QuartinAinda não há avaliações
- PrólogoDocumento4 páginasPrólogoZA WarudoAinda não há avaliações
- Idade Média - As Cruzadas Na Visão Dos Árabes - CLIO HistóriasDocumento8 páginasIdade Média - As Cruzadas Na Visão Dos Árabes - CLIO HistóriasjkadoshAinda não há avaliações
- Lenda Da Moura EnamoradaDocumento4 páginasLenda Da Moura Enamoradad_antunesAinda não há avaliações
- A Dança Do SabreDocumento75 páginasA Dança Do SabreHeribeir RibeiroAinda não há avaliações
- Patricia Seed - O RequerimientoDocumento59 páginasPatricia Seed - O RequerimientoLeonardo MarquesAinda não há avaliações
- 28 - 03 - O CometaDocumento17 páginas28 - 03 - O CometaCarol SchuelerAinda não há avaliações
- Microsoft Word - Extracto Do Capítulo II de As Viagens de GulliverDocumento5 páginasMicrosoft Word - Extracto Do Capítulo II de As Viagens de GulliverPaula LavancoAinda não há avaliações
- A MensageiraDocumento186 páginasA Mensageirapdf2006Ainda não há avaliações
- 016 Adeus MR GroganDocumento111 páginas016 Adeus MR GroganMusicA QUIAinda não há avaliações
- 015 N%U00E3o Vale Contar Até TrêsDocumento102 páginas015 N%U00E3o Vale Contar Até TrêsMusicA QUIAinda não há avaliações
- 028 Tom Argo - Embrigues de SangueDocumento94 páginas028 Tom Argo - Embrigues de SangueMusicA QUIAinda não há avaliações
- 014 John Lack - Fogo No EgitoDocumento95 páginas014 John Lack - Fogo No EgitoMusicA QUIAinda não há avaliações
- 022 Quando Surge A MorteDocumento105 páginas022 Quando Surge A MorteMusicA QUIAinda não há avaliações
- 009 O Fogo SagradoDocumento124 páginas009 O Fogo SagradoMusicA QUIAinda não há avaliações
- A Mão Esquerda de VênusDocumento1 páginaA Mão Esquerda de VênusMusicA QUIAinda não há avaliações
- PRIAPEIA - Poesia Erótica Latina em Honra Ao Deus Príapo – AnônimoDocumento1 páginaPRIAPEIA - Poesia Erótica Latina em Honra Ao Deus Príapo – AnônimoMusicA QUIAinda não há avaliações
- John O'hara Encontro em SamarraDocumento6 páginasJohn O'hara Encontro em SamarraMusicA QUI100% (1)
- O Caçador de AndróidesDocumento131 páginasO Caçador de AndróidesMarthayza100% (1)
- Condessa de Ségur o Gênio Do MalDocumento111 páginasCondessa de Ségur o Gênio Do MalMusicA QUIAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado - Oficial Da PM-BADocumento10 páginasEdital Verticalizado - Oficial Da PM-BAjose robertoAinda não há avaliações
- Redesim - Consulta Pública CNPJDocumento1 páginaRedesim - Consulta Pública CNPJRafael RuebAinda não há avaliações
- Hegemonia CulturalDocumento37 páginasHegemonia Culturalrobson santosAinda não há avaliações
- CorrigidoDocumento5 páginasCorrigidoDaniel RosaAinda não há avaliações
- Track&Field Co. S.A.: Companhia Aberta CNPJ/MF: 59.418.806/0001-47Documento2 páginasTrack&Field Co. S.A.: Companhia Aberta CNPJ/MF: 59.418.806/0001-47Bruno EnriqueAinda não há avaliações
- Contrato de Compra e VendaDocumento2 páginasContrato de Compra e VendaleandroAinda não há avaliações
- Rafaelfc23, 10 CONCEPÇÕES QUE NORTEIAM OS DOCUMENTOSDocumento11 páginasRafaelfc23, 10 CONCEPÇÕES QUE NORTEIAM OS DOCUMENTOSCarol VasconcelosAinda não há avaliações
- País AfricanoDocumento14 páginasPaís AfricanoGabriel SAinda não há avaliações
- PlágioDocumento46 páginasPlágioDayane RosasAinda não há avaliações
- Form Portabilidade Telemovel 2022Documento2 páginasForm Portabilidade Telemovel 2022marcomadeira73Ainda não há avaliações
- Banco Questoes 10Documento3 páginasBanco Questoes 10Bruno Duarte de AraújoAinda não há avaliações
- Termo de Transação ModeloDocumento2 páginasTermo de Transação ModeloSabrina TorezaniAinda não há avaliações
- Diario Oficial 2023-06-22 CompletoDocumento139 páginasDiario Oficial 2023-06-22 CompletoMarco AurélioAinda não há avaliações
- Caderno - Pratico - N 2Documento4 páginasCaderno - Pratico - N 2rubengames77Ainda não há avaliações
- Tac Fundeb Alta Floresta MPDocumento8 páginasTac Fundeb Alta Floresta MPDanny BuenoAinda não há avaliações
- Consulta À Certidão Negativa de DébitoDocumento1 páginaConsulta À Certidão Negativa de DébitosilasAinda não há avaliações
- Termo Inicial de Juros e Multa VFDocumento2 páginasTermo Inicial de Juros e Multa VFMatheus SantanaAinda não há avaliações
- Supercommerce Mao - 577-70771142Documento1 páginaSupercommerce Mao - 577-70771142Jonatas Silva dos SantosAinda não há avaliações
- Aula 14 - O Projeto de Texto Dissertativo-ArgumentativoDocumento2 páginasAula 14 - O Projeto de Texto Dissertativo-ArgumentativoRafael MotaAinda não há avaliações
- Como É Calculado o VMD TRÂNSITODocumento2 páginasComo É Calculado o VMD TRÂNSITOmaria clarsAinda não há avaliações
- Plano de Estágio II CorrigidoDocumento10 páginasPlano de Estágio II CorrigidoNaira SaturnoAinda não há avaliações
- LABORATÓRIO CONTÁBEL LL Rotinas Trabalhistas e Previdenciária - 11-20Documento10 páginasLABORATÓRIO CONTÁBEL LL Rotinas Trabalhistas e Previdenciária - 11-20Patricia FernandesAinda não há avaliações
- Voto Do MagistradoDocumento4 páginasVoto Do MagistradoKardsley JúniorAinda não há avaliações