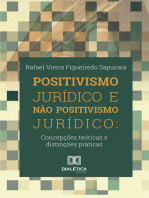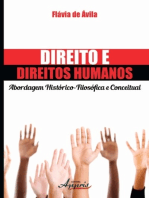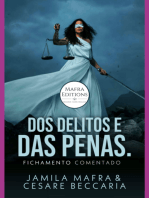Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
682-Texto Do Artigo-1287-2-10-20140916
Enviado por
Luciano SOARES0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações13 páginasO documento discute a abordagem da ciência jurídica para a conduta humana. A conduta pode ser analisada sob diferentes perspectivas como causal, técnica, moral e jurídica. A perspectiva jurídica considera a interferência entre as condutas de diferentes sujeitos. A ciência jurídica propriamente dita adota uma abordagem normativa para analisar as leis e instituições relacionadas a essas interferências intersubjetivas.
Descrição original:
Ciencia Juridica
Título original
682-Texto do Artigo-1287-2-10-20140916
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO documento discute a abordagem da ciência jurídica para a conduta humana. A conduta pode ser analisada sob diferentes perspectivas como causal, técnica, moral e jurídica. A perspectiva jurídica considera a interferência entre as condutas de diferentes sujeitos. A ciência jurídica propriamente dita adota uma abordagem normativa para analisar as leis e instituições relacionadas a essas interferências intersubjetivas.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações13 páginas682-Texto Do Artigo-1287-2-10-20140916
Enviado por
Luciano SOARESO documento discute a abordagem da ciência jurídica para a conduta humana. A conduta pode ser analisada sob diferentes perspectivas como causal, técnica, moral e jurídica. A perspectiva jurídica considera a interferência entre as condutas de diferentes sujeitos. A ciência jurídica propriamente dita adota uma abordagem normativa para analisar as leis e instituições relacionadas a essas interferências intersubjetivas.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
A Ciência Jurídica como Ciência da Conduta
A . L. MACHADO NETO
1. A conduta humana em diversas abordagens
Ê hoje conquista definitiva da filosofia da ciência ou
epistemologia que, não obstante o mesmo objeto possa ser
tratado a p artir de diversas perspectivas metodológicas, cons-
tituindo, assim, diferentes objetos formais das várias ciências,
o objeto resiste, por sua especial estru tu ra ôntica, a determi-
nados tratam entos metodológicos que, dêsse modo, demons-
tram -se impotentes quanto a seu conhecimento. Um exemplo:
o tratam ento normativo do mundo físico seria um completo
sem sentido.
Objetos há, portanto, cuja estrutura ôntica mais rica abre
especiais vertentes ao tratam ento científico por meio de diversos
expedientes metodológicos- Outros, todavia, de estrutura ôntica
mais rígida, não permitem senão uma especial e privilegiada
metodologia. Tal parece-nos ser o que ocorre aos objetos ideais,
que apenas toleram o procedimento intelectivo peculiar à lógica
e às matemáticas, repelindo assim, o procedimento explicativo
e indutivo da experimentação.
Com a conduta humana estamos diante da mais rica estru-
tu ra ôntica, o que permite a sua múltipla consideração por
diferentes abordagens metodológicas, que virão a constituir,
assim, os vários objetos formais dos diferentes saberes de que
se ocupam o homem e suas obras.
Assim é que ao lado das disciplinas científicas que se
ocupam causalmente da conduta humana — a sociologia, a
psicologia e a história, por exemplo — tal objeto m aterial
abre uma vertente especial ao tratam ento normativo, o que
é uma peculiaridade sua.
Dêsse ângulo normativo, a conduta humana pode consti-
tuir objeto de duas diversas considerações: ética e técnica.
Tôda e qualquer conduta nossa podemos submetê-la quer
a uma consideração ética — Moral e Direito —, quer a uma
consideração técnica. Nesse último ângulo temático estaremos,
sempre que consideremos qualquer ato ou projeto nosso no
sentido oposto ao sentido temporal, isto é: dos fins para os
meios. Assim, tôda vez que tendo em vista certos fins (que
necessàriamente ocorrerão após os meios) procuramos encon-
tr a r os meios idôneos de sua realização, estamos submetendo
a uma consideração técnica o nosso procedimento.
Se, ao contrário, a consideração da conduta segue o sentido
temporal — dos meios para os fins —, temos uma conside-
ração ética, seja moral ou jurídica. Porisso a ética pode ser
conceituada como a realização do querido enquanto querido,
por oposição à técnica — a realização do querido enquanto
realização.
Se moral e Direito constituem âmbitos da normatividade
ética, convém agora que os distingamos a fim de destacarmos
o Direito que é o objeto de nossa particular consideração.
Se ao considerarmos a conduta no mesmo sentido em que
ela ocorre no tempo — isto é: dos meios para os fins —
temos uma consideração ética, e se a consideração ética da
conduta pode ser moral ou jurídica, im porta que encontremos,
no mundo da eticidade, um critério distintivo dos dois âmbitos
que o constituem.
Para tanto, m ister se faz a consideração das interferências
de conduta. Se tenho em mira que a conduta pode se relacionar
ou interferir com outras condutas minhas ou de outros sujeitos
humanos, terei desdobrado as duas possibilidades de interfe-
rência de conduta — a primeira meramente subjetiva (corre-
lação entre o fazer e o omitir do mesmo sujeito) e a segunda
intersubjetiva (correlação entre o fazer de um e o impedir de
outro ou de outros sujeitos hum anos). O primeiro é o ângulo
da moral (conduta em interferência subjetiva) e o segundo,
o peculiar ângulo do Direito (conduta em interferência inter-
subjetiva).
Um mesmo fato de conduta humana pode, assim, ser
submetido, além de a uma consideração causal, enunciável
em têrmos da lógica do ser (dado A será B), a diversas consi-
derações normativas — técnica, moral, direito — enunciáveis
tôdas em têrm os da lógica do dever ser (dado A deve ser B ) .
Tomemos o exemplo concreto da conduta de alguém que
deseja m atar um desafeto que certa vez o esbofetou e o realiza
mediante o disparo certeiro de uma arma de fogo.
Êsse determinado ato humano poderia ser explicado pelas
ciências que manipulam o instrumento da causalidade como
uma cadeia causal que a partir de uma determinada reação
psicológica do m atador como causa inicial, desenlaçaria uma
sucessão causal cujos elos seriam os movimentos de cada
uma das engrenagens fisiológicas postas em funcionamento
para verificar-se a pressão do indicador direito sôbre o gatilho,
onde a cadeia causal passaria a situar-se no processo mecânico
interior à arm a de fogo responsável pelo disparo, e daí à tr a -
jetória da bala, à resistência do a r e à colocação do órgão vital
da vítima na trajetória do projétil.
O processo causal continuaria em mãos do psicólogo social
e do sociólogo que procuraria compreender o sentido cultural
da reação violenta e homicida dentro do emaranhado dos
padrões culturais vigentes naquela sociedade.
A compreensão normativa do mesmo ato comportaria uma
indagação técnica e duas subseqüentes considerações éticas —
a consideração moral e a jurídica.
A consideração técnica — abstraídos os valores morais e
jurídicos, já se vê — teria em vista que, para a consecução
do fim proposto — m atar o desafeto — o meio escolhido foi
eficaz. A técnica foi boa, pois.
J á o moralista, tomando a conduta em sua interferência
subjetiva, consideraria que outras condutas poderiam ser pre-
feríveis à realizada. O fazer e o omitir constituirão o ângulo
específico da consideração moral. O moralista cristão que,
inspirado no exemplo do Cristo, observasse que melhor do
que m atar seria apresentar a outra face, está no ângulo da
interferência subjetiva, propondo como moralmente melhor
fazer algo e omitir outra conduta.
Já as indagações do ju rista seriam tôdas situadas no
âmbito especial da interferência intersubjetiva. Em vez do
fazer-omitir, seu ângulo será o do fazer-im pedir. Suas consi-
derações seriam, por exemplo: «poderia o homicida fazer o
que fêz por tratar-se de legítima defesa?» «poderia a vítima
impedí-lo atirando antes?» «Podê-lo-ia um terceiro ou uma
autoridade policial?» «Pode o juiz singular sentenciar o homi-
cida ou o caso deve ser julgado pelo Tribunal do Juri?» Sem-
pre, como se vê, questões que se situam na correlação entre
o fazer de um sujeito e o impedir dos demais, com o que nos
situamos inequivicamente no ângulo jurídico, ou seja, aquêle
da interferência intersubjetiva.
2. Os Saberes Jurídicos
Sôbre a conduta abordada na perspectiva da interferência
intersubjetiva atuam diferentes saberes-
Dêsses saberes destaca-se, em primeiro plano, a investi-
gação filosófica a respeito do Direito. A filosofia jurídica
não é outra coisa que a universalidade da meditação filosófica
aplicada ao objeto direito. Nela se situam, sob a perspectiva
especial do jurídico, todos os campos de indagação do filósofo.
Assim é que aí cabem tanto uma especulação sôbre o ser ou
essência do Direito — ontologia jurídica — sôbre a possibili-
dade do seu conhecimento — gnoseologia jurídica — sôbre as
ciências que o elaboram — epistemologia jurídica — os valores
jurídicos — axiologia ou deontologia jurídica — além da inda-
gação sôbre o caráter cultural do Direito e sua vida histórica
— filosofia da história do Direito ou culturologia jurídica.
As peculiaridades dessas indagações que têm o Direito
como objeto são as mesmas que caracterizam a meditação
filosófica em geral, que são a extrem a radicalidade, a vocação
da universalidade e, pois, o que Ortega bem definiu ao con-
ceituar a filosofia como um saber autônomo e pantônomo.
Além de servir de objeto à indagação, filosófica, o direito
é tema de diversos estudos científicos. Dentre êsses, além
da ciência jurídica stricto sensu, jurisprudência ou dogmática,
que será objeto de nossa especial consideração adiante, vale
salientar a sociologia jurídica e a história do Direito. Ambas
essas disciplinas científicas enfrentam os fenômenos jurídicos
como fato sócio-cultural, ingrediente imprescindível da vida
coletiva.
A diferença essencial da metodologia dessas duas disci-
plinas que abordam o jurídico sob a feição de um mesmo objeto
m aterial está no caráter generalizador da sociologia e no indi-
vidualizador da história. Assim é que enquanto o sociólogo
ataca a relação sociedade-direito em seus múltiplos aspectos
tentando encontrar as leis gerais da causalidade sócio-jurídica,
o historiador detém-se em cada um dos eventos da história
jurídica dos povos para estudar-lhe a fisionomia peculiar em
tôda a sua riqueza individual. Não é por acaso que a primeira
se denomina sociologia e a segunda historiografia. As desi-
nências logia e grafia denunciam, a primeira uma teorização,
o que vale dizer: uma generalização; a segunda, um descrever,
o que vale dizer: um individualizar. Apenas o individualizar
do historiador, com ser o individualizar uma série cronológica
de eventos, envolve a descoberta das tendências dinâmicas do
processo, ponto êste de difícil localização na história (social)
ou na sociologia. Dêsse modo, e tal como ocorre em suas m atri-
zes teóricas — história e sociologia — a história do direito
e a sociologia jurídica mantêm-se em íntima colaboração e
m útua complementação, a história emprestando ao sociólogo
a riqueza do individual, e a sociologia, ao historiador, o indis-
pensável instrum ento das generalizações e das tipologias.
3. A Ciência do Direito «stricto sensu» como
Ciência Normativa
O ângulo de tratam ento científico do Direito que, pela sua
ilustre tradição, merece a distinção de denominar-se stricto
sensu de Ciência do Direito é o ângulo em que trabalha o
ju ris ta .
O peculiar dêsse tipo de tratam ento do jurídico é que
êle constitui uma abordagem normativa às instituições e fenô-
menos jurídicos. De pronto se propõe, nesse caso, a indagação
acêrca de se é possível uma ciência norm ativa. P ara que
possamos deslindar tal indagação, m ister se faz esclarecer os
sentidos em que tem sido atribuída à jurisprudência o caráter
de ciência norm ativa. Êsses sentidos são três, pelo menos.
Tradicionalmente se tem atribuído à dogmática o caráter
de uma ciência normativa no sentido mais comum dessa adje-
tivação, que seria aquêle de um saber que predicasse normas.
Tal seria um saber valorativo e, como tal, extra-científico, já
que a ciência para ser objetiva teve de abandonar o campo
das valorações, impossibilitada que está de dominá-las por falta
de um instrumento conceituai capaz de comprovar os acêrtos
ou desacêrtos dos juízos de valor. Quando o princípio de neu-
tralidade axiológica — que é êsse voto de castidade espiritual
mediante o qual a ciência se nega a fazer juízos de valor —
não estava ainda entronizado à altura de um princípio do
espírito científico, era possível supor como científico um conhe-
cimento que predicasse normas. Tal foi o que ocorreu no pas-
sado com relação à ciência do Direito, nesse primeiro e impró-
prio sentido em que se lhe aplica a qualificação de ciência
norm ativa.
Recentemente, formalizando e explicitando o que já cons-
tituía a atitude espontânea do jurista teórica e prático, Hans
Kelsen interpretou em outro sentido a característica de ciência
normativa atribuída à ciência do D ireito. Nesse peculiar sentido,
hoje dominante, o Direito é uma ciência normativa, não porque
predique ou estatua normas, — o que seria incongruente com
a objetividade científica — mas porque tem por objeto norm as.
Por tra ta r de normas, seu objeto, é que a ciência jurídica
poderia ser caracterizada como ciência norm ativa.
O terceiro sentido da expressão ciência normativa aplicada
à do Direito é decorrência de uma concepção recente acêrca
do Direito e da ciência especial que dêle cuida. É fruto da
teoria egológica do Direito, nascida na Argentina, há cêrca de
vinte anos, por obra do Prof. Carlos Cossio e seus discípulos
e seguidores êsse nôvo e insólito sentido da ciência jurídica
como ciência normativa-
Para a concepção egológica, o direito não é norma, mas
conduta. Nisso, a radical separação entre o egologismo e a
teoria pura do Direito de Hans Kelsen. Todavia, o modo de
conhecimento jurídico da conduta (em interferência intersub-
jetiva) é mediante a norma que, como juízo de dever ser é o
único capaz de pensar a conduta sem abstração da liberdade
em que ela essencialmente consiste.
Assim é que, dado um determinado fato de conduta,
somente confrontando-o com a norma poderei eu conceituá-lo
juridicamente como faculdade, prestação, ilícito ou sanção, que
são os quatro modos gerais de ser da conduta, quanto à sua con-
ceituação ju rídica. Se é através da norm a que eu posso conhe-
cer juridicamente a conduta, a ciência jurídica será ciência
normativa, não porque estatua normas, não porque tra te as
normas como seu objeto, mas porque conhece seu objeto —
a conduta — mediante normas.
4. O Direito e a Norma
Somente a prim eira concepção de ciência normativa seria
compatível com a noção de que a norma jurídica é um impe-
rativo. E ssa foi, pois, a primeira — e é ainda a mais popular
— concepção da norm a. Ela é um imperativo, um mandado,
uma ordem. Daí adviria aquela concepção incongruente da
ciência jurídica como ciência normativa porque estatui normas
(= im perativos).
Desde Hans Kelsen que essa concepção im perativista da
norma vem sendo combatida, ao menos no âmbito da ciência
jurídica. Ê atribuição imortal do grande Hans Kelsen a con-
ceituação da norma como um juízo hipotético de dever ser,
inaugurando, assim, a lógica do dever ser como lógica jurídica.
P ara Kelsen, a norma jurídica, juízo hipotético de dever
ser, poderia ser formalizado de uma dupla m aneira; uma pri-
mária, que êle enfatiza — «Dada a não-Prestação dever ser
a Sanção» (dado n-P deve ser S) — e outra secundária —
«Dado o Fato Temporal deve ser a Prestação» (dado F t deve
ser P) — que êle considera, como norma secundária, um outro
modo de enunciar o Direito, por êle identificado com a norm a.
Aproveitando-se dessa contribuição kelseniana o P rof.
Carlos Cossio e sua escola encontraram um meio de fundir as
duas normas — prim ária e secundária — num todo orgânico
que configura a norma jurídica como um juízo de dever ser
não mais hipotético e, sim, disjuntivo, nos seguintes têrmos:
«Dado o Fato Temporal deve ser a Prestação pelo Sujeito
Obrigado em face do Sujeito Pretensor
ou
Dada a não-Prestação deve ser a Sanção pelo Funcio-
nário Obrigado em face da Comunidade Pretensora»-
Ou, em têrm os esquemáticos:
«dado Ft deve ser P por So face a Sp. (endonorma)
ou
Dado n-P deve ser S. por Fo face a Cp.» (perinorm a).
Como se tra ta de uma disjunção proposicional e não predi-
cativa, cada uma das proposições (endonorma e perinorma)
que enquadram a disjunção constitui, de fato, um juízo hipo-
tético (dado A deve ser B) mas a conceituação kelseniana da
norma como juízo hipotético divide ou fragm enta a relação
jurídica pensada através da norma e de seu esquema formal,
motivo pelo qual vamos adotar aqui o esquema egológico, pre-
ferível até mesmo para efeitos didáticos se temos em vista
simplificar a apresentação dos elementos da relação jurídica.
De posse do esquema egológico da norma, e já que a norma
jurídica é o juízo capaz de pensar a conduta e conceituá-la
juridicamente como fatuidade, prestação, ilícito ou sanção,
dêle podemos re tira r os elementos de uma relação jurídica.
Estão todos êles enunciados na formalização egológica da nor-
ma e porisso os sublinhamos na apresentação esquemática
dessa formalização.
Ft (fato Temporal) é o acontecimento que, previsto em a
norma, desenlaça, ao realizar-se, as conseqüências de Di-
reito — a faculdade ou direito subjetivo para o Sujeito
ativo ou pretensor (Sp) e o dever para o sujeito passivo
ou obrigado (So)
P (prestação) é a especial conduta a que o sujeito passivo
(So) está obrigado em face do sujeito pretensor (S p ). Ela
tem, assim, uma dupla face, dada a bilateralidade do
Direito, pois é para um faculdade, o direito, e, para outro,
o dever.
So (sujeito passivo, obrigado) é aquêle para quem à reali-
zação do fato temporal normativamente previsto está nor-
mativamente imputada a obrigação ou dever de uma espe-
cial conduta, em face d o . . .
. . . Sp (sujeito ativo ou pretensor), que é o titular do
direito ou faculdade de exigir a prestação do So.
n-P (não prestação) e a verificação da não prestação
ou ilícito por parte do So. Ê uma conseqüência da liber-
dade hum ana que alguém, estando-lhe embora imputada
uma conduta, êle não a realize, e sim, a conduta oposta.
S — (sanção) é a conseqüência jurídica da não-Prestação
ou ilícito. É dever do Funcionário Obrigado (Fo) — juiz,
funcionário administrativo ou quem seja o aplicador da
norma — aplicar a sanção desde que se verifique a não-
Prestação . O direito ou faculdade de aplicar a sanção cabe
à Comunidade jurídica (Co), que é, assim, o sujeito ativo
do exercício da Sanção, sendo o sujeito passivo da relação
perinormativa o funcionário aplicador da sanção (F o ).
5. As instâncias de normatividade como fontes
do Direito.
Conhecida a relação que há entre a norma e a conduta, e
a natureza lógica do juízo em que a norma consiste, im porta
agora perguntar o que é norm a.
Se a avaliação ou conceituação jurídica da conduta fôsse
livre, o aplicador ou julgador estabeleceria a norma mediante
a qual julgaria a conduta. Tal sistema representaria a absoluta
insegurança vital, pois é fato notório a diversidade dos juízos
sôbre a justiça ou injustiça de cada fato de conduta. Assim,
o mesmo fato de conduta seria diversamente julgado e, pois,
juridicamente conceituado conforme o tipo psicológico, as opi-
niões e ideologias dos julgadores. Urge, portanto, que a valo-
ração judicial esteja limitada por instâncias objetivas de valo-
ração. Tais instâncias são as fontes do Direito.
Se com relação à justiça ou injustiça dos atos humanos
ou outro qualquer valor jurídico atribuído ou negado a tais
atos as opiniões são universalmente discordantes, a vida social
não poderia prescindir de uma decisão unitária quanto ao jurí-
dico. Se a justiça ou injustiça de determinada conduta pode
ser discutida eternamente, sem que jam ais se alcance uma
solução unívoca e universalmente válida, a legalidade, ou me-
lhor, a juridicidade dêsse ato, pela própria necessidade vital
de sobrevivência do grupo, não poderia ficar ao sabor dos
discordantes critérios subjetivos de valoração pessoal. Desde
que a memória histórica nos tem revelado sociedades juridica-
mente organizadas, constata-se a existência de certas instâncias
sociais mais ou menos formais ou institucionalizadas que se
encarregam da imprescindível função de dizer o Direito (juris-
dição) .
Originàriamente, essa instância privilegiada tomou a form a
espontânea e difusa do costume. Talvez não houvesse, então,
quem estivesse formalmente qualificado a dizer o Direito, ou era
aos mais velhos que estava tradicionalmente deferida essa
função de vigiar a observância estrita dos costumes ou de acon-
selhar os mais jovens e, pois, mais inexperientes, no conheci-
mento das praxes e tradições, acêrca do caminho seguro dos
mores maiorum. Todavia, como a vida primitiva envolvia uma
quase total integração grupai, o indivíduo, por vêzes, inexis-
tindo, ou melhor, não tendo ocorrido ainda a descoberta do eu
individual por parte dos componentes do grupo, ou essa desco-
berta estando ainda em momento inicial do seu processo evo-
lutivo, o desrespeito ao costume imemorial e ritualista era, se
não impossível, certamente muito raro ou, pelo menos, muito
pouco freqüente. Os estudiosos atuais dos povos pre-letrados
assinalam como característica resultante da extrem a integração
grupai que ali se verifica, que a vida social solidamente enqua-
drada nas tradições tribais raram ente é alterada pela prática
do ilícito, ou melhor, pelo desrespeito aos tabus, o que justifica
e faz compreensível a ausência da função jurísdicional entre
êles. A única exceção é a dos povos que têm a sua integração
perturbada pelo início do contato cultural, desde que o isola-
mento tribal foi quebrado.
Ou uma lenta evolução endógena ou algum fator pertur-
bador exógeno — o contato cultural — são os responsáveis
pela mudança do sistema jurídico primitivo, que de uma descen-
tralização legislativa (costume) e jurisdicional (ausência de
juizes) passa à centralização jurisdicional (aparecimento do
juiz) conservando, embora, a prática consuetudinária, ou seja
a descentralização legislativa- Então, já existe quem dirá o
que de Direito, embora não haja ainda quem esteja social-
mente incumbido de ditar o que de Direito, tarefa de que o
grupo por inteiro se encarrega, através de lenta e espontânea
elaboração consuetudinária. Daí centralização jurisdicional e
descentralização legislativa.
O modo socialmente hábil de identificar o quem (juiz)
irá dizer o Direito (jurisdição) é resolvido pelo grupo primi-
tivo ou arcaico de modo peculiar ao entendimento societário
vigente. Todavia, o processo mais generalizado tem sido o de
a comunidade pre-letrada atribuir espontâneamente aos mais
velhos tal encargo, já que se tra ta de aplicar a norma consue-
tudinária derivada do costume imemorial do grupo, pois somente
quem muito viveu está em condições de conhecê-la convenien-
temente para proceder a uma correta aplicação. Somente o
mais velho, por ser um contemporâneo do passado grupai, está
em tais condições num grupo pre-letrado, e que, como tal, des-
conhece livros, arquivos, bibliotecas e todos os demais processos
mais recentes de conservação (escrita) da memória coletiva.
Dessa etapa de descentralização legislativa e centralização
jurisdicional o passo subseqüente será a dupla centralização:
tanto a jurisdicional como a legislativa. Agora já não somente
existe o quem dirá o Direito (juiz) contido no costume ime-
morial como também o quem ditará o Direito nôvo, que ora
retificará o velho costume, ora o abrogará, se tiver fôrça para
tanto (legislador).
Então, a lei passará, provavelmente, à condição de fonte
primacial do Direito. Somente a essa altura é possível esperar
que a doutrina faça a sua aparição como comentário dos juris-
peritos ao texto das leis. Pela sua própria natureza teórica,
a doutrina vem a ser, genèticamente, a última fonte jurídica,
aquela que não pode fazer sua aparição senão quando a socie-
dade não somente já alcançou um alto nível de individuali-
zação como tam bém a sua vida intelectual já atingiu tais culmi-
nâncias que perm itam o aparecimento dêste tipo de intelectual
especializado que é o legista, jurisprudente ou ju rista .
Com o aparecim ento da doutrina, que já no sistem a rom ano
representa um saliente papel, completa-se o quadro das fontes
fundam entais do Dreito — lei, costume, jurisdicência, d o u trin a .
Os tra ta d ista s costum am incluir outras instâncias no cômputo
das fontes jurídicas, tais os princípios gerais do Direito, a
equidade, os tra ta d o s internacionais, os atos e negócios ju rí-
dicos, m as não há negar que é através dessas quatro grandes
vias, que essas demais fontes encontram sua confirmação, ou
então trata-se de norm a individualizada que irá encontrar sua
fundam entação em algum a norm a mais geral seja legislativa,
costum eira, jurisprudencial ou doutrinária.
6. A interpretação jurídica da conduta e a estrutura
da experiência jurídica.
Segundo o P ro f. Cossio a experiência jurídica compõe-se
de trê s elementos essenciais:
a) a e stru tu ra lógica;
b) o conteúdo dogmático (histórico-condicionado)
c) a valoração jurídica.
Quanto ao prim eiro dêsses elementos, dêle já sabemos o
essencial: que é a norma, um juízo de dever ser, de c a ráter
disjuntivo e que configura os elementos da relação jurídica.
O conteúdo dogmático é dado pelas fontes do D ireito.
Pela e stru tu ra da norm a sabemos, por exemplo, que o sujeito
passivo deve a prestação ao sujeito ativo desde a verificação
do fato jurídico. Mas, somente o conteúdo dogmático das fontes
— por exemplo a lei — poderá preencher êsse vazio lógico,
determ inado qual o fato tem poral que, verificado fa rá surgir
para o titu la r a faculdade e p ara o sujeito passivo a obrigação
de determ inada conduta.
A valoração jurídica é o elemento mais imponderável da
e stru tu ra da experiência jurídica. Sua indagação levar-nos-ia
muito além dos limites em que desejamos enquadrar esta su-
m ária exposição. Basta, pois, como referência conclusiva sôbre
esta m atéria, a indicação de que ta l valoração, pelo menos
enquanto praticada pelo aplicador da norma, não pode ser um a
valoração livre, o que resultaria na mais completa insegurança
vital, tão diversas são as conclusões valorativas de diferentes
indivíduos. E para que essa valoração não seja livre — livre-
mente emocional — é que existem as fontes do Direito, que
como instâncias norm ativas socialmente reconhecidas, compor-
tam -se como instâncias de intersubjetividade — a objetividade
que, no caso, é possível — em têrm os a corrigir a valoração
pessoal do julgador (*).
(*) O texto presente é a transposição escrita da Aula Maior sôbre
O DIREITO, proferida pelo A., no curso de Introdução às Ciências Sociais
do Tronco Direito-Economia-Administração da Universidade de Brasília,
durante o primeiro semestre letivo de 1963.
Você também pode gostar
- Análise Comportamental Do Direito (Aguiar)Documento30 páginasAnálise Comportamental Do Direito (Aguiar)Marcelo HenklainAinda não há avaliações
- Moral e Conceito de Direito em Herbert HartNo EverandMoral e Conceito de Direito em Herbert HartAinda não há avaliações
- Análise econômica do Direito e teoria dos sistemas de Niklas LuhmannNo EverandAnálise econômica do Direito e teoria dos sistemas de Niklas LuhmannAinda não há avaliações
- A Aplicação e Efetivação dos Direitos Fundamentais entre Particulares: um estudo sobre a eficácia horizontalNo EverandA Aplicação e Efetivação dos Direitos Fundamentais entre Particulares: um estudo sobre a eficácia horizontalAinda não há avaliações
- Pachukanis e Kelsen: uma breve análise sobre o papel estatal em seus sistemas jurídicosNo EverandPachukanis e Kelsen: uma breve análise sobre o papel estatal em seus sistemas jurídicosAinda não há avaliações
- Lei da Liberdade: Introdução Histórica ao Pensamento Jurídico - Épocas Medieval e ModernaNo EverandLei da Liberdade: Introdução Histórica ao Pensamento Jurídico - Épocas Medieval e ModernaAinda não há avaliações
- A Ciência Do DireitoDocumento9 páginasA Ciência Do DireitoLuciano Santos MoreiraAinda não há avaliações
- Fichamento - Lições Preliminares de Direito - Miguel RealeDocumento3 páginasFichamento - Lições Preliminares de Direito - Miguel Realejenni.san0Ainda não há avaliações
- Reflexões Sobre Dogmática e Dominação - Enzo Gomes KohlertDocumento13 páginasReflexões Sobre Dogmática e Dominação - Enzo Gomes KohlertEnzo Gomes KohlertAinda não há avaliações
- Guia de Aulas 1Documento14 páginasGuia de Aulas 1aliced.ribeiroAinda não há avaliações
- HDP Eduardo FigueiredoDocumento55 páginasHDP Eduardo FigueiredohdiduheuhAinda não há avaliações
- A Construção de Uma Reflexão em Sociologia PolíticaDocumento23 páginasA Construção de Uma Reflexão em Sociologia PolíticaLuis EstenssoroAinda não há avaliações
- A proteção do patrimônio público e seu microssistema: aproximações em torno da sua fundamentação jurídicaNo EverandA proteção do patrimônio público e seu microssistema: aproximações em torno da sua fundamentação jurídicaAinda não há avaliações
- Acepção Do Direito PDFDocumento11 páginasAcepção Do Direito PDFEgon Daniel Ryvas Maposse Jr.Ainda não há avaliações
- Lenio Streck - Daniel Ortiz - O Mito Do Positivismo JuridicoDocumento21 páginasLenio Streck - Daniel Ortiz - O Mito Do Positivismo JuridicoThiagoAinda não há avaliações
- A. L. Machado Neto - O Problema Da Ciência Do Direito - Ensaio de Epistemologia Jurídica - Capítulo VII - Egologismo Existencial - Ano 1958Documento26 páginasA. L. Machado Neto - O Problema Da Ciência Do Direito - Ensaio de Epistemologia Jurídica - Capítulo VII - Egologismo Existencial - Ano 1958vtAinda não há avaliações
- Positivismo jurídico e não positivismo jurídico: concepções teóricas e distinções práticasNo EverandPositivismo jurídico e não positivismo jurídico: concepções teóricas e distinções práticasAinda não há avaliações
- Resumos Finais MetodologiaDocumento13 páginasResumos Finais MetodologiaCristiano CabralAinda não há avaliações
- Aula 02 - SociologiaDocumento17 páginasAula 02 - SociologiascarlatAinda não há avaliações
- Direito e direitos humanos: abordagem histórico-filosófica e conceitualNo EverandDireito e direitos humanos: abordagem histórico-filosófica e conceitualAinda não há avaliações
- Filosofia Do Direito - PortalDocumento12 páginasFilosofia Do Direito - PortalRicardo GuimarãesAinda não há avaliações
- PositivismoDocumento3 páginasPositivismoHerminio RaiboAinda não há avaliações
- Resumo - A Ciência Do Direito (Tercio Sampaio)Documento6 páginasResumo - A Ciência Do Direito (Tercio Sampaio)Isabella MouraAinda não há avaliações
- 2011 - A Introdução Ao Direito Nos Cursos JurídicosDocumento50 páginas2011 - A Introdução Ao Direito Nos Cursos JurídicoscadorimAinda não há avaliações
- Dos Delitos E Das Penas. Fichamento ComentadoNo EverandDos Delitos E Das Penas. Fichamento ComentadoAinda não há avaliações
- Noções Básicas Sobre CiênciaDocumento8 páginasNoções Básicas Sobre CiênciaRodrigo Penha MoreiraAinda não há avaliações
- Exercício de Revisão para 1 Av RespondidoDocumento10 páginasExercício de Revisão para 1 Av RespondidoJoão Victor FernandesAinda não há avaliações
- João Maurício Adeodato - Tolerância e Conceito de Dignidade Da Pessoa Humana No Positivismo Ético PDFDocumento16 páginasJoão Maurício Adeodato - Tolerância e Conceito de Dignidade Da Pessoa Humana No Positivismo Ético PDFramonchicoAinda não há avaliações
- Paradigmas Sociológicos e Analise Organizacional - Burrel e MorganDocumento33 páginasParadigmas Sociológicos e Analise Organizacional - Burrel e MorganMariana Serafim Xavier Antunes100% (1)
- Dialnet AindaOUniversalismoEOParticularismoDosDireitosHuma 7277437Documento16 páginasDialnet AindaOUniversalismoEOParticularismoDosDireitosHuma 7277437Julliet CorreaAinda não há avaliações
- Aula Filosofia Jurídica Parte 1 PDFDocumento15 páginasAula Filosofia Jurídica Parte 1 PDFxuxa9049Ainda não há avaliações
- Estudo sobre pessoa e personalidade: uma proposta para fundamentação da tutela post mortem dos direitos de personalidadeNo EverandEstudo sobre pessoa e personalidade: uma proposta para fundamentação da tutela post mortem dos direitos de personalidadeAinda não há avaliações
- Sociologia para ExamenDocumento44 páginasSociologia para ExamenHenry Byron Cifuentes VelasquezAinda não há avaliações
- Aulas de FilosofiaDocumento5 páginasAulas de FilosofiaLohayne SoaresAinda não há avaliações
- A Ciência Do DireitoDocumento10 páginasA Ciência Do DireitoCandi A CastroAinda não há avaliações
- Miguel Reale - Pluralismo e Liberdade - O Poder Na Democracia (Direito e Poder e Sua Correlação)Documento28 páginasMiguel Reale - Pluralismo e Liberdade - O Poder Na Democracia (Direito e Poder e Sua Correlação)Luiz Filipe AraújoAinda não há avaliações
- Antropologia JurídicaDocumento7 páginasAntropologia JurídicaElizabeth GuimarãesAinda não há avaliações
- A Prisão Sob A Ótica de Seus ProtagonistasDocumento17 páginasA Prisão Sob A Ótica de Seus ProtagonistasjosearturgoncalvesAinda não há avaliações
- Apostila de Sociologia Da EducaçãoDocumento14 páginasApostila de Sociologia Da EducaçãoJoete CarvalhoAinda não há avaliações
- A Ciencia Do DireitoDocumento10 páginasA Ciencia Do DireitoJuliana Dos Santos ManczakAinda não há avaliações
- Natureza Do Direito PDFDocumento18 páginasNatureza Do Direito PDFLuciana VegaAinda não há avaliações
- 0pequena Reflexão Acerca Da Trajetória Das Aproximações e Estranhamentos Entre A Antropologia e o DireitoDocumento2 páginas0pequena Reflexão Acerca Da Trajetória Das Aproximações e Estranhamentos Entre A Antropologia e o DireitorancidAinda não há avaliações
- COING, H. e KIRST, S. Filosofia Do Direito, Seus Problemas e Campo TemáticoDocumento1 páginaCOING, H. e KIRST, S. Filosofia Do Direito, Seus Problemas e Campo TemáticopereiraruiAinda não há avaliações
- Trabalho de Filosofia Do DireitoDocumento12 páginasTrabalho de Filosofia Do DireitoJose Bunga100% (1)
- Da Distinção Entre Filosofia Do Direito e Ciência Jurídica PDFDocumento24 páginasDa Distinção Entre Filosofia Do Direito e Ciência Jurídica PDFDerick Alves AvilaAinda não há avaliações
- Um+discurso+sobre+as+ciências Boaventura+de+sousa+santos Fichamento+ (Metodologia)Documento10 páginasUm+discurso+sobre+as+ciências Boaventura+de+sousa+santos Fichamento+ (Metodologia)Lee BrasilAinda não há avaliações
- 3 - María José Falcón y Tella - Lições de Teoria Geral Do Direito - Lição 1 - As Diversas Perspectivas para Abordar e Construir o Conceito de DireitoDocumento20 páginas3 - María José Falcón y Tella - Lições de Teoria Geral Do Direito - Lição 1 - As Diversas Perspectivas para Abordar e Construir o Conceito de DireitoLarissadePaulaAinda não há avaliações
- Aulas Metodologia JurídicaDocumento15 páginasAulas Metodologia JurídicaDani PinhoAinda não há avaliações
- Texto PDF para Os Estudantes Filosofia Do DireitoDocumento36 páginasTexto PDF para Os Estudantes Filosofia Do DireitorichardAinda não há avaliações
- Negócios jurídicos processuais e os direitos da personalidadeNo EverandNegócios jurídicos processuais e os direitos da personalidadeAinda não há avaliações
- InstrumentalismoDocumento25 páginasInstrumentalismoLuciano SOARESAinda não há avaliações
- Consorcio PublicoDocumento16 páginasConsorcio PublicoLuciano SOARESAinda não há avaliações
- Civil IDocumento23 páginasCivil ILuciano SOARESAinda não há avaliações
- BrazucaDocumento3 páginasBrazucaLuciano SOARESAinda não há avaliações
- Quais São Os Benefícios PrevidenciáriosDocumento2 páginasQuais São Os Benefícios PrevidenciáriosLuciano SOARESAinda não há avaliações
- Ebook Manifestando Seu 2020 PDFDocumento27 páginasEbook Manifestando Seu 2020 PDFFabiogaviAinda não há avaliações
- Vários Autores - Planejamento e Avaliação EscolarDocumento129 páginasVários Autores - Planejamento e Avaliação EscolarJoana D'ArcAinda não há avaliações
- Meditações - Bert HellingerDocumento58 páginasMeditações - Bert HellingerFernanda Beux87% (15)
- Aula 6 - Ética Na PsicoterapiaDocumento14 páginasAula 6 - Ética Na PsicoterapiaRomano Scroccaro ZattoniAinda não há avaliações
- Planner GUARDA-ROUPA FUNCIONALDocumento33 páginasPlanner GUARDA-ROUPA FUNCIONALRafaela FressaAinda não há avaliações
- Força Peso e Força NormalDocumento15 páginasForça Peso e Força NormalBrenda Flávio MurariAinda não há avaliações
- Resumão de FilosofiaDocumento11 páginasResumão de Filosofiajuliagrijo03Ainda não há avaliações
- O Poder Feminino de SuitsDocumento42 páginasO Poder Feminino de SuitsFelipeSouzaAinda não há avaliações
- LUGAR E IDENTIDADE NOS POEMAS QUENTURA E Roraima de Eliakin Rufino - Catia MonteiroDocumento10 páginasLUGAR E IDENTIDADE NOS POEMAS QUENTURA E Roraima de Eliakin Rufino - Catia MonteiroAldenor PimentelAinda não há avaliações
- Valores e VirtudesDocumento6 páginasValores e Virtudessilvio donegaAinda não há avaliações
- Atividade Fernado PessoaDocumento2 páginasAtividade Fernado PessoaStephanie VitoriaAinda não há avaliações
- Vida e Obra Dos Grandes Educadores GrupoDocumento14 páginasVida e Obra Dos Grandes Educadores GrupoJosé MaunzeAinda não há avaliações
- 1 Lista Virtual Literatura - RuberpauloDocumento1 página1 Lista Virtual Literatura - RuberpauloRuberpaulo CyprianoAinda não há avaliações
- Apostila Antropocentrismo - Platão, Santo Agostinho e DescartesDocumento4 páginasApostila Antropocentrismo - Platão, Santo Agostinho e DescartesPaula LopesAinda não há avaliações
- Atividade Hermenêutica AV2Documento7 páginasAtividade Hermenêutica AV2Josy BispoAinda não há avaliações
- Descrição Das 16 PersonalidadesDocumento22 páginasDescrição Das 16 PersonalidadesLuciano Pereira da Silva SantosAinda não há avaliações
- Supremo Conclave Do BrasilDocumento7 páginasSupremo Conclave Do BrasiljrnegreirosAinda não há avaliações
- Analise Real - Notas Aula CEDERJDocumento204 páginasAnalise Real - Notas Aula CEDERJRafael RosbackAinda não há avaliações
- IgpupiarasloisonsDocumento5 páginasIgpupiarasloisonsLeona WolfAinda não há avaliações
- Os 8 Tipos de PersonalidadeDocumento6 páginasOs 8 Tipos de PersonalidadeSilvana BarbedoAinda não há avaliações
- A INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL (QS), O AMOR E O MEDO - Fernando RochaelDocumento17 páginasA INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL (QS), O AMOR E O MEDO - Fernando RochaelfernandorochaelAinda não há avaliações
- Realismo Naturalismo em PortugalDocumento7 páginasRealismo Naturalismo em PortugalDângela ThalyaAinda não há avaliações
- Pesquisa Sobre o Tema Aplicação e Interpretação Da Norma JurídicaDocumento11 páginasPesquisa Sobre o Tema Aplicação e Interpretação Da Norma Jurídicakarla santosAinda não há avaliações
- Trabalho de Direito-Daniel PDFDocumento32 páginasTrabalho de Direito-Daniel PDFWolfo ChicoAinda não há avaliações
- A História Da Arte Rupestre !Documento16 páginasA História Da Arte Rupestre !Willian LealAinda não há avaliações
- Cópia Traduzida de Module - 3 - 1. - Mechanism - Overview - TranscriptDocumento6 páginasCópia Traduzida de Module - 3 - 1. - Mechanism - Overview - TranscriptVinicius MartinsAinda não há avaliações
- Francois Jullien - Figuras Da ImanênciaDocumento252 páginasFrancois Jullien - Figuras Da ImanênciaGabriel Barbosa Mendes100% (1)
- A MAGIA DE NARRAR., Texto FinalDocumento25 páginasA MAGIA DE NARRAR., Texto FinalRenato VeronezeAinda não há avaliações
- Lógica Computacional - Cw1 Unidade 1 Sessão 1Documento3 páginasLógica Computacional - Cw1 Unidade 1 Sessão 1Hebert FelixAinda não há avaliações
- Resumo - Humanidade - e - Cidadania Resumo 2Documento3 páginasResumo - Humanidade - e - Cidadania Resumo 2Pedro BeghelliAinda não há avaliações