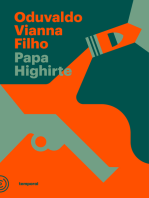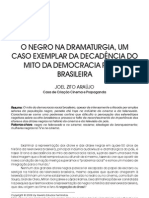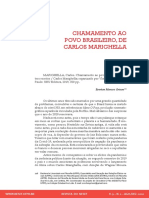Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Guerrilheiro e o Capitão Nascimento
Enviado por
IrajáMenezes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações3 páginasTítulo original
O GUERRILHEIRO E O CAPITÃO NASCIMENTO
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações3 páginasO Guerrilheiro e o Capitão Nascimento
Enviado por
IrajáMenezesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
O GUERRILHEIRO E O CAPITÃO NASCIMENTO.
Por Solange Cavalcante
O filme Marighella ou como ajustar a História ao gosto neoliberal e palatável.
Com Marighella finalmente lançado, Wagner Moura tem peregrinado pela imprensa
especializada, relatando o boicote que seu filme sofre desde o malfadado lançamento,
em 2019. Mas se Moura não mente, porque o clima no Brasil é mesmo fascista, o
diretor não é totalmente honesto. Basta um mínimo conhecimento sobre a biografia do
revolucionário baiano e o contexto em que ele viveu para perceber que Moura
censurou seu próprio filme e a História, a fim de permanecer “bem na fita” com quem
manda na indústria cultural, na indústria do entretenimento e com quem sempre deu
as cartas, no Brasil.
Moura criou um Marighella solitário e acuado, diferente do deputado federal e
revolucionário culto, carismático e estimado no meio político, cercado de amigos,
apoiadores, intelectuais e estudantes – mesmo que esse apoio não pudesse ser
ostensivo.
No filme há a completa ausência de manifestações, de confrontos, da fala e da presença
do povo (do campo e das cidades), contrário ou a favor da ditadura militar. Os
militares são invisíveis – seus nomes, patentes, crimes e responsabilidade histórica
não são explicitamente descritos. Fosse um filme felliniano, os militares seriam sonhos
incompreensíveis. Mas Moura não é Fellini.
Em Marighella, a ambientação é, na maior parte, fechada e com pouca luz. Isso pode
ser mais do mesmo da pobreza da fotografia do cinema brasileiro. Esse poderia ser um
recurso para indicar a claustrofobia do contexto, mas parece mais que Moura se iludiu
ou quis iludir o público, querendo contar essa história em poucas pinceladas
intimistas.
Como roteiristas, Wagner Moura e Felipe Braga são típicos filhos da escola Globo de
roteiros, sem a menor inspiração ou curiosidade pelos textos geniais de Elio Petri e
Ugo Pirro, por exemplo, quando se trata de filmes políticos. Os roteiristas nacionais,
todos da mesma escola, vivem de diluir grandes personagens como Marighella,
misturando-as a tramas fictícias da vida privada, para criar apelo emocional e não o
conhecimento dos fatos (vide a bobajada em torno das biografias de Pedro I e Pedro II,
na tevê, e as biografias dos Joõesinhos Trinta e das Hebes Camargo, no cinema).
Em Marighella, Moura e Braga apostaram no fio condutor do pai amoroso que ensina o
filho a nadar, que faz promessas e que grava fitas de despedida – fato que nunca
existiu. Eles acharam impossível traduzir em linguagem cinematográfica que querer
justiça para todos já é amor. E sim, licenças poéticas são sempre permitidas. Mas furos
propositais na História por preguiça, por economia, por comprometimento ou medo
dos poderosos, não.
No filme há o apagamento de símbolos da luta revolucionária/da esquerda como a cor
vermelha, punhos fechados erguidos para o ar, da foice e do martelo, de fotos de
Guevara, das falas e cenas originais dos inimigos e personalidades da época, da
fantástica trilha sonora de músicas de protesto e de slogans escritos nos muros. O
resultado é um Marighella desconectado da atmosfera do mundo que o cercava.
Episódios dramáticos, como a expulsão de Marighella do Partido Comunista, é
reduzido a uma conversa a dois, na qual, por superficialidade ou economia, um partido
inteiro é representado por um jornalista inventado, um tal de Jorge Salles (Herson
Capri). Esse recurso seria aceitável, se não fosse usado à exaustão no filme inteiro. Ele
abusa dos personagens/tipo que representam multidões de outras pessoas.
No filme, A Ação Libertadora Nacional (ALN) é representada por cinco ou seis gatos
pingados com cara de desequilibrados – aliás, quando é que os revolucionários da
época foram descritos de forma diferente, na nossa indústria cultural, senão como
personagens inventados, sem sobrenome, sem história, sem empatia e com índole
sociopata? Não fosse assim, qual a razão do tal Almir não ser chamado pelo nome justo
do jornalista, tradutor e revolucionário JOAQUIM CÂMARA FERREIRA? Ele teria sido
uma figura execrável? A família não permite que ele seja citado? Ou o diretor do filme
se autocensurou (antes mesmo que Bolsonaro o fizesse) para não ficar mal com os
produtores/patrocinadores?
Por que o delegado torturador do DOPS, com nome e sobrenome SERGIO FERNANDO
PARANHOS FLEURY, pago pela burguesia de São Paulo (com nome e sobrenome) para
desaparecer com presos políticos e criminosos comuns através dos esquadrões da
morte, aparece como delegado Lucio? Lucio de quê? Lucio a mando de quem, entre os
militares (com nome e sobrenome, como EMILIO GARRASTAZU MEDICI)? Fleury, aliás,
tornou-se tão íntimo dos ditadores que, cada vez que era citado num processo por
abuso de poder, arrolava oficiais das três armas para testemunharem a seu favor.
Todos com nome e sobrenome.
Quando, por exemplo, do sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick, em
1969, a ALN condicionou sua soltura à leitura integral de um manifesto nos jornais,
nas rádios e na tevê. Foi CID MOREIRA (com nome e sobrenome) quem leu o
manifesto. Na Rede Globo. No Jornal Nacional. No filme, o manifesto é lido por um
apresentador sem nome, numa rede chamara TV J. Poderia ser uma tevê X ou tevê Z.
Sem nome.
E por que não nomear os frades dominicanos FERNANDO DE BRITO E YVES DO
AMARAL LEBAUSPIN, que Fleury torturou e usou para atrair e matar Marighella? Qual
foi o crime deles, segundo Moura, para seus nomes serem evitados? Seria o crime de
“beijoqueiros da traição”, de “covardes”, de “infelizes” e de terem entregue Marighella
com “tática meticulosa”, como escreveu Roberto Marinho, no editorial de O Globo
chamado “O beijo de Judas”? O nome Marinho, aliás, passa longe da narrativa. Então:
quem é que censura o filme de Wagner Moura?
Clara Charf era quadro de partido e feminista atuante. Não é nem nunca foi uma dona
de casa chorosa. As três aparições da personagem, no filme, não fazem justiça a ela. A
presença de Adriana Esteves, do casting da Globo, é um recurso comum no cinema
brasileiro, para “levantar” o filme. Presenças VIP como a dela e de Bruno Gagliasso
importam mais do que contar a história verdadeira. É a velha guerra entre forma e
conteúdo, e aqui Wagner Moura escolhe o lado em que sua produção quer estar.
Antes de publicar receitas de bolo entre os textos de seus jornais por causa da censura,
os grupos Estado e Folha de S. Paulo bem que apoiaram o golpe militar. É provado que
a Folha emprestava seus caminhões para a desova dos cadáveres de presos políticos. E
adivinhem. Nenhum deles é mencionado, no filme Marighella.
Carente de bom texto (nada de análise de conjuntura, filosofia política, citação de
autores ou de intelectuais importantes, Marx, nada), as cenas de tortura tornam-se,
então, a solução fácil do diretor, quase como o ápice da produção – e por isso
totalmente dispensáveis. Amigo, se você dispensou todo o resto, não venha com o
recurso da truculência.
No final, tudo pode piorar. Aquele grupinho de desequilibrados sociopatas volta do
nada (como se o diretor se lembrasse que podia usar Fellini como referência, na
questão dos sonhos) e se mete a gritar e pular, cantando o hino nacional. Não é Bella
Ciao nem A Internacional Socialista – é o hino nacional. Eu digo que em mais de
quarenta anos de militância, nem eu nem os companheiros todos nunca nos vimos
minimamente inclinados a cantar o hino nacional. Quem cria essa sequência, num
filme, não sabe nada de nós.
E aí finalmente compreendemos porque Mano Brown abandonou a produção e o papel
de protagonista – é porque a história que Moura escolheu contar é constrangedora. Eu
também abandonaria.
Você também pode gostar
- A sobrancelha é o bigode do olho: Uma autobiografia inventada do Barão de ItararéNo EverandA sobrancelha é o bigode do olho: Uma autobiografia inventada do Barão de ItararéAinda não há avaliações
- Resenha Do Filme Terra em TranseDocumento3 páginasResenha Do Filme Terra em Transealberto.portugalAinda não há avaliações
- Políticos, pernósticos & lunáticos: Textos de um dos maiores humoristas americanos de todos os tempos, Will RogersNo EverandPolíticos, pernósticos & lunáticos: Textos de um dos maiores humoristas americanos de todos os tempos, Will RogersAinda não há avaliações
- Fichamento de Citações de TupinilandiaDocumento9 páginasFichamento de Citações de TupinilandiaPedro FortunatoAinda não há avaliações
- SCHWARZ, R. O Fio Da Meada (Cabra Marcado Pra Morrer)Documento4 páginasSCHWARZ, R. O Fio Da Meada (Cabra Marcado Pra Morrer)loser67Ainda não há avaliações
- O sertão como dado, São Saruê como aspiração: o documentário "O País de São Saruê", entre a utopia e a políticaNo EverandO sertão como dado, São Saruê como aspiração: o documentário "O País de São Saruê", entre a utopia e a políticaAinda não há avaliações
- Crítica Ao Filme MarighellaDocumento5 páginasCrítica Ao Filme MarighellaMarcelo TaumaturgoAinda não há avaliações
- Uma Historia de Amor e FuriaDocumento8 páginasUma Historia de Amor e FuriaMaria FrancelinoAinda não há avaliações
- 2 - Misérias Do ExilioDocumento4 páginas2 - Misérias Do ExilioNuno PereiraAinda não há avaliações
- Os Tambores Silenciosos - Análises Unioeste 2023Documento12 páginasOs Tambores Silenciosos - Análises Unioeste 2023amarildo.leiteAinda não há avaliações
- CatalogoSamFuller PDFDocumento117 páginasCatalogoSamFuller PDFLuís FloresAinda não há avaliações
- Relatorio Do Filme Olga 9BDocumento6 páginasRelatorio Do Filme Olga 9BLuís FelipeAinda não há avaliações
- MT 2ºA - Inteligência Artificial PUBLICIDADE 3 A - Ditadura MilitarDocumento48 páginasMT 2ºA - Inteligência Artificial PUBLICIDADE 3 A - Ditadura MilitarIsabela Souza de MenezesAinda não há avaliações
- Tempos e Homens DifíceisDocumento8 páginasTempos e Homens DifíceisLeandro SaraivaAinda não há avaliações
- O Ocaso de Lobão: Pseuo-Intelectualidade, Paranóia Reacionária e Mitomania No Centro Do Roda-VivaDocumento3 páginasO Ocaso de Lobão: Pseuo-Intelectualidade, Paranóia Reacionária e Mitomania No Centro Do Roda-VivaRodrigo Medina ZagniAinda não há avaliações
- Brasil - Uma BiografiaDocumento4 páginasBrasil - Uma BiografiaFrancisco PucciAinda não há avaliações
- Triste+Fim+de+Policarpo+Quaresma+ +revis oDocumento3 páginasTriste+Fim+de+Policarpo+Quaresma+ +revis oStephanie TrevisaniAinda não há avaliações
- Tambores SilenciososDocumento2 páginasTambores SilenciososNatália SoaresAinda não há avaliações
- Araújo - O Negro Na DramaturgiaDocumento7 páginasAraújo - O Negro Na DramaturgiaVeronica TosteAinda não há avaliações
- Felizmente Há Luar TrabalhoDocumento6 páginasFelizmente Há Luar TrabalhoAna BacalhauAinda não há avaliações
- Espanha - Guerra Civil Labirinto Do FaunoDocumento14 páginasEspanha - Guerra Civil Labirinto Do FaunoAna Paula PazzetiAinda não há avaliações
- Resenha Do Filme - Páginas Da RevoluçãoDocumento2 páginasResenha Do Filme - Páginas Da RevoluçãoLaís FernandaAinda não há avaliações
- Resenha AARÃO - Versões e FicçõesDocumento1 páginaResenha AARÃO - Versões e FicçõesMarcello BecreiAinda não há avaliações
- Dois Perdidos Numa Noite SujaDocumento10 páginasDois Perdidos Numa Noite SujaDeborah PereiraAinda não há avaliações
- Biografia Jô SoaresDocumento13 páginasBiografia Jô SoaresLorrane OliveiraAinda não há avaliações
- Humberto Mauro MORETTIN PDFDocumento12 páginasHumberto Mauro MORETTIN PDFHerico PradoAinda não há avaliações
- Graciliano Ramos, Escritor e Homem de PartidoDocumento21 páginasGraciliano Ramos, Escritor e Homem de PartidoWESLEY PENARIOL SILVAAinda não há avaliações
- Felizmente Há LuarDocumento4 páginasFelizmente Há LuarprofipalAinda não há avaliações
- Artigo REPRESENTAÇÕES DO FEMININO EM JEREMIAS HEROI Kênia ColaresDocumento10 páginasArtigo REPRESENTAÇÕES DO FEMININO EM JEREMIAS HEROI Kênia Colareskenia novaisAinda não há avaliações
- Resenha de Henrique Coelho Neto, Miragem, Por Renata Ferreira VieiraDocumento3 páginasResenha de Henrique Coelho Neto, Miragem, Por Renata Ferreira VieiraRafael OliveiraAinda não há avaliações
- ENTRE ESTEREÓTIPOS, TRANSGRESSÕES E LUGARES COMUNS: Notas Sobre A Pornochanchada No Cinema BrasileiroDocumento26 páginasENTRE ESTEREÓTIPOS, TRANSGRESSÕES E LUGARES COMUNS: Notas Sobre A Pornochanchada No Cinema BrasileiroJoel Silva SchutzAinda não há avaliações
- A Linguagem Do Cinema Novo: Glauber Rochae Seus MitosDocumento8 páginasA Linguagem Do Cinema Novo: Glauber Rochae Seus MitosFernando Gallo BAinda não há avaliações
- A Ditadura EnvergonhadaDocumento2 páginasA Ditadura EnvergonhadaLucas WurdelAinda não há avaliações
- A Herança Do Marajá SuperkitschDocumento7 páginasA Herança Do Marajá SuperkitschLeon BronsteinAinda não há avaliações
- A Mulher e o Cinema - Uma Breve Análise Da Representação Feminina Na Era de OuroDocumento10 páginasA Mulher e o Cinema - Uma Breve Análise Da Representação Feminina Na Era de OuroLAURA SILVA OLIVEIRAAinda não há avaliações
- 588-Template Da Submissão-9538-1-10-20080618Documento6 páginas588-Template Da Submissão-9538-1-10-20080618Precionete Luz dos SantosAinda não há avaliações
- Para Onde Foi A Senzala - ZUM - ZUMDocumento11 páginasPara Onde Foi A Senzala - ZUM - ZUMtheloniousarielAinda não há avaliações
- Garoto Linha Dura Stanlislaw PDFDocumento26 páginasGaroto Linha Dura Stanlislaw PDFAlcione A O de AraújoAinda não há avaliações
- Memórias de Violência em Decir Sí, de Griselda Gambaro, e Cariño Malo, de Inés StrangerDocumento7 páginasMemórias de Violência em Decir Sí, de Griselda Gambaro, e Cariño Malo, de Inés StrangerDaniele RodriguesAinda não há avaliações
- 2 JoiasDocumento11 páginas2 Joiasedson prandoAinda não há avaliações
- Ficha Informativa Felizmente Há Luar!Documento5 páginasFicha Informativa Felizmente Há Luar!Anonymous TJjUqrAinda não há avaliações
- Ensaio CultDocumento4 páginasEnsaio CultLeandroAinda não há avaliações
- Luiz Ancona  - O Homem Do Pau-Brasil de Joaquim Pedro de Andrade, Releitura Oswaldiana No Brasil Da AberturaDocumento11 páginasLuiz Ancona  - O Homem Do Pau-Brasil de Joaquim Pedro de Andrade, Releitura Oswaldiana No Brasil Da AberturaPedro MauadAinda não há avaliações
- ARQUIVO - FINAL Darcy para Glauber Revisado 2Documento11 páginasARQUIVO - FINAL Darcy para Glauber Revisado 2Gabriel QuintanilhaAinda não há avaliações
- Resenha Crítica: Ópera Do MalandroDocumento4 páginasResenha Crítica: Ópera Do MalandroHélio GrangeiroAinda não há avaliações
- A Onda Verde - Monteiro LobatoDocumento110 páginasA Onda Verde - Monteiro LobatoRodrigo MirandaAinda não há avaliações
- 410 1883 1 PB PDFDocumento22 páginas410 1883 1 PB PDFanon_476744169Ainda não há avaliações
- Antônio Chimango, Descrição e AnáliseDocumento8 páginasAntônio Chimango, Descrição e AnáliseMilene GoulartAinda não há avaliações
- Marighella, Um Filme de Amor RevolucinarioDocumento2 páginasMarighella, Um Filme de Amor RevolucinarioJamir LopesAinda não há avaliações
- Sexo e Erotismo No Cinema Brasileiro: A Era Da PornochanchadaDocumento10 páginasSexo e Erotismo No Cinema Brasileiro: A Era Da PornochanchadaWill CrujAinda não há avaliações
- Resummo Civ Do BrasilDocumento6 páginasResummo Civ Do BrasilLouise CarolineAinda não há avaliações
- O Doido e A MorteDocumento4 páginasO Doido e A MortePedro RaimundoAinda não há avaliações
- Chamamento Ao Povo BrasileiroDocumento5 páginasChamamento Ao Povo BrasileiroAndrey CamposAinda não há avaliações
- Resenha Critrica Hellen MarighellaDocumento8 páginasResenha Critrica Hellen MarighellaHellen CarolineAinda não há avaliações
- Bahia Com HDocumento2 páginasBahia Com HIrajáMenezesAinda não há avaliações
- As 3 Fases Do MaxixeDocumento17 páginasAs 3 Fases Do MaxixeIrajáMenezesAinda não há avaliações
- Presença de Villa-Lobos V 02 1966Documento107 páginasPresença de Villa-Lobos V 02 1966IrajáMenezesAinda não há avaliações
- Tempo ReiDocumento1 páginaTempo ReiIrajáMenezesAinda não há avaliações
- Presença de Villa-Lobos V 01 1965Documento118 páginasPresença de Villa-Lobos V 01 1965IrajáMenezesAinda não há avaliações
- Iraja Menezes LIRIQUESDocumento87 páginasIraja Menezes LIRIQUESIrajáMenezesAinda não há avaliações
- 50 Anos em 05Documento5 páginas50 Anos em 05IrajáMenezesAinda não há avaliações
- Ontologia Fundamental - Heidegger - Oswaldo Giacoia JRDocumento7 páginasOntologia Fundamental - Heidegger - Oswaldo Giacoia JRIrajáMenezesAinda não há avaliações
- Ontologia Fundamental - Heidegger - Oswaldo Giacoia JRDocumento7 páginasOntologia Fundamental - Heidegger - Oswaldo Giacoia JRIrajáMenezesAinda não há avaliações
- Ontologia Fundamental - Heidegger - Oswaldo Giacoia JRDocumento7 páginasOntologia Fundamental - Heidegger - Oswaldo Giacoia JRIrajáMenezesAinda não há avaliações
- A - Tropicalia - Cultura e Politica Nos Anos 60Documento17 páginasA - Tropicalia - Cultura e Politica Nos Anos 60Renato RibeiroAinda não há avaliações
- A - Tropicalia - Cultura e Politica Nos Anos 60Documento17 páginasA - Tropicalia - Cultura e Politica Nos Anos 60Renato RibeiroAinda não há avaliações
- BONDÍA, Jorge Larrosa - Notas Sobre A Experiência e o Saber de ExperiênciaDocumento9 páginasBONDÍA, Jorge Larrosa - Notas Sobre A Experiência e o Saber de ExperiênciaElisa_frickAinda não há avaliações
- Jose Aparecido Dos SantosDocumento18 páginasJose Aparecido Dos SantosIrajáMenezesAinda não há avaliações
- O Navio Negreiro Castro AlvesDocumento6 páginasO Navio Negreiro Castro AlvesAdelina TorquatoAinda não há avaliações
- Apresentação CQS - 2007 - OutubroDocumento13 páginasApresentação CQS - 2007 - OutubroIrajáMenezesAinda não há avaliações
- Hannah Arendt Trabalho Obra AcaoDocumento14 páginasHannah Arendt Trabalho Obra AcaoIrajáMenezes100% (2)
- Projeto ExperimentalDocumento126 páginasProjeto ExperimentalSebastiao XavierAinda não há avaliações
- Redacao Oficial Comercial e AdministrativaDocumento45 páginasRedacao Oficial Comercial e AdministrativaDasilva JoséAinda não há avaliações
- Fichamento de Artigo Sobre PlagioDocumento4 páginasFichamento de Artigo Sobre PlagioMarilsa AlbertoAinda não há avaliações
- Birigui Regimento Comum Das EscolasDocumento83 páginasBirigui Regimento Comum Das EscolasJulio Cesar CavalcantiAinda não há avaliações
- Tese - Carla Benitez Martins - 2018Documento353 páginasTese - Carla Benitez Martins - 2018Andre LuizAinda não há avaliações
- Novo Decreto - Comunicado ImportanteDocumento4 páginasNovo Decreto - Comunicado ImportantehigorgnAinda não há avaliações
- Licença BombeiroDocumento1 páginaLicença BombeiroMaxwell Pereira XavierAinda não há avaliações
- Trabalho Tipos de Redação EmpresarialDocumento5 páginasTrabalho Tipos de Redação Empresarialabissonho0% (2)
- Artigo Planejamento FinalDocumento18 páginasArtigo Planejamento FinalJuju MariaAinda não há avaliações
- Artesvisuais Apoiosustentado 2023 2026 Avisoabertura IntegralDocumento12 páginasArtesvisuais Apoiosustentado 2023 2026 Avisoabertura IntegralnunoAinda não há avaliações
- Questões de RevisãoDocumento5 páginasQuestões de Revisãoellengomes845Ainda não há avaliações
- Publicado 87901 2022-09-29Documento1.540 páginasPublicado 87901 2022-09-29Thiago AlmeidaAinda não há avaliações
- Aulas 3 e 4Documento12 páginasAulas 3 e 4Anne MartinsAinda não há avaliações
- CMC 549 LeituraDocumento32 páginasCMC 549 LeituraCelso DangoAinda não há avaliações
- A Escravidão Na América Espanhola BlackburnDocumento3 páginasA Escravidão Na América Espanhola BlackburnDiogo Alves GouveaAinda não há avaliações
- Trabalho Direito Digital - ProntoDocumento5 páginasTrabalho Direito Digital - ProntofabioAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito Operario - Evaristo de MoraesDocumento161 páginasApontamentos de Direito Operario - Evaristo de MoraesKennedy Almeida de LiraAinda não há avaliações
- Resumo Humaniza Sus 1Documento3 páginasResumo Humaniza Sus 1MAFLESOLIVEIRA100% (6)
- Tribunal de Justiça Do Estado de São Paulo: Processo Digital Nº: Classe - Assunto: Requerente: RequeridoDocumento3 páginasTribunal de Justiça Do Estado de São Paulo: Processo Digital Nº: Classe - Assunto: Requerente: RequeridoJefferson DaniloAinda não há avaliações
- Anais Rede Universitas 21 05 PDFDocumento1.348 páginasAnais Rede Universitas 21 05 PDFRegilson BorgesAinda não há avaliações
- Historico-Creditos InssDocumento3 páginasHistorico-Creditos InssClaudia MariaAinda não há avaliações
- Plano Distrital de Politicas para Mulheres 1Documento9 páginasPlano Distrital de Politicas para Mulheres 1Lucas SoaresAinda não há avaliações
- Decreto de Competência Nº. 33 .332 de 13 de Setembro de 2017Documento22 páginasDecreto de Competência Nº. 33 .332 de 13 de Setembro de 2017Carlos JuniorAinda não há avaliações
- Empirismo IIIDocumento37 páginasEmpirismo IIILucas MeloAinda não há avaliações
- Entrevista CPII Maria LuizaDocumento48 páginasEntrevista CPII Maria LuizaAlan PimentaAinda não há avaliações
- Edital 03 - 2022. Ppg-Psicologia Ufal Seleção Mestrado 2023Documento32 páginasEdital 03 - 2022. Ppg-Psicologia Ufal Seleção Mestrado 2023Giovanna MartinsAinda não há avaliações
- O Homem Livre - Jiddu Krishnamurti PDFDocumento181 páginasO Homem Livre - Jiddu Krishnamurti PDFKalil Morais MartinsAinda não há avaliações
- EAC 0466 - Aula 06 - Curvas de MercadoDocumento26 páginasEAC 0466 - Aula 06 - Curvas de MercadoTarcísio RodriguesAinda não há avaliações
- Questao Objetivas Populismo 1Documento16 páginasQuestao Objetivas Populismo 1Raissa MirandaAinda não há avaliações
- Professor de HistoriaDocumento16 páginasProfessor de HistoriaDiego AlmeidaAinda não há avaliações