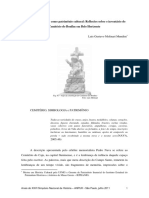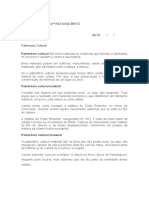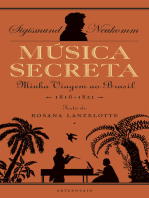Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Cemitério da Soledade: reflexão sobre arte, história e desigualdades em Belém
Enviado por
Pablo FernandezTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Cemitério da Soledade: reflexão sobre arte, história e desigualdades em Belém
Enviado por
Pablo FernandezDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A arquiteta, historiadora e diretora do Museu da Universidade Federal do Pará,
Jussara Derenji, tem uma relação de longa data com o Soledade. “O Cemitério
da Soledade me emociona. Quantas esperanças e sonhos terminaram ali”,
disse, enquanto combinávamos o melhor dia e horário para a entrevista, que
ocorreu pelo telefone. Entre confissões de ambas as partes, sobre quão à
vontade nos sentimos no sítio histórico, localizado no coração de Belém, nossa
convidada especial externou uma enorme preocupação pelo avançado estado
de degradação do Soledade. Entre saudades e afetos, revelou curiosidades e
afirmou que o local é uma reprodução da própria cena urbana – com
desigualdades e ostentações.
Troppo + Mulher: O Soledade é retrato de um período muito emblemático em
nossa história – desconcertantemente, vivemos novamente uma
epidemia/pandemia, um momento tão dramático quanto histórico. 170 anos se
passaram desde a inauguração do cemitério e... a exemplo dos memento mori,
quais lições ele deveria nos lembrar?
Jussara Derenji: O Soledade, sem dúvida, em função da epidemia, nasceu em
um período de luto, de dor, mas, também, quando a Belle Époque desponta em
Belém. O cemitério passou a refletir a fase do luxo, da ostentação, da riqueza
do período da borracha. Ele traz uma imitação dos modelos europeus, com o
surgimento dos cemitérios monumentais no Velho Continente, além do reflexo
de uma nova burguesia, que quer mostrar, no cemitério, esses privilégios, esse
poder e riqueza, diante da capacidade de erguer monumentos perenes. Eu,
particularmente, considero o Soledade uma cápsula do tempo, pelo curto tempo
em que ele funcionou [o local foi inaugurado em 1850 e encerrado em 1880, ou
seja, apenas 30 anos depois]. Então, ele ficou como uma amostra de um
período muito específico. Quanto à lição, é a mesma que todos os cemitérios
têm: qual a validade de certos sentimentos que temos em vida e para os quais
erguemos essas estátuas, monumentos... lembranças monumentais, que não
adiantam de nada? São vazios do sentido da própria vida. Ali, onde não jaz
vida, ficam todos as esperanças e sonhos. Fica a reflexão: a que nos damos
valor? Essa homenagem póstuma, para a época, era quase um dever para
quem fica, de fazer essa demonstração ostensiva de um pesar, de uma dor,
através de uma obra de arte.
Cemitério da Soledade (Lorena Filgueiras)
T+M: Para além de nos rememorar de um período de dor e riqueza, o que torna
o Soledade tão único? Qual o estado atual dele?
JD: Nesse período do Soledade, que é o primeiro cemitério católico daqui, ele
vai ter exemplos dos europeus, que se transformaram em cemitérios
monumentais e onde trabalham os grandes artistas do período. São artistas
que não necessariamente trabalhavam com arte funerária, mas que,
naturalmente, faziam túmulos de pessoas importantes da sociedade e que
realizaram verdadeiras obras de arte! É um período de enorme realismo e
temos, no Soledade, alguns exemplos da produção funerária de Gênova e da
região de Nápoles também, que primam pelos detalhes, pelas filigranas. Em
pedra, temos os detalhes das rendas, das flores bordadas, a delicadeza dos
cabelos – tudo é muito bem cuidado e com qualidade artística muito boa.
Muitas delas foram feitas na Europa e algumas, nas marmoarias daqui.
Infelizmente, nós não temos tantas identificações. Essa qualidade do que era
feito já se perdeu bastante, pelo estado em que se encontra o cemitério, que já
foi muito dilapidado e desfigurado...
T+M: A sra., inclusive, chegou a elaborar todo um plano de revitalização do
cemitério, não?
JD: Exatamente. Em 1994, quando eu estava na gestão de patrimônio do
Município, foi feito um grande projeto que transformaria aquele lugar num
espaço de arte, sem deixar de ser um cemitério, até porque é uma área
tombada... inclusive, foi uma das primeiras áreas no Brasil, acho que em 1941,
a ser tombada como área paisagística [o tombamento como patrimônio histórico
e cultural ocorreu em 1964]. E isso é muito raro.
T+M: O local é lindíssimo e tem esculturas muito diversas, mas, em maioria,
cuidadosas e bem elaboradas.
JD: As esculturas da época eram feitas por grandes artistas, que davam forma
às grandes simbologias: morte, saudade, tristeza, esperança. Alguns túmulos
têm simbologias ligadas às profissões das pessoas. Nos cemitérios europeus,
quando morria o chefe da família, ele e a família inteira eram simbolizados e
imortalizados; mãe e filho que morriam no parto também. Há grandes
conjuntos, monumentos enormes. Naquela época, dava-se muita importância à
arte funerária. Era, inclusive, um exercício obrigatório do curso de Arquitetura
na Europa. Eu não fiz, mas gerações antes de mim fizeram esse exercício: de
elaborar um túmulo. Aqui no Instituto Histórico e Geográfico, há estudos
detalhados de um túmulo. Até os anos 30, os túmulos eram objetos de
concursos públicos! O próprio túmulo do presidente Afonso Pena foi eleito em
um concurso. Em Belém, não havia escultores, mas é preciso que se diga que
um dos primeiros escultores era uma mulher! A Julieta de França, que nasceu
em Belém, e estudou por muito tempo em Paris, foi escultora. Embora tivesse
participado de inúmeros concursos, nunca ganhou. Voltando rapidamente às
esculturas, havia símbolos menores: a árvore caída, a flor quebrada, a tesoura
cortando o tempo, a ampulheta e flores... flores específicas para cada
sentimento. Um cemitério é como um livro, algo que pode ser “lido” e, por essa
razão, trabalhamos, em 1994, num projeto que o transformasse num museu a
céu aberto. Porque essa leitura é proporcionada pelos ícones, esculturas, que
foram colocadas ali justamente para serem lidas, interpretadas pelas gerações
posteriores. Agora, muita gente não conhece. Como ler tais simbologias
atualmente?
Jussara Derenji (Acervo Pessoaç)
T+M: Uma das figuras mais emblemáticas da arte funerária é o “anjo da
morte”...
JD: É aquele anjo que leva a alma. O Vittorio Lavezzari [escultor genovês] foi
um grande escultor italiano e essa figura [o anjo da morte] é muito característico
do que ele [Lavezzari] fazia no cemitério de Gênova. O anjo acompanhava uma
mulher, cuja pose é quase sensual, uma vez que ela estava “coberta” por uma
túnica colada ao corpo, deixando evidente seus contornos. Em Gênova, ele fez
duas mulheres nuas. A arte funerária tinha uma enorme capacidade de
abrangência de temas. Imagine cemitérios imensos e os artistas querendo se
destacar uns dos outros. Mas voltando ao Lavezzari, ele foi advertido pela
direção do cemitério que ele deveria cobrí-las.
T+M: Um pouco antes da entrevista, a sra. comentou algo interessantíssimo:
como o cemitério reflete a estrutura social da época...
JD: Ele, de fato, tem essa configuração. É uma reprodução do sistema social.
No caso de Gênova, os [túmulos] mais ricos ficam na parte mais alta do
cemitério; na área central, estão os mais poderosos e, no centro de tudo, o
símbolo religioso, que é a capela ou a igreja. Veja bem que estou falando dos
cemitérios católicos. No nosso caso, temos uma alameda central que leva à
capela, que, inclusive, foi toda restaurada em 1994, por uma equipe de
especialistas. Inclusive todos os túmulos, na alameda principal, foram
igualmente restaurados. E ali, estão as pessoas mais importantes – não quer
dizer que sejam as pessoas mais ricas! Eram pessoas importantes para a vida
social, para a comunidade. Depois, vão se espraiando as pessoas menos
conhecidas. As que não têm qualquer feito memorável, estão mais ao lado.
T+M: Quem foi o primeiro enterrado do local?
JD: Ah, foi a babá de uma poderosa família da região! Se não foi o primeiro, foi
um dos primeiros enterramentos! Aí entramos na questão do valor que se dá a
essa dignidade na morte. É uma característica, inclusive, do período: o
cemitério era uma maneira de dar essa dignidade ao morto, uma valorização,
mostrando a todos o quanto aquela pessoa era querida. E veja bem, enterrar
uma babá, que obviamente era negra e ama de leite, é compreender o
entendimento do valor sentimental, o quanto essa pessoa foi importante para a
família: ela descansaria no cemitério recém-aberto. Até então, as pessoas
importantes eram enterradas nas igrejas.
T+M: É muito triste ver o Soledade morrer a olhos vistos, professora.
JD: Boa parte do ferro de lá foi roubado. Triste ver as esculturas sendo
depredadas, cabeças roubadas para serem vendidas em antiquários...
T+M: ...movimentando todo um comércio ilegal.
JD: Exatamente! Isso tudo é oriundo desse espaço! Avalie uma cabeça de uma
mulher, que data desse período [1850-1880], com traços realistas, ricos,
românticos, sendo tirada desse contexto e vendida com todo um discurso...
ninguém suspeita que tenha sido tirada de um cemitério, que se trate de arte
funerária. Em Gênova, eles têm muito cuidado com isso, além de, no arquivo
municipal, um registro com todos os projetos catalogados dos túmulos. Os
projetos originais são guardados. Esse cuidado com o patrimônio deveria valer
aqui. Se a valorização não ocorre por questões religiosas ou de superstições,
que seja pelo valor de obra de arte! Não existe em Belém, desse período,
nenhum outro local que reúna tantas obras de artes como o cemitério! Esse
verdadeiro museu de esculturas está abandonado pelo poder público! E olhe
que em 1994, apresentei o projeto. Mais de vinte anos que não se faz nada
pelo Soledade. A proposta de cemitério parque foi apresentada num encontro
nacional de História e deixei o projeto na FUMBEL [Fundação Cultural do
Município de Belém], quando saí de lá. Ele contemplava, entre outras coisas, a
criação de uma oficina de restauro na parte de trás do cemitério.
T+M: Criando uma mão-de-obra local especializada, coisa que talvez não
tivéssemos naquela época.
JD: Não tínhamos e agora temos, pela UFPA, o Curso de Conservação e
Restauro, que está formando novos profissionais, mas ainda não há
profissionais em pedra, matéria-prima de 80% das obras. O mausoléu da
família Chermont, que é belíssimo, além de outros, cujas esculturas foram
trazidas de fora [do país].
T+M: E qual a maior lição que a morte nos deixa?
JD: Tive uma amiga sensacional, a Maria Sylvia Nunes [que nos deixou no
começo deste ano], que encantava a todos, pela maneira com que enfrentou e
superou a morte do professor Benedito [filósofo Benedito Nunes], porque viviam
os dois, sem filhos. Ela me dizia: “Jussara, não tenho vocação para ser infeliz!”
[Derenji ri bastante aqui] Pedi a ela: “Maria, posso usar isso?”. É exatamente
isso: os cemitérios trazem a compreensão da finitude, que é tão difícil para o
ser humano. Ali se acaba toda a vaidade, poder, ambição, glória. Tudo isso se
vai. Devemos valorizar a vida e cultivar a capacidade de ser feliz!
Você também pode gostar
- Colorimetria: Entenda a teoria para dominar a práticaDocumento80 páginasColorimetria: Entenda a teoria para dominar a práticahtedrosAinda não há avaliações
- 017 - Cadenos de TeatroDocumento52 páginas017 - Cadenos de TeatroHumberto IssaoAinda não há avaliações
- A morte esculpida no Cemitério da Consolação: arte tumular como expressão socialNo EverandA morte esculpida no Cemitério da Consolação: arte tumular como expressão socialAinda não há avaliações
- Campanhas Mensais.Documento4 páginasCampanhas Mensais.Dayane Rocha100% (1)
- História Da Música EuropéiaDocumento239 páginasHistória Da Música EuropéiaMatheusMarra100% (3)
- Catálogo Bosch de Ferramentas - 13.14Documento364 páginasCatálogo Bosch de Ferramentas - 13.14Lucas KozmaAinda não há avaliações
- (Livro) DUPRAT Ecletismo-MusicalDocumento266 páginas(Livro) DUPRAT Ecletismo-MusicalFernando Emboaba de CamargoAinda não há avaliações
- A Morte Como Memória-DissertaçãoDocumento0 páginaA Morte Como Memória-DissertaçãoJoshua SpenceAinda não há avaliações
- Uma introdução às diversas manifestações artísticas ao longo da históriaDocumento58 páginasUma introdução às diversas manifestações artísticas ao longo da históriaCOLEGIOCIP100% (1)
- História do TeatroDocumento24 páginasHistória do TeatroGlaucia Aparecida Sales SantosAinda não há avaliações
- N 1219 PDFDocumento4 páginasN 1219 PDFEzequiel Castilhoni100% (1)
- Patrimônio Cultural em OficinasDocumento13 páginasPatrimônio Cultural em OficinasThayná Fuly100% (1)
- Resenha Lewis Henry Morgan - A SOCIEDADE ANTIGADocumento2 páginasResenha Lewis Henry Morgan - A SOCIEDADE ANTIGAEmerson Araujo67% (6)
- História Da Música Europeia - Jacques StehmanDocumento239 páginasHistória Da Música Europeia - Jacques StehmanRayna Rogerio De SouzaAinda não há avaliações
- EgitoDocumento5 páginasEgitoidalia lisboaAinda não há avaliações
- Lojas Saturno comemoram aniversário de seu fundadorDocumento23 páginasLojas Saturno comemoram aniversário de seu fundadorLuiz67% (3)
- Modernismo e a Semana de 22Documento15 páginasModernismo e a Semana de 22Marcelo MendoncafilhoAinda não há avaliações
- Mapa Ef2 6ano Artes PFDocumento5 páginasMapa Ef2 6ano Artes PFErika Fernandes Ferreira100% (1)
- A arte funerária de Rodolfo Bernardelli nos cemitérios do RJDocumento8 páginasA arte funerária de Rodolfo Bernardelli nos cemitérios do RJJorge Luís Stocker Jr.Ainda não há avaliações
- História da Arte no Ensino MédioDocumento43 páginasHistória da Arte no Ensino MédioThayara Costa100% (6)
- COBRAMSEG2016 - Cálculo e Execução de Tirantes Ancorados No Terreno. Obras ReaisDocumento8 páginasCOBRAMSEG2016 - Cálculo e Execução de Tirantes Ancorados No Terreno. Obras ReaisLuiz Antonio Naresi JuniorAinda não há avaliações
- A história da arte através dos períodosDocumento43 páginasA história da arte através dos períodosLucca Moretti100% (1)
- Historico 201804340021 PDFDocumento3 páginasHistorico 201804340021 PDFPablo FernandezAinda não há avaliações
- Celeida TostesDocumento368 páginasCeleida Tostesbascam2100% (4)
- Ulpiano Toledo Bezerra de MenesesDocumento5 páginasUlpiano Toledo Bezerra de MenesescamaralrsAinda não há avaliações
- Cadernos de Sociomuseologia 19Documento150 páginasCadernos de Sociomuseologia 19Daniel MouraAinda não há avaliações
- AZEVEDO, NELE, Monumento Mínimo, Uma Desconstrução Do MonumentoDocumento10 páginasAZEVEDO, NELE, Monumento Mínimo, Uma Desconstrução Do MonumentoCatiuscia DottoAinda não há avaliações
- Arte Cemiterial em Pelotas: Uma análise patrimonial e museológicaDocumento20 páginasArte Cemiterial em Pelotas: Uma análise patrimonial e museológicaCatarina PetterAinda não há avaliações
- Pedro Saraiva Caderno MafamudeDocumento24 páginasPedro Saraiva Caderno MafamudeMaria De Fátima LambertAinda não há avaliações
- 889 Manuscrito 1612 1 10 20190315Documento17 páginas889 Manuscrito 1612 1 10 20190315arm usaAinda não há avaliações
- Narrativas em foco: estudos interdisciplinares em humanidades: - Volume 2No EverandNarrativas em foco: estudos interdisciplinares em humanidades: - Volume 2Ainda não há avaliações
- Apresentação Seminario Alexandre CompacDocumento31 páginasApresentação Seminario Alexandre CompacDouglas Gadelha SáAinda não há avaliações
- Arte e Vida - Fasc - 2 - Unid - 4Documento28 páginasArte e Vida - Fasc - 2 - Unid - 4Roberto Carlos Rodolfo100% (1)
- EugÉnio TavaresDocumento20 páginasEugÉnio Tavaresapi-3730074100% (2)
- 8º Ano FILOSOFIA 3º Bimestre 23Documento10 páginas8º Ano FILOSOFIA 3º Bimestre 23cassiodasilvacarneiro100% (1)
- Caderno 02 - 1 SérieDocumento21 páginasCaderno 02 - 1 SériePORTAL RESPOSTAAinda não há avaliações
- BASTIANELLO. Elaine Maria. Dissertacao 2010Documento169 páginasBASTIANELLO. Elaine Maria. Dissertacao 2010DVYD14Ainda não há avaliações
- A Memoria e Uma Invencao Pagina SimplesDocumento220 páginasA Memoria e Uma Invencao Pagina SimplesStephann Abreu de FrançaAinda não há avaliações
- Artigo Final Seminario de PesquisaDocumento14 páginasArtigo Final Seminario de PesquisaAna Clara SantosAinda não há avaliações
- Davi no Museu: a arte de narrar outras históriasDocumento9 páginasDavi no Museu: a arte de narrar outras históriasTAISA MARIA LAVIANI DA SILVAAinda não há avaliações
- Cancioneiro da Serra d'Arga FolcloreDocumento201 páginasCancioneiro da Serra d'Arga FolcloreLuís Filipe PintoAinda não há avaliações
- A Voz - Agora - AntigamenteDocumento68 páginasA Voz - Agora - AntigamenteAnaPereiraAinda não há avaliações
- MUNDIM Luis Molinari As Necropoles ComoDocumento12 páginasMUNDIM Luis Molinari As Necropoles Comoiaciiara meloAinda não há avaliações
- Os Cemitérios Lugares de CulturaDocumento7 páginasOs Cemitérios Lugares de Culturaj9wvqt72zgAinda não há avaliações
- Música Tripartida - Parcival MódoloDocumento9 páginasMúsica Tripartida - Parcival MódoloAgnaldo Silva MarianoAinda não há avaliações
- Ced 8 - Gama Artes Visuais - Prof. Rayanne Brito Aluno: Turma: Data: / / Patrimonio CulturalDocumento2 páginasCed 8 - Gama Artes Visuais - Prof. Rayanne Brito Aluno: Turma: Data: / / Patrimonio CulturalRayanne Costa BritoAinda não há avaliações
- A décima no AlentejoDocumento308 páginasA décima no AlentejoJoaquim MorgadoAinda não há avaliações
- Débora Callender - Histórias Da CirandaDocumento18 páginasDébora Callender - Histórias Da CirandaProfessor Kalil AlencarAinda não há avaliações
- As 7 Belas Artes: Pintura, Escultura, Arquitetura, Música, Teatro, Literatura e CinemaDocumento28 páginasAs 7 Belas Artes: Pintura, Escultura, Arquitetura, Música, Teatro, Literatura e CinemaMichael FoxAinda não há avaliações
- Museus e A Influência Da Arte Na SociedadeDocumento3 páginasMuseus e A Influência Da Arte Na SociedadeGabriela Nunes AndradeAinda não há avaliações
- USF U10 Estudo Do Ser Humano ContemporâneoDocumento10 páginasUSF U10 Estudo Do Ser Humano ContemporâneoAngela LimaAinda não há avaliações
- A Música em Ribeirão Preto - Coleção Identidades CulturaisDocumento94 páginasA Música em Ribeirão Preto - Coleção Identidades CulturaisVaral DiversoAinda não há avaliações
- Ensaios QuentesDocumento138 páginasEnsaios QuentesPatri NievasAinda não há avaliações
- Arte Cemiterial - Santos 2011 (Farroupilha, Imigração Italiana, RS)Documento4 páginasArte Cemiterial - Santos 2011 (Farroupilha, Imigração Italiana, RS)Virginio MantessoAinda não há avaliações
- Vaso de UrukDocumento3 páginasVaso de Uruksergioandres1990Ainda não há avaliações
- Visita ao Memorial da América Latina e suas obrasDocumento11 páginasVisita ao Memorial da América Latina e suas obrasElaine Santos100% (1)
- Pré-Modernismo e Modernismo na Literatura BrasileiraDocumento7 páginasPré-Modernismo e Modernismo na Literatura BrasileiraMãos Entrem Em AçãoAinda não há avaliações
- A cidade como teatro: Marvin Carlson analisa encenações medievaisDocumento22 páginasA cidade como teatro: Marvin Carlson analisa encenações medievaisAna Paula BrasilAinda não há avaliações
- 01 - H Arte AntigaDocumento21 páginas01 - H Arte AntigaPriscila PryAinda não há avaliações
- Revista Patrimonio34Documento450 páginasRevista Patrimonio34Livia PaganoAinda não há avaliações
- A música e os músicos em tempos de intolerância:: o holocaustoNo EverandA música e os músicos em tempos de intolerância:: o holocaustoAinda não há avaliações
- Dissertação - Amanda Roberta de Castro BotelhoDocumento118 páginasDissertação - Amanda Roberta de Castro BotelhoPablo FernandezAinda não há avaliações
- 2 PBDocumento17 páginas2 PBPablo FernandezAinda não há avaliações
- CIEBA ReflexoessobreEscultura JoaoCastroSilvaDocumento212 páginasCIEBA ReflexoessobreEscultura JoaoCastroSilvaPablo FernandezAinda não há avaliações
- Da morte, velórios e cemitérios no BrasilDocumento26 páginasDa morte, velórios e cemitérios no BrasilPablo FernandezAinda não há avaliações
- Trago-Te Flores: Morte, Imagens E Linguagens: Paula Andréa Caluff Rodrigues Paulo Nunes Jorge MartinsDocumento20 páginasTrago-Te Flores: Morte, Imagens E Linguagens: Paula Andréa Caluff Rodrigues Paulo Nunes Jorge MartinsPablo FernandezAinda não há avaliações
- T GRUPO4 ResenhaCapt - ImagoUrbisDocumento3 páginasT GRUPO4 ResenhaCapt - ImagoUrbisPablo FernandezAinda não há avaliações
- Imagens Devocionais Nos Cemiterios Do BrasilDocumento9 páginasImagens Devocionais Nos Cemiterios Do BrasilPablo FernandezAinda não há avaliações
- Representações de alteridade no Cemitério Municipal São JoséDocumento17 páginasRepresentações de alteridade no Cemitério Municipal São JoséPablo FernandezAinda não há avaliações
- Poema NatDocumento1 páginaPoema NatPablo FernandezAinda não há avaliações
- E 6 Bdaf 34 C 86 e 44 F 5 BF 4 ADocumento14 páginasE 6 Bdaf 34 C 86 e 44 F 5 BF 4 APablo FernandezAinda não há avaliações
- Geertz analisa o Islã em Marrocos e IndonésiaDocumento3 páginasGeertz analisa o Islã em Marrocos e IndonésiaPablo Fernandez100% (1)
- 1 SMDocumento9 páginas1 SMPablo FernandezAinda não há avaliações
- 462 1528 1 SMDocumento4 páginas462 1528 1 SMPablo FernandezAinda não há avaliações
- Dissertacao MercadoSaoBrasDocumento147 páginasDissertacao MercadoSaoBrasPablo FernandezAinda não há avaliações
- Prova Parcial Tratamento de Minerios Sem - I - 2019Documento1 páginaProva Parcial Tratamento de Minerios Sem - I - 2019Pablo FernandezAinda não há avaliações
- Cooperativa sustentável inova com reciclagemDocumento20 páginasCooperativa sustentável inova com reciclagemPablo FernandezAinda não há avaliações
- Corte Poly PDFDocumento1 páginaCorte Poly PDFPablo FernandezAinda não há avaliações
- Concret oDocumento10 páginasConcret omarcus_brAinda não há avaliações
- Instituto Federal Do Pará: (Técnico em Design de Interiores)Documento17 páginasInstituto Federal Do Pará: (Técnico em Design de Interiores)Pablo FernandezAinda não há avaliações
- Introdução à História da Arte e DesignDocumento1 páginaIntrodução à História da Arte e DesignPablo FernandezAinda não há avaliações
- História Da FamíliaDocumento3 páginasHistória Da FamíliaPablo FernandezAinda não há avaliações
- Lista Resolvida Materiais II PDFDocumento36 páginasLista Resolvida Materiais II PDFFranciane GaglianoAinda não há avaliações
- Instituto Federal Do Pará: (Técnico em Design de Interiores)Documento17 páginasInstituto Federal Do Pará: (Técnico em Design de Interiores)Pablo FernandezAinda não há avaliações
- Etica ProfissonalDocumento2 páginasEtica ProfissonalsexamorAinda não há avaliações
- ProgramaDocumento5 páginasProgramaPablo FernandezAinda não há avaliações
- Arquitetura, Forma, Espaço e Ordem (Parte 1)Documento105 páginasArquitetura, Forma, Espaço e Ordem (Parte 1)Julliane Ribeiro50% (2)
- 3 Aula EgitoDocumento2 páginas3 Aula EgitoPablo FernandezAinda não há avaliações
- Beatriz Ribeiro Brogio - Análise Crítica Do Filme o Código Da VinciDocumento4 páginasBeatriz Ribeiro Brogio - Análise Crítica Do Filme o Código Da VinciBEATRIZ RIBEIRO BROGIOAinda não há avaliações
- NBR 7346 NB 692 - Limpeza de Superficies de Aco Com Ferramentas Manuais PDFDocumento2 páginasNBR 7346 NB 692 - Limpeza de Superficies de Aco Com Ferramentas Manuais PDFDenis Yasmin AlineAinda não há avaliações
- Aula 10 RevestimentosDocumento30 páginasAula 10 RevestimentosSheila ScherAinda não há avaliações
- O urbanismo segundo Camillo SitteDocumento11 páginasO urbanismo segundo Camillo Sittehelena dos santos brogniAinda não há avaliações
- Co35 - 17 - 12 - 13 PDF Corrimão Co35 FdeDocumento6 páginasCo35 - 17 - 12 - 13 PDF Corrimão Co35 FdeLuane100% (1)
- Arte 1 ANO 2Documento21 páginasArte 1 ANO 2Aberlanio Ancelmo SilvaAinda não há avaliações
- Revestimentos inovadores para ambientesDocumento2 páginasRevestimentos inovadores para ambientesMarcelo Leite OliveiraAinda não há avaliações
- Feira Artesanato 2023 - FlyerDocumento2 páginasFeira Artesanato 2023 - Flyerfrize_limaoAinda não há avaliações
- Arte Renascentista - EDUCOPÉDIADocumento29 páginasArte Renascentista - EDUCOPÉDIAKamille TavoraAinda não há avaliações
- Fazenda urbana inspira projeto de loja sustentávelDocumento14 páginasFazenda urbana inspira projeto de loja sustentávelBeatriz Verciene Alves Leite Verciene Alves LeiteAinda não há avaliações
- Arte Africana em DiálogoDocumento119 páginasArte Africana em DiálogokarmelafariaAinda não há avaliações
- Revista - Almanaque de Tatuagem - Ed.07Documento102 páginasRevista - Almanaque de Tatuagem - Ed.07Hugo Guimarães CarneiroAinda não há avaliações
- Manual de Aplicação Dos Selos Do Programa de Canais IntelbrasDocumento58 páginasManual de Aplicação Dos Selos Do Programa de Canais IntelbrasrsrosabrAinda não há avaliações
- Cartela de Cores AXDocumento2 páginasCartela de Cores AXJaaziel SilvaAinda não há avaliações
- Aã I Enciclopédia Prática (Aã I Dá Construção Civil L : JanelasDocumento17 páginasAã I Enciclopédia Prática (Aã I Dá Construção Civil L : JanelasRuiMãodeFerroAinda não há avaliações
- Revolução cultural do século XXDocumento4 páginasRevolução cultural do século XXAlqaervaAinda não há avaliações
- Atividade LINGUAGEM VISUALDocumento7 páginasAtividade LINGUAGEM VISUALSoraiaCostaSpósitoAinda não há avaliações
- Detalhes de armadura de vigas e pilaresDocumento43 páginasDetalhes de armadura de vigas e pilaresgedysonlimaAinda não há avaliações
- Instalação do alarme Keyless 360 no Chevrolet Cruze 2018Documento1 páginaInstalação do alarme Keyless 360 no Chevrolet Cruze 2018BR rastreamentoAinda não há avaliações
- Testes projetivos: uma visão dos vínculos de aprendizagemDocumento4 páginasTestes projetivos: uma visão dos vínculos de aprendizagemTatiana PaixãoAinda não há avaliações
- Avaliação Somativa - Questionário 9Documento14 páginasAvaliação Somativa - Questionário 9MauroFreitasAinda não há avaliações
- Cores na WEB RGB, CMYK e HSBDocumento2 páginasCores na WEB RGB, CMYK e HSBDomingos LucioAinda não há avaliações