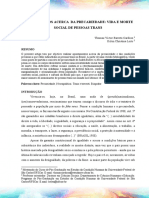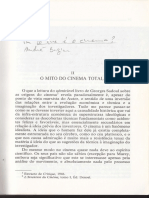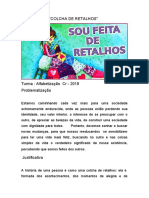Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Morte e Espetaculo
Enviado por
Ruama Miranda0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações5 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações5 páginasA Morte e Espetaculo
Enviado por
Ruama MirandaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
O GENOCÍDIO COMO ESPETÁCULO.
NÃO BASTA MATAR, É PRECISO
ESPETACULARIZAR A MORTE
https://www.unicamp.br/iel/site/alunos/
publicacoes/textos/r00007.htm
Práticas de extermínio de corpos que são considerados sem
importância pelo Estado marcaram, e ainda marcam, a história da
humanidade. Povos indígenas, negros, judeus, homossexuais,
pessoas trans, mulheres, dentre outros, são as principais vítimas
de projetos de poder genocidas motivados, geralmente, por
razões políticas, religiosas, étnicas, raciais, valendo-se de
diferentes discursos para isso. Esses discursos, engendrados em
práticas genocidas, são manifestados com um teor salvacionista,
higienista, como um suposto exercício moralista que alega buscar
o melhor para a sociedade. Exemplo disso foi o processo de
domínio e colonização das Américas no final do século XV,
especificamente a partir de 1492, sob práticas de exploração e
extermínio dos povos indígenas, com o etnicídio das suas
culturas – processo que ainda persiste, haja vista a ausência da
ação estatal na preservação da vida dos povos indígenas
brasileiros neste período de pandemia.
Mas, o que está subjacente a essas práticas genocidas? Para
pensar essa indagação seguiremos, brevemente, a questão de
animalidade em Jacques Derrida, baseado no texto “O Animal
que logo sou”. Tal questão possibilita pensar a essência e o
futuro da humanidade, a ética, a política, o direito, os direitos do
homem, o crime contra a humanidade, genocídio etc. Em síntese,
longe de simplificar a ideia do filósofo franco-argelino, para além
de uma crítica da relação da sociedade ocidental com os animais
– de uma ética animal –, é abordada a ideia de humano como
uma primeira identidade que subordina o outro, que legitima o ato
de se sobrepor ao que é estabelecido como diferente. Com isso,
sair da categoria de animal e adquirir uma identidade de “ser
humano”, o faz esquecer que pertence a uma natureza comum e,
para além disso, nas relações sociais qualquer um que ao seu
olhar seja diferente pode acionar a sua soberania, a necessidade
de aniquilar e exterminar o outro – o inumano –, determinar quais
corpos importam e aqueles que não. E isso é corriqueiramente
uma política estatal, é preciso dizer! Esse processo de identidade
e subordinação do outro é um exercício de poder do homem,
colocando-o sob o controle político do corpo, uma vez que exerce
politicamente sobre o outro uma relação de dominação, de
disciplinarização, de controle da vida, da morte, dos desejos, dos
afetos, dentre outros processos de subjetivação. Isso se
complexifica quando o associamos aos princípios neoliberais e
princípios judaico-cristãos hegemônicos.
Saindo de um ponto de vista micro e seguindo para um macro de
Estado, vimos esse exercício de poder nas políticas de mortes,
necropolítica: conceito que se mostra como uma lente fecunda
para pensar esse modelo político homicida que possui bases
legitimadas para atuar sob seus alvos, propositalmente colocados
em condições vulneráveis. Necropolítica foi um termo cunhado
pelo filósofo camaronês Achille Mbembe para tratar do uso do
poder, sobretudo pelas vias políticas, para o controle da vida e da
morte. Mbembe parte do pressuposto de que a expressão
máxima da soberania reside em grande medida no poder e na
capacidade de ditar quem pode viver e quem pode morrer, ou
seja, usam-se algumas formas de soberania não para exercer a
autonomia, mas para o controle da existência humana e,
sobretudo, ter o direito de matar ou deixar morrer.
Um exemplo da materialização dessa política de morte é o
extermínio dos povos negros, um verdadeiro sangue nosso de
cada dia derramado. De acordo com o Atlas da Violência de
2017, publicado pelo IPEA, 75% dos indivíduos assassinados no
Brasil eram negros (no Rio o percentual é de 78,4%), sobretudo a
juventude negra. Apesar de 56% da população ser negra. Em
2019, 61% das vítimas de feminicídio foram mulheres negras,
segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Na mesma situação de vidas que não merecem ser vividas está a
comunidade LGBTQI+, notadamente a população de pessoas
transgênero, esses “corpos que não importam”. Segundo
pesquisa desenvolvida, em 2019, pela Associação Nacional de
Travesti e Transexuais (Antra), das 124 pessoas trans
assassinadas, 82% eram negras e 59,2% tinham entre 15 a 29
anos. De todas as mortes, 97,7%, era de mulheres transexuais e
67% sobreviviam da prostituição. Essa situação só agrava. Em
monitoramento dos casos, a Associação, em seu Boletim n.
02/2020, aponta nos dois primeiros meses deste ano, entre 1º de
janeiro e 28/02/2020, que o Brasil apresentou aumento de 90%
no número de casos de assassinatos em relação ao mesmo
período de 2019. Somos, na verdade, um dos países que mais
mata a população LGBTQI+, possuindo um aumento do
seu ranking de 55º lugar de 2018 para o 68º em 2019.
É preciso ressaltar que a necropolítica não somente se
estabelece nas mortes objetivas, mas simbólicas também, sob
estratégias muitas vezes veladas, como a recusa de
representatividade, na religião, no esporte, na estética, os
epistemicídios, bem como na suspensão de políticas de
reparação histórica, na negligência dos direitos trabalhistas. É a
arte de deixar morrer paulatinamente quando encarcera o povo
pobre e preto, na ausência de acesso aos direitos sociais, como à
saúde, lazer, cultura, educação, dentre outras estratégias da
política de morte.
Tudo isso em nome de quê? De um modo de vida de classe
média hipócrita com complexo de milionário? De garantir aquela
viagem à Disney com a família e empregada pobre e preta para
cuidar ou dar conta, ou algo que dê a noção de se livrar dos
filhos? De garantir o posto do “tiozão humorista” que regurgita
piadas que são verdadeiras manifestações homofóbicas no
churrasco em família? De legitimação de branquitude? Sabemos
que as indagações são infinitas, e a construção e manutenção
dessa subjetividade (branco, heterossexual, de família tradicional,
cristão, boa pinta, humorado…) em supremacia aos nascidos
para morrer, que dia a dia estão no tiro ao alvo, estão em
consonância com os interesses estabelecidos pelo necropoder.
Como se não bastasse matar os corpos que são determinados
como inúteis, ainda estão submetidos à espetacularização. A
morte entra em cena desde a grande mídia nacional até as redes
sociais da população. Com repasses, likes, compartilhamentos,
as imagens vão se propagando e entram no cotidiano da
sociedade, estabelecendo, assim, uma relação de horror,
curiosidade, fascínio, denúncia ou mesmo pelo simples fato de
mostrar-se e manter-se informado. Essa relação, somada ao
excesso demasiado de consumo de imagens, pode também
demonstrar uma necessidade de exposição, refletindo, assim, em
experiências visuais desumanas e até mesmo antiéticas. Nesse
sentido, vale a pena questionar qual o sentido de fazer da morte
um espetáculo? O que essa espetacularização diz sobre a nossa
existência?
À primeira questão, como um primeiro ensaio para resposta, nos
valeremos da crítica apresentada por Guy Debord em seu livro A
sociedade do espetáculo. Embora seja um texto referente ao
século XX, ressaltamos ainda a sua contemporaneidade,
sobretudo no que tange ao espetáculo social que vivenciamos
permeado por um excesso de imagens e nossa reação mediante
esse contato.
Ainda que o registro de imagens possibilite conservar e eternizar
um momento, um fato, um fenômeno, no caso específico – no
contexto do necropoder – dos corpos que são determinados
como inúteis, esse objetivo pouco se concretiza, no mínimo, por
duas razões. A primeira corresponde ao fato da nossa relação
com a morte, pela qual o fascínio com a imagem de um
assassinato pouco será visto repetidamente pela mesma pessoa
e, mesmo que uma única visualização seja suficiente para
eternizar e gravar o ato em nossa memória, há uma probabilidade
de esquecimento devido ao excesso de outras imagens com
diversas temáticas que serão produzidas concomitantemente. Há
uma relatividade nisso, não podemos desconsiderar. Mas, esse
excesso de exposição, principalmente de um estado vulnerável –
o da morte –, é uma conduta de vilipêndio, ou seja, um
desrespeito com quem já perdeu a vida e seus familiares; e isso é
uma conduta social e juridicamente inaceitável, podendo assim
se configurar em uma responsabilização criminal a ser
enquadrada no artigo 212 do Código Penal.
A segunda razão diz respeito a outro efeito que o espetáculo
dessa realidade vai ocasionar. Não há limites, não há crítica para
esse excesso de veiculação de imagens, seja para identificar a
veracidade do fato, seja para reflexão e contestação das
condições em que houve a negligência com a vida; e tratando-se
dos corpos que não importam, há uma intencional naturalização,
banalização e irracionalização, certamente uma estratégia de
captura do necropoder, por meio de controle de imagens. Um
caos rentável na medida em que sem a crítica, não há
contestação do direito à vida e punição pela negligência do
Estado. Assim, há na naturalização, banalização e
irracionalização uma ‘coisificação’ da nossa existência, isto é, um
desprezo visível da vida pelo excesso de visualização. Diante
disso, o pouco que vai restando é aparvalhar-se, subitamente
indignar-se e lamentar a morte depois que a tragédia aconteceu.
Manuela Garcia de Oliveira é doutoranda em Educação na
Unesp, campus de Marília (SP).
Você também pode gostar
- Violência De Gênero E Grupos Vulneráveis.No EverandViolência De Gênero E Grupos Vulneráveis.Ainda não há avaliações
- Sociologia PDFDocumento9 páginasSociologia PDFVicAinda não há avaliações
- Aula Biopolitica Banalizacao Da ViolenciaDocumento13 páginasAula Biopolitica Banalizacao Da ViolenciaLuanaAinda não há avaliações
- Uma teoria feminista da violência: Por uma política antirracista da proteçãoNo EverandUma teoria feminista da violência: Por uma política antirracista da proteçãoAinda não há avaliações
- Consumismo, Moralidade e Excessos da Sociedade DigitalizadaNo EverandConsumismo, Moralidade e Excessos da Sociedade DigitalizadaAinda não há avaliações
- Afinal, Existe Racismo No BrasilDocumento5 páginasAfinal, Existe Racismo No BrasilyukujrAinda não há avaliações
- Claudia Rufino Sandes - RGM #24530611Documento11 páginasClaudia Rufino Sandes - RGM #24530611Cláudia Rufino SandesAinda não há avaliações
- Delírio do poder: Psicopoder e loucura coletiva na era da desinformaçãoNo EverandDelírio do poder: Psicopoder e loucura coletiva na era da desinformaçãoAinda não há avaliações
- Precariedade de pessoas trans: vida e morte socialDocumento12 páginasPrecariedade de pessoas trans: vida e morte socialKelen LeiteAinda não há avaliações
- Socio 30-04-21Documento5 páginasSocio 30-04-21Jennifer FreitasAinda não há avaliações
- Patrimonio Arqueologico o Desafio Da PreDocumento22 páginasPatrimonio Arqueologico o Desafio Da PreDenilson GrassiAinda não há avaliações
- Governar os mortos: Necropolíticas, desaparecimento e subjetividadeNo EverandGovernar os mortos: Necropolíticas, desaparecimento e subjetividadeAinda não há avaliações
- ESBOÇO DO ARTIGODocumento10 páginasESBOÇO DO ARTIGOGessicaAinda não há avaliações
- Agressão: Fundamentos Biopsicossociais: Um Tratado Sobre Pseudociência e IdeologiaNo EverandAgressão: Fundamentos Biopsicossociais: Um Tratado Sobre Pseudociência e IdeologiaAinda não há avaliações
- O Circulo Da Morte e o Materialismo Estetico, Osmundo PinhoDocumento25 páginasO Circulo Da Morte e o Materialismo Estetico, Osmundo PinhoAlex SimoesAinda não há avaliações
- Violência Ao Longo da História HumanaDocumento5 páginasViolência Ao Longo da História HumanaPerisson DantasAinda não há avaliações
- Op Breno TrabalhoDocumento4 páginasOp Breno TrabalhoJhéssica BarrozoAinda não há avaliações
- Artigo O SuicidioDocumento16 páginasArtigo O SuicidioRafaelaMarschallAinda não há avaliações
- Sociologia, Racismo e Teorias CientificasDocumento6 páginasSociologia, Racismo e Teorias CientificasArthur FonsecaAinda não há avaliações
- Guerra às drogas e saúde mental de mulheres negras na pandemiaDocumento21 páginasGuerra às drogas e saúde mental de mulheres negras na pandemiaJuliane NascimentoAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre o GenocídioDocumento28 páginasReflexões Sobre o GenocídioPedro GraboisAinda não há avaliações
- Artigo Sobre A TeseDocumento12 páginasArtigo Sobre A TeseCristiane PachecoAinda não há avaliações
- Resumo JornadaDocumento1 páginaResumo JornadaLucas CoutinhoAinda não há avaliações
- Direitos fundamentais das profissionais do sexo: entre a invisibilidade e o reconhecimentoNo EverandDireitos fundamentais das profissionais do sexo: entre a invisibilidade e o reconhecimentoAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa Do Mestrado Ufc PDFDocumento11 páginasProjeto de Pesquisa Do Mestrado Ufc PDFGralha FotografiaAinda não há avaliações
- Mídia reproduz inimigo e legitima necropolíticaDocumento14 páginasMídia reproduz inimigo e legitima necropolíticaBeatriz NevesAinda não há avaliações
- RAUTER, C. Produção Social Do NegativoDocumento17 páginasRAUTER, C. Produção Social Do NegativocristianeredinAinda não há avaliações
- Cidades, criminalidade e controle social: o papel das ciênciasDocumento19 páginasCidades, criminalidade e controle social: o papel das ciênciasRodrigo MirandaAinda não há avaliações
- Violência, políticas públicas e relações de gêneroNo EverandViolência, políticas públicas e relações de gêneroAinda não há avaliações
- Antirracismo No Debate Da Formação Social Brasileira e Classes Sociais - Desafio Ao Serviço Social ContemporâneoDocumento2 páginasAntirracismo No Debate Da Formação Social Brasileira e Classes Sociais - Desafio Ao Serviço Social ContemporâneoJordânia ClerAinda não há avaliações
- A Violência Do Estado e Da Sociedade No Brasil Contemporâneo - Luis Edurado SoaresDocumento27 páginasA Violência Do Estado e Da Sociedade No Brasil Contemporâneo - Luis Edurado SoarespenalempresarialAinda não há avaliações
- Michael Omi, Howard Winant - Racial Formation in The United States (2014, Routledge) CAP 5-1Documento28 páginasMichael Omi, Howard Winant - Racial Formation in The United States (2014, Routledge) CAP 5-1Natália AlvesAinda não há avaliações
- Novembro Mês Consciência NegraDocumento2 páginasNovembro Mês Consciência NegraAna NascimentoAinda não há avaliações
- Biopoder Foucault PDFDocumento5 páginasBiopoder Foucault PDFJulio GuedesAinda não há avaliações
- TD - Enem Prá Valer - 26-08-23 - Sociologia - Desigualdade de GêneroDocumento2 páginasTD - Enem Prá Valer - 26-08-23 - Sociologia - Desigualdade de GêneroPedro BernardinoAinda não há avaliações
- Slides Direitos HumanosDocumento19 páginasSlides Direitos HumanosCandida SouzaAinda não há avaliações
- Revista Ambiente Academico Edicao 2 Artigo 3Documento17 páginasRevista Ambiente Academico Edicao 2 Artigo 3Eduardo jose TorresmartinezAinda não há avaliações
- Resumo AV2humanismoDocumento3 páginasResumo AV2humanismoJosileny PereiraAinda não há avaliações
- Negro de Escravizado A CidadãoDocumento24 páginasNegro de Escravizado A CidadãoCarolina RochaAinda não há avaliações
- Crimes contra a honra tendem a desaparecer com nova visão sobre sexualidade e dignidade humanaDocumento11 páginasCrimes contra a honra tendem a desaparecer com nova visão sobre sexualidade e dignidade humanaSérgio HenriqueAinda não há avaliações
- O etnocídio e o genocídio: distinções entre a destruição cultural e física de povosDocumento8 páginasO etnocídio e o genocídio: distinções entre a destruição cultural e física de povosValériadePaulaMartinsAinda não há avaliações
- Projet Mono Final RevisDocumento15 páginasProjet Mono Final RevisLuma Assis CaetanoAinda não há avaliações
- Trabalho SociologiaDocumento4 páginasTrabalho SociologiaIsabelle RodriguesAinda não há avaliações
- Vulnerabilidade Social Genero e Sexualidade Inter Relacoes Unidade IVDocumento32 páginasVulnerabilidade Social Genero e Sexualidade Inter Relacoes Unidade IVDaiane AlvesAinda não há avaliações
- Racismo Através Da HistoriasDocumento10 páginasRacismo Através Da HistoriasscarrefAinda não há avaliações
- O Preconceito Diante Das DiferençasDocumento3 páginasO Preconceito Diante Das DiferençasETA EngAinda não há avaliações
- Miguel Rodrigues de Souza NetoDocumento17 páginasMiguel Rodrigues de Souza NetoLudmila AmenoAinda não há avaliações
- Historia Da Violencia e Sociedade BrasileiraDocumento18 páginasHistoria Da Violencia e Sociedade BrasileiraBel Bel Antunes100% (1)
- Relatório Sobre Branquitude e RacismoDocumento5 páginasRelatório Sobre Branquitude e RacismoPedro Jardel CoppetiAinda não há avaliações
- Violência e o Outro em Slavoj ŽižekDocumento44 páginasViolência e o Outro em Slavoj ŽižekDiego Aparecido100% (2)
- Necrobiopoder EstadoDocumento16 páginasNecrobiopoder EstadoValentina PazAinda não há avaliações
- Antidemocracia Racial: racismo e fake news como estratégias neoconservadoras de ruptura democráticaNo EverandAntidemocracia Racial: racismo e fake news como estratégias neoconservadoras de ruptura democráticaAinda não há avaliações
- Historia EticaDocumento2 páginasHistoria EticaStefany Cristina Alves PereiraAinda não há avaliações
- Exemplo de Pesquisa BibliograficaDocumento17 páginasExemplo de Pesquisa BibliograficaScott RomeroAinda não há avaliações
- Sobre o Aniquilamento de Corpos Invisíveis: Reflexões Sobre Transmasculinidades e SuicídioDocumento10 páginasSobre o Aniquilamento de Corpos Invisíveis: Reflexões Sobre Transmasculinidades e SuicídioCello Latini PfeilAinda não há avaliações
- cidadania-para-os-novos-temposDocumento13 páginascidadania-para-os-novos-temposMaria Aparecida ZientarskiAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Necropolítica - FabioDocumento5 páginasResenha Crítica Necropolítica - FabioFabio AndradeAinda não há avaliações
- Manual Da Máquina Amarradeira - TP702-CDocumento81 páginasManual Da Máquina Amarradeira - TP702-CVALCICLEIAinda não há avaliações
- NERA24 Cesar CutinellaDocumento15 páginasNERA24 Cesar Cutinellaritaycesar100% (1)
- Referencial Tecnicoa Administrativoa Competencias Profissionais - RVCCDocumento16 páginasReferencial Tecnicoa Administrativoa Competencias Profissionais - RVCCCarmen SantosAinda não há avaliações
- Simulado Avaliação PsicologicaDocumento6 páginasSimulado Avaliação PsicologicaBruna De Oliveira Novais100% (2)
- Apostila Fitopatologia UFRGSDocumento83 páginasApostila Fitopatologia UFRGSElizangela PereiraAinda não há avaliações
- Advérbios em 40Documento3 páginasAdvérbios em 40dturmapelAinda não há avaliações
- Diario Oficial RR 22.06.2023Documento114 páginasDiario Oficial RR 22.06.2023Rodrigo KanazawarkpbscribdAinda não há avaliações
- Diretrizes Curriculares NacionaisDocumento14 páginasDiretrizes Curriculares NacionaisFelipe BernardoAinda não há avaliações
- A D P A D E Apae de Santa Cecília: Verificar SeDocumento3 páginasA D P A D E Apae de Santa Cecília: Verificar SeAlex RAinda não há avaliações
- Modelagem Avançadas de Peças - Solidworks 2015 Training PDFDocumento457 páginasModelagem Avançadas de Peças - Solidworks 2015 Training PDFrogerio fiorentiniAinda não há avaliações
- Manual Operacao Printpoint IIDocumento20 páginasManual Operacao Printpoint IIArnaldoCostaAinda não há avaliações
- A Evolução Do Sistema de Segurança Social em AngolaDocumento26 páginasA Evolução Do Sistema de Segurança Social em AngolaKitoMesquita100% (1)
- Ficha 4 DR2 Leguminosas STC6Documento3 páginasFicha 4 DR2 Leguminosas STC6Isabel HenriquesAinda não há avaliações
- Concreto ColoridoDocumento142 páginasConcreto ColoridoDjeyfer StülpAinda não há avaliações
- O liberalismo brasileiro segundo Marco Aurélio NogueiraDocumento8 páginasO liberalismo brasileiro segundo Marco Aurélio NogueiraRenaldo Mazaro Jr.Ainda não há avaliações
- Principais tipos de aparelhos de mediçãoDocumento4 páginasPrincipais tipos de aparelhos de mediçãoElsa SilvaAinda não há avaliações
- Visão empresarial sobre o mercado de sementesDocumento100 páginasVisão empresarial sobre o mercado de sementesIsmael NeuAinda não há avaliações
- Teoria da imputação objetiva: risco permitidoDocumento2 páginasTeoria da imputação objetiva: risco permitidoElói Ferreira PereiraAinda não há avaliações
- PPC Engenharia de Producao Atualizado e Completo 2017-1Documento304 páginasPPC Engenharia de Producao Atualizado e Completo 2017-1luizmenezes2010Ainda não há avaliações
- Mapa Porto Velho PDFDocumento8 páginasMapa Porto Velho PDFealmeida4213Ainda não há avaliações
- 10 Lições Aprendidas de Amor e PerdaDocumento3 páginas10 Lições Aprendidas de Amor e PerdaMilton MoutinhoAinda não há avaliações
- O Sistema Internacional de UnidadesDocumento3 páginasO Sistema Internacional de UnidadesAndré Rafael NasserAinda não há avaliações
- Bazin Mito Cinema TotalDocumento4 páginasBazin Mito Cinema TotalAmaterasuAinda não há avaliações
- Projeto Colcha de RetalhosDocumento4 páginasProjeto Colcha de RetalhosMari BuzzanteAinda não há avaliações
- Habilidades 2022-CADERNO PROVA-Percepcao VisualDocumento12 páginasHabilidades 2022-CADERNO PROVA-Percepcao VisualPimentinha DoceAinda não há avaliações
- Desenvolvimento OrganizacionalDocumento55 páginasDesenvolvimento OrganizacionalDurval Castro100% (3)
- Parque multiuso de Paraí: revitalização e novos usosDocumento103 páginasParque multiuso de Paraí: revitalização e novos usosRUDIANE ZACARIAAinda não há avaliações
- Magia Divina RiscadaDocumento8 páginasMagia Divina RiscadaPauloSergio100% (3)
- Tagmar Criticas e SugestõesDocumento15 páginasTagmar Criticas e SugestõesEduardo EwertonAinda não há avaliações
- Proposta de Implantação de Projeto Piloto de Bicicletas CompartilhadasDocumento8 páginasProposta de Implantação de Projeto Piloto de Bicicletas CompartilhadasMarcos Vinicius Silva MarquesAinda não há avaliações