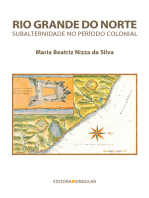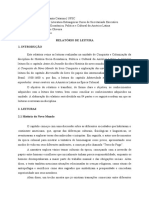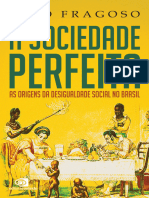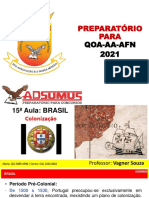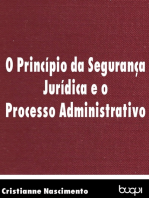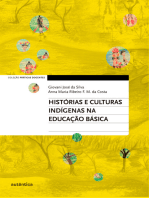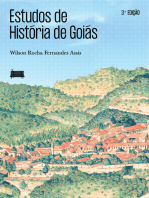Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Atividade de História Do Brasil 1
Enviado por
Emanuelly Tenório0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações7 páginasExercício em PDF
Título original
Atividade de História Do Brasil 1.Docx
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoExercício em PDF
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações7 páginasAtividade de História Do Brasil 1
Enviado por
Emanuelly TenórioExercício em PDF
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPINA GRANDE – CAMPUS I
CENTRO DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
COMPONENTE CURRICULAR: História do Brasil I
DOCENTE: Prof. Cleófas Júnior
DISCENTES: Emanuelly Tenório Costa
Avaliação de História do Brasil I (2ª Unidade)
1. A formação do estado patrimonialista português:
A península ibérica formou, plasmou e constituiu a sociedade sob o império da
guerra. Despertou, na história, com as lutas contra o domínio romano, foi o teatro das
investidas dos exércitos de Aníbal, viveu a ocupação germânica, contestada
vitoriosamente pelos mouros. A singular história portuguesa, sulcada interiormente com
a marcha da supremacia do rei, fixou o leito e a moldura das relações políticas, das
relações entre o rei e os súditos. Os dois caracteres conjugados — o rei senhor da guerra
e o rei senhor de terras imensas — imprimiram a feição indelével à história do reino
nascente. A crise de 1383-85, de onde nascerá uma nova dinastia, a dinastia de Avis,
dará a fisionomia definitiva aos elementos ainda dispersos, vagos, em crescimento.
Entre o esquema, traçado pela lógica da história, e a realidade, convulsionada por forças
em tumulto, há um salto e muitas discordâncias. O laço de subordinação entre o rei e a
nobreza territorial e o clero não se fixou sem muitas escaramuças e muitas resistências.
A exacerbação dos privilégios da nobreza territorial e do clero, responderam os
reis com o incremento de uma instituição, pretensamente recebida da velha, e em alguns
momentos influente, ordem romana. O município, arma comum à estratégia política da
realeza na Europa, mereceu especial estímulo, na mesma medida em que se
ensoberbeciam os potentados rurais. O rei, na verdade, era o senhor de tudo — tudo
haveria dele a legitimidade para existir —, como expressão de sua autoridade
incontestável, bebida vorazmente da tradição visigótica e do sistema militar. Discernir e
especificar a fonte dos ingressos da realeza será trabalho de revelação da própria
estrutura econômica do reino. Mostrará a análise a base do poder supremo, sua estrutura
e profundidade, fonte das remunerações aos guerreiros, funcionários em embrião,
homens da corte, letrados em flor. O conteúdo do estado, capaz de ajustar juridicamente
as relações entre o soberano e os súditos, formou-se de muitos fragmentos, colhidos
numa longa tradição. Fixados os dois marcos — a organização política e o conjunto de
regras jurídicas — não se presume uma continuidade sem quebra, no curso de sete
séculos. A sequência se funda no aproveitamento, ao sabor das circunstâncias sociais,
de retalhos e restos vivos, conjugados para estruturar uma ideologia, só está coerente. O
trabalho de reconstrução espiritual deformará muitas realidades, roubadas de sua
significação íntima, transfiguradas em corpos diferentes, de cor diversa, com outra
fisionomia. O domínio do clero e da nobreza, empreendido pelo rei, encontrou, nesse
instrumento, os meios espirituais de justificação. A obra dos juristas e imperadores
romanos serviu, vê-se logo, a fins opostos aos previstos pelo clero, num movimento que
dá conteúdo novo às formações ideológicas. As duas fases dessa luta obedecem aos
padrões, acabados e perfeitos, do jurismo justinianeu.
A sociedade urbana e popular tinha um rei — feito da revolução burguesa, da
espada improvisada e dos argumentos dos juristas. Burgueses e legistas velavam para
que a monarquia, duramente construída, não se extraviasse numa confederação de
magnatas territoriais, enriquecidos com as doações de terras, outorgadas para
recompensar serviços e lealdades. Nuno Alvares, dono da metade do país, sofreu dura
restrição ao gozo de suas propriedades, restrição que o cronista atribui, sem
compreendê-la, só à inveja. Inspirava o jurista, ao recomendar a tomada dos territórios
distribuídos no calor da guerra, o propósito de que ninguém, salvo o rei, tivesse
vassalos, alvitre que o soberano aceitou indiretamente, ao adquirir parte das terras
doadas. A realidade do estado patrimonial, afastada a situação feudal, que ensejaria uma
confederação política, amadureceu num quadro administrativo, de caráter precocemente
ministerial. A direção dos negócios da Coroa exigia o trato da empresa econômica,
definida em direção ao mar, requeria um grupo de conselheiros c executores, ao lado do
rei, sob a incontestável supremacia do soberano. Há não apenas tributos a colher, onde
quer que haja movimento de bens, senão receitas a arrecadar, como participação do
príncipe em todos os negócios, senhor ele próprio de todas as transações, lucros e
vantagens.
Esta corporação de poder se estrutura numa comunidade: o estamento. Para a
compreensão do fenômeno, observe-se, desde logo, que a ordem social, ao se afirmar
nas classes, estamentos e castas, compreende uma distribuição de poder, em sentido
amplo — a imposição de uma vontade sobre a conduta alheia, a classe e seus membros,
por mais poderosa que seja, pode não dispor de poder político — pode até ocorrer o
contrário, uma classe rica é repelida pela sociedade, marcada de prestígio negativo,
como os usurários e banqueiros judeus dos séculos XV e XVI de Portugal. Além disso,
significa esta realidade — o Estado patrimonial de estamento — que a forma de
domínio, ao contrário da dinâmica da sociedade de classes, se projeta de cima para
baixo. Todas as camadas, os artesãos e os jornaleiros, os lavradores e os senhores de
terras, os comerciantes e os armadores, orientam suas atividades dentro das raias
permitidas, respeitam os campos subtraídos ao controle superior, submetem-se a regras
convencionalmente fixadas.
2. As crianças e o adestramento pela educação:
Descobriram os primeiros missionários que andavam nus e à-toa pelos matos
meninos quase brancos, descendentes de normandos e portugueses. E procuram recolher
aos seus colégios esses joões-felpudos. Foi uma heterogênea população infantil a que se
reuniu nos colégios dos padres nos séculos XVI e XVII: filhos de caboclos arrancados
aos pais; filhos de normandos encontrados nos matos; filhos de portugueses;
mamelucos; meninos órfãos vindos de Lisboa. Meninos louros sardentos, pardos
morenos, cor de canela. Só negros e moleques parecem ter sido barrados nas primeiras
escolas jesuíticas. Negros e moleques retintos. Assim, tem-se dado pouca atenção para o
fato de que os filhos dos escravos pertencentes aos missionários-fazendeiros também
foram educados nas escolas concebidas pelo Ratio studiorum. Evidentemente, a
educação de crianças negras no Brasil Colonial foi um fenômeno residual. Constituiu-se
uma exceção da regra geral que caracteriza os grandes traços explicativos da história da
educação do período em tela, ou seja, a exclusão da ampla maioria do povo brasileiro.
Entretanto, mesmo tendo se constituído uma exceção, merece registro.
Os colégios das primeiras letras ocupavam um espaço físico central nas fazendas
da Companhia de Jesus. Essas escolas do bê-á-bá eram importantes no ritual de
realização da catequese, ou seja, da conversão dos "gentios" ao cristianismo. Assim, em
função da catequese, os filhos das famílias escravas também foram submetidos à
escolarização. Investigar o fenômeno da educação infantil no período colonial, portanto,
significa desvelar aspectos importantes da própria formação socioeconômica brasileira.
Esta afirmação ganha a sua verdadeira dimensão quando nos deparamos com o papel
econômico, cultural e político que a Companhia de Jesus desempenhou no processo de
consolidação do sistema colonial português, pois, em 500 anos de nossa história, os
jesuítas detiveram o monopólio. Os jesuítas empregaram largamente as relações
escravistas de produção nas suas propriedades, utilizando os negros desafricanizados. A
tentativa de escravização dos índios pelo sistema colonial português no Brasil esbarrou,
entre outros, em dois fatores importantes: de um lado, porque "resultou inviável na
escala requerida pelas empresas agrícolas de grande envergadura que eram os engenhos
de açúcar", a Companhia de Jesus já era proprietária de muitas fazendas de
cana-de-açúcar e criação de gado. Ela havia acumulado, segundo Serafim Leite (1950,
p. 88- 93), um total de 359 fazendas até 1759, quando da expulsão dos jesuítas do
Brasil.
Desde o início ficou muito claro para o fundador da missão jesuítica no Brasil,
padre Manuel de Nóbrega, que seria impossível à empresa evangelizadora idealizada
por Santo Inácio de Loyola lograr êxito sem a existência de uma base econômica que
desse sustentação às escolas do bê-á-bá, aquelas que serviam de suporte à catequese dos
"gentios". Assim, o esforço para a fundação de fazendas de açúcar e gado, como
resultado da iniciativa do primeiro Provincial do Brasil (1553- 1560), estava
organicamente vinculado ao projeto educacional desenvolvido pela Companhia de Jesus
no Brasil Colonial. Portanto, com o passar do tempo, basicamente todos os colégios
jesuíticos do ensino elementar tinham uma fazenda.
3. A religiosidade indígena como resistência:
Aspecto dos mais notáveis da colonização ibérica, a "extirpação das
idolatrias" figurou, para desgraça dos índios, entre as maiores prioridades do poder
colonialista no século XVI. Jean Delumeau viu na obsessão dos extirpadores -
verdadeiros demonólogos do Novo Mundo - a versão americana da “caça às bruxas"
que tomou conta da Europa na mesma época, prolongando-se, como nas colônias,
até pelo menos o século XVII. Utilizando-se quer de métodos violentos, a exemplo
da ação inquisitorial dos bispos, quer de métodos persuasivos, como foi a catequese
jesuítica ou Úllnciscana, a Igreja Colonial mobilizou o máximo de recursos a seu
dispor para erradicar os "cultos diabólicos" que julgava existir no mundo indígena.
Na América Hispânica, entre o rigor da ação inquisitorial e a disciplina pedagógica
das missões, instaurou-se a prática de enviar "visitadores" encarregados de inquirir
os índios sobre os seus costumes. . Os visitadores agiam como evangelizadores e
inquisidores a um só tempo, pois acrescentavam a tarefas propriamente pastorais a
função de indicar os "feiticeiros" mais afamados.
Perseguida implacavelmente pelos vice-reis e arcebispos, identificada com
pactos diabólicos ou, quando menos, com superstições pagãs, as idolatrias pareciam
espalhadas por toda a América, a corroer, para desespero dos colonizadores, a ordem
social e espiritual imposta pela conquista. Assim, se foram os europeus que
rotularam de "idolatrias" as atitudes indígenas de apego às suas tradições -
reiterando com isso o estigma judaico. Antes de tudo utilizou a expressão para
caracterizar, de forma abrangente, o universo cultural nativo, isto é, o domínio de
suas relações com o real. "A idolatria pré-hispânica - afirmou - antes de ser uma
expressão 'religiosa', traduzia uma aproximação especificamente indígena do
mundo"; tecia uma rede densa e coerente, consciente ou não, implícita ou explícita
de práticas e saberes nos quais se inscrevia e se desenvolvia a totalidade do
cotidiano.
4. O enquadramento do corpo feminino e o Santo Ofício:
O perfil das mulheres que habitavam o Brasil colonial manteve-se prisioneiro,
por várias décadas, de um sem-número de imagens, parte delas verossímil, outra parte
estereotipada. Dentre os vários autores que delas falaram, talvez o melhor tenha sido
Gilberto Freyre, mestre incomparável na arte das generalizações nem sempre exatas.
Várias mulheres povoam, com efeito, as belas páginas de Casa-grande e senzala, da
mulher submissa e aterrorizada com o castigo masculino até a mulher fogosa, sempre
pronta a dar prazer aos machos, a requebrar-se dengosa pelas ruas desalinhadas das vilas
coloniais, a seduzir com doçura nos caminhos, à beira do rio, à sombra de uma árvore,
no meio do mato. Faça-se, no entanto, alguma justiça a Gilberto Freyre: ele viu como
ninguém diferenças entre as mulheres, atento à diversidade de culturas ou, como querem
alguns, de cor e de raça.
As mulheres brancas, em pequeno número no acanhado litoral do século XVI,
teriam vivido em completa sujeição, primeiro aos pais, os todo-poderosos senhores de
engenho, depois aos maridos. Teriam vivido, como escreveu Gilberto Freyre, num
“isolamento árabe”, idealizando uma estrutura de serralho à moda tropical, quer no
tocante à submissão, quer às eventuais “solturas” de sinhás e sinhazinhas, todas
invariavelmente punidas, em caso de falta grave, com o rigor da lei patriarcal. As
mulheres índias, essas sim, foram amantes dos portugueses desde o início e Freyre
sugere que o foram até por razões priápicas. Mal desembarcavam no Brasil e os
lusitanos já “tropeçavam em carne”, ele escreveu. As índias eram as “negras da terra”,
nuas e lânguidas, futuras mães de Ramalhos e Caramurus, todas a desafiar, com seus
parceiros lascivos, a paciência e o rigorismo dos jesuítas. A mesma fama tinha as negras
da Guiné, as crioulas, especialmente as da casa-grande, amantes de sinhôs e
sinhozinhos. Essas eram também as vítimas prediletas de sinhás tirânicas que não
hesitavam em supliciá-las por ciúme ou simples inveja “de seus belos dentes e rijos
peitos”. E a predominar sobre todas em matéria de paixão e ardor, lá estava a mulata,
exemplo recorrente de beleza e sedução no imaginário masculino relacionado à terra
brasílica. Muitos homens cantaram em prosa e verso as virtudes da mulata e a ela se
vergaram, a começar pelo célebre Gregório de Matos, o Boca do Inferno da Bahia
seiscentista.
As dúvidas e os dilemas inquisitoriais no julgamento do crime de sodomia eram,
antes de tudo, de ordem conceitual, questões de princípio que marcavam decisivamente
a ação do Tribunal nos processos. Descobrir e interrogar os acusados de sodomia
significava, de um lado, proceder contra suspeitos de praticar um ato sexual específico –
a penetração anal com ejaculação consumada, fosse entre homens (“sodomia perfeita”),
fosse entre homens e mulheres (“sodomia imperfeita”) – e, de outro lado, implicava,
conforme diziam os escolásticos, a descoberta de pecados entre indivíduos do mesmo
sexo. Isso fazia a noção de sodomia tangenciar o domínio do homoerotismo. O
Regimento de 1640, que tratou exaustivamente do assunto, sugere com absoluta nitidez
que o Santo Ofício visava sobretudo os homens que praticavam sodomia. E,
acrescente-se, tinha como alvo não qualquer praticante eventual desses atos e relações,
senão os contumazes e escandalosos, isto é, aqueles que em sua conduta pública
ostentavam a preferência sexual proibida, desafiando os valores da comunidade e as
ameaças do Santo Ofício. É o que se pode depreender da tolerância regimental diante
dos sodomitas menores de 25 anos, diante dos que confessavam espontaneamente, dos
que só haviam praticado o pecado eventualmente, dos que tinham sido por alguma razão
forçados a cometê-lo. Vários tipos de casos são previstos no Regimento de 1640 com o
objetivo de orientar a investigação da vida sexual dos acusados de práticas sodomíticas.
Alguns fatores levados em consideração eram: a publicidade das atitudes, os possíveis
dramas de consciência, a disposição de colaborar com os inquisidores, a convicção no
erro. O Santo Ofício queria chegar, em suma, aos sodomitas assumidos, mesmo que não
ostentassem o vício no cotidiano, ou então aos que, na gíria da época, eram chamados
de fanchonos – homens que, por seus hábitos femininos (cor nos beiços, meneios, trajes
de mulher), desacatavam os mores sociais e, supostamente, as coisas da fé.
Você também pode gostar
- O mundo Carolíngio: ascensão e queda do ImpérioDocumento79 páginasO mundo Carolíngio: ascensão e queda do ImpérioRafaelPenidoAinda não há avaliações
- História do Brasil: da chegada de Cabral aos dias atuaisDocumento245 páginasHistória do Brasil: da chegada de Cabral aos dias atuaisRodnei GomesAinda não há avaliações
- Miles Christi Fortissimus Rex Fernandus: a legitimação do poder de Fernando III (1217-1252) na Crônica Latina dos Reis de CastelaNo EverandMiles Christi Fortissimus Rex Fernandus: a legitimação do poder de Fernando III (1217-1252) na Crônica Latina dos Reis de CastelaAinda não há avaliações
- Revista Ultramares ArtigosDocumento30 páginasRevista Ultramares ArtigosTARCYELMA LIRAAinda não há avaliações
- (UD II - COLONIZAÇÃO A PARTILHA DAS AMÉRICAS)Documento8 páginas(UD II - COLONIZAÇÃO A PARTILHA DAS AMÉRICAS)carlosgfmAinda não há avaliações
- História do Brasil em quatro livrosDocumento192 páginasHistória do Brasil em quatro livrosCarlyson Silva100% (1)
- Apostila História Do BrasilDocumento243 páginasApostila História Do BrasilCaroline Varela83% (6)
- Formação do Feudalismo na Idade MédiaDocumento3 páginasFormação do Feudalismo na Idade MédiaLUIZ PAULO BENTO DE LIMAAinda não há avaliações
- O Valor Da Raça: Introdução A Uma Campanha NacionalNo EverandO Valor Da Raça: Introdução A Uma Campanha NacionalAinda não há avaliações
- Centro Universitário Maurício de NassauDocumento8 páginasCentro Universitário Maurício de NassauMartha FernandaAinda não há avaliações
- Rio Grande do Norte: Subalternidade no período colonialNo EverandRio Grande do Norte: Subalternidade no período colonialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Brasil ColoniaDocumento8 páginasO Brasil Coloniakaren hartmann ricoldiAinda não há avaliações
- Corsários de Ébano: Entre a lenda e a HistóriaNo EverandCorsários de Ébano: Entre a lenda e a HistóriaAinda não há avaliações
- Histà Ria Do Brasil - Murilo Mendes - Otimo - Melhor - ExcelenteDocumento429 páginasHistà Ria Do Brasil - Murilo Mendes - Otimo - Melhor - Excelenteapi-3702965100% (1)
- Semana 01 - Historia Do Brasil - Ocupação e Início Da ColonizaçãoDocumento10 páginasSemana 01 - Historia Do Brasil - Ocupação e Início Da ColonizaçãosafdAinda não há avaliações
- E FolioDocumento4 páginasE Foliovictor_porto2092Ainda não há avaliações
- 3367 12371 2 PBDocumento8 páginas3367 12371 2 PBRaphael VicenteAinda não há avaliações
- O espaço territorial e a busca pela sobrevivência nos trópicosDocumento10 páginasO espaço territorial e a busca pela sobrevivência nos trópicosKennedy Almeida de LiraAinda não há avaliações
- Cultura Popular e Catolicismo PopularDocumento35 páginasCultura Popular e Catolicismo Popularrsgon81Ainda não há avaliações
- Jurisdição e Poder Nas Capitanias Do Norte (1654-1755) PDFDocumento15 páginasJurisdição e Poder Nas Capitanias Do Norte (1654-1755) PDFAna Clara Tupinambá FreitasAinda não há avaliações
- Colonização do Vale do ItapemirimDocumento22 páginasColonização do Vale do ItapemirimAndre Michelato GhizeliniAinda não há avaliações
- Fichamento - Texto IDocumento4 páginasFichamento - Texto IVinicius JoseAinda não há avaliações
- Trabalho Historia, 2021Documento3 páginasTrabalho Historia, 2021Sajin guaxinimAinda não há avaliações
- Denis Bernardes - A Instalação Da Corte Portuguesa e A Dinâmica Territorial BrasileiraDocumento18 páginasDenis Bernardes - A Instalação Da Corte Portuguesa e A Dinâmica Territorial BrasileiraAndré NicacioAinda não há avaliações
- Historias de Campinas No Periodo Colonial 1775-182Documento8 páginasHistorias de Campinas No Periodo Colonial 1775-182Thiago SanchesAinda não há avaliações
- A Era Pombal e seu impacto na sociedade portuguesaDocumento7 páginasA Era Pombal e seu impacto na sociedade portuguesaflaedsonAinda não há avaliações
- MÓDULO 2 A 9 HISTÓRIA ADocumento143 páginasMÓDULO 2 A 9 HISTÓRIA AIsabelle Da Silva ValenteAinda não há avaliações
- Ficha de LeituraDocumento19 páginasFicha de Leituramilana rodriguesAinda não há avaliações
- Relatorio de LeituraDocumento5 páginasRelatorio de LeiturageovanaAinda não há avaliações
- ANAIS ABREM - Os Instrumentos de Tortura PDFDocumento465 páginasANAIS ABREM - Os Instrumentos de Tortura PDFSolange OliveiraAinda não há avaliações
- Re Sen Ha Geo 2024 JulianaDocumento7 páginasRe Sen Ha Geo 2024 JulianaJuliana Cunha de OliveiraAinda não há avaliações
- Ascensão social em PernambucoDocumento10 páginasAscensão social em PernambucoNaldo GonçalvesAinda não há avaliações
- Gabarito Livro 05 Enem e VestibularesDocumento3 páginasGabarito Livro 05 Enem e VestibularesthaianaAinda não há avaliações
- Unidade 1 Antes Do Brasil Surgimento Dos Estados Na Europa e A América Antes Dos EuropeusDocumento22 páginasUnidade 1 Antes Do Brasil Surgimento Dos Estados Na Europa e A América Antes Dos Europeussofiapedagogia94Ainda não há avaliações
- Novas Tendências Da Historiografia Sobre Minas Gerais No Período ColonialDocumento4 páginasNovas Tendências Da Historiografia Sobre Minas Gerais No Período ColonialKAROLAYNE CRISTINA GOMES DA FONSECAAinda não há avaliações
- Dinamismo civilizacional da Europa Ocidental nos séculos XIII-XIVDocumento119 páginasDinamismo civilizacional da Europa Ocidental nos séculos XIII-XIVCatrainaAinda não há avaliações
- Avaliação de Brasil IDocumento12 páginasAvaliação de Brasil IAnthony Assis da SilvaAinda não há avaliações
- Resumo CRITICO VARNHAGENDocumento6 páginasResumo CRITICO VARNHAGENAdriano Martins da Cruz100% (1)
- 367 1144 1 PBDocumento15 páginas367 1144 1 PBKarine Moreira Morais Soares Moreira MoraisAinda não há avaliações
- História da Colônia BrasileiraDocumento65 páginasHistória da Colônia BrasileiraDiogene Rodrigues GuedesAinda não há avaliações
- A formação do Império brasileiroDocumento19 páginasA formação do Império brasileiroronaldotrindade100% (1)
- Implementação Da Mão de Obra Indígena e Africana No Brasil ColonialDocumento8 páginasImplementação Da Mão de Obra Indígena e Africana No Brasil Colonialvoff_concursosAinda não há avaliações
- História da América Latina resumidaDocumento2 páginasHistória da América Latina resumidaVyrginya MeloAinda não há avaliações
- Colonizadores Do SeridóDocumento25 páginasColonizadores Do SeridóClayton de Medeiros100% (3)
- História Do Direito Cap IV Pluralidade Do Direito Na América LusoDocumento25 páginasHistória Do Direito Cap IV Pluralidade Do Direito Na América Lusojoseelisson987Ainda não há avaliações
- A Sociedade Perfeita As Origens Da Desigualdade Social No BrasilDocumento348 páginasA Sociedade Perfeita As Origens Da Desigualdade Social No BrasilNilceia PalomoAinda não há avaliações
- Módulo 2 A 9 História ADocumento148 páginasMódulo 2 A 9 História Abebeio60% (5)
- AtividadeamericaespanholaDocumento2 páginasAtividadeamericaespanholaAdemilson BuenoAinda não há avaliações
- Apostila Idade Média Parte 1Documento9 páginasApostila Idade Média Parte 1Pré-Universitário Oficina do Saber UFFAinda não há avaliações
- O Teatro Dos VíciosDocumento23 páginasO Teatro Dos VíciosMB AcademicaAinda não há avaliações
- Análise de Livro Didático Sobre História Do Brasil. Chegada Da Família Real.1800Documento7 páginasAnálise de Livro Didático Sobre História Do Brasil. Chegada Da Família Real.1800camila mercesAinda não há avaliações
- A colonização organizada das AméricasDocumento2 páginasA colonização organizada das AméricasThiago MouraAinda não há avaliações
- Apostila 5 e 6 Idade Média.Documento11 páginasApostila 5 e 6 Idade Média.Pré-Universitário Oficina do Saber UFFAinda não há avaliações
- 2 - Formação de Territórios Culturais e Políticos - Pós-GraduaçãoDocumento48 páginas2 - Formação de Territórios Culturais e Políticos - Pós-GraduaçãoProf. Eduardo Almeida100% (1)
- Apresentação América IDocumento11 páginasApresentação América IEmanuelly TenórioAinda não há avaliações
- AmericaDocumento11 páginasAmericaEmanuelly TenórioAinda não há avaliações
- Comprovante 2023-04-29 113912 PDFDocumento3 páginasComprovante 2023-04-29 113912 PDFDiego MatosAinda não há avaliações
- Artigo História IndígenaDocumento10 páginasArtigo História IndígenaEmanuelly TenórioAinda não há avaliações
- Emanuelly Tenório CostaDocumento1 páginaEmanuelly Tenório CostaEmanuelly TenórioAinda não há avaliações
- Avaliacao Unidade Ii Historia Antiga OcidentalDocumento3 páginasAvaliacao Unidade Ii Historia Antiga OcidentalEmanuelly TenórioAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Sociologia Da EducaçãoDocumento2 páginasResenha Crítica Sociologia Da EducaçãoEmanuelly TenórioAinda não há avaliações
- A Guerra Não Tem Rosto de MulherDocumento5 páginasA Guerra Não Tem Rosto de MulherEmanuelly TenórioAinda não há avaliações
- Frases H/P sobre riscos à saúde e segurançaDocumento8 páginasFrases H/P sobre riscos à saúde e segurançaCátiaCardosoAinda não há avaliações
- Nossa Fé - Liderança Bíblica - Currículo Cultura CristãDocumento50 páginasNossa Fé - Liderança Bíblica - Currículo Cultura CristãRafael Zanoto BoeiraAinda não há avaliações
- Como Criar Um Pendrive de Boot Do Windows 8, 7 e Vista - ExplorandoDocumento8 páginasComo Criar Um Pendrive de Boot Do Windows 8, 7 e Vista - ExplorandoJose Leandro Oliveira CostaAinda não há avaliações
- TCC - Concluido - Amanda Lucia KollettDocumento18 páginasTCC - Concluido - Amanda Lucia KollettLivia MedradoAinda não há avaliações
- Ficha 1Documento2 páginasFicha 1gonçaloAinda não há avaliações
- 4 Slides Problema 04 Abordagem Contingencial Usado em T1Documento26 páginas4 Slides Problema 04 Abordagem Contingencial Usado em T1Soledad AlexandraAinda não há avaliações
- CONTRATOSUITSBLAZEDocumento5 páginasCONTRATOSUITSBLAZECésar SilvaAinda não há avaliações
- Aula 2021 - Brasil ColonizaçãoDocumento60 páginasAula 2021 - Brasil ColonizaçãoAnderson AmorimAinda não há avaliações
- Médica explica riscos de SCT e amputação por usar tampõesDocumento3 páginasMédica explica riscos de SCT e amputação por usar tampõesCláudio AlmeidaAinda não há avaliações
- A POSTILADocumento6 páginasA POSTILAJoão LoureiroAinda não há avaliações
- Ele Vai Te Pedir em Namoro em 30 DiasDocumento152 páginasEle Vai Te Pedir em Namoro em 30 DiasGabriela Gomes100% (11)
- Cap11 Lista Economia de EmpresasDocumento2 páginasCap11 Lista Economia de EmpresasJosé Jair Campos ReisAinda não há avaliações
- Portfólio Individual Projeto de Extensão I - Negócios Imobiliários 2023 - Programa de Ação e Difusão CulturalDocumento1 páginaPortfólio Individual Projeto de Extensão I - Negócios Imobiliários 2023 - Programa de Ação e Difusão CulturalAlex NascimentoAinda não há avaliações
- #único - Swallow Me Whole by Gemma JamesDocumento372 páginas#único - Swallow Me Whole by Gemma Jameslusinda 900Ainda não há avaliações
- Semana Da Arte Moderna- TropicalismoDocumento44 páginasSemana Da Arte Moderna- TropicalismospetanierisAinda não há avaliações
- Ficha Atividades Português 12ºanoDocumento5 páginasFicha Atividades Português 12ºanoAna QuartinAinda não há avaliações
- Norbert Elias introdução sociologiaDocumento1 páginaNorbert Elias introdução sociologiaErinaldo NunesAinda não há avaliações
- O que é a celulite e seus estágios de evoluçãoDocumento23 páginasO que é a celulite e seus estágios de evoluçãoSimone SouzaAinda não há avaliações
- Bullying e cultura popDocumento70 páginasBullying e cultura popEdvaldo SoaresAinda não há avaliações
- Relatorio - AL - 1.1 FinalDocumento18 páginasRelatorio - AL - 1.1 FinalJoao PiresAinda não há avaliações
- Caderno de Normas para Trabalhos AcadêmicosDocumento86 páginasCaderno de Normas para Trabalhos AcadêmicosLovoatAinda não há avaliações
- Os Pensadores-JHON LockeDocumento307 páginasOs Pensadores-JHON LockeJosenilde Reis CostaAinda não há avaliações
- A Fenomenologia de Husserl e suas críticas ao PositivismoDocumento14 páginasA Fenomenologia de Husserl e suas críticas ao PositivismoIgor FortunatoAinda não há avaliações
- Ebook Sono Real (Atualizado 2023)Documento67 páginasEbook Sono Real (Atualizado 2023)Anderson RosaAinda não há avaliações
- MicrobiologiaDocumento4 páginasMicrobiologiaanderson.lima.1006Ainda não há avaliações
- Atividade - Docxeletrolie ClaraDocumento6 páginasAtividade - Docxeletrolie ClaraElany PereiraAinda não há avaliações
- CasaMaringá - Lista Eletronica e PerfumariaDocumento41 páginasCasaMaringá - Lista Eletronica e Perfumaria-Foemalord-Ainda não há avaliações
- Estrutura e organelas da célula vegetalDocumento9 páginasEstrutura e organelas da célula vegetalCrisSumaqueiroAinda não há avaliações
- Gabarito preliminar concurso público Rio Novo MGDocumento5 páginasGabarito preliminar concurso público Rio Novo MGLuiz Philip SimãoAinda não há avaliações
- Os termos Hinayana e Mahayana: uma análiseDocumento1 páginaOs termos Hinayana e Mahayana: uma análiserodrigo6ferreira-10Ainda não há avaliações
- O princípio da segurança jurídica e o processo administrativoNo EverandO princípio da segurança jurídica e o processo administrativoAinda não há avaliações
- Histórias e culturas indígenas na Educação BásicaNo EverandHistórias e culturas indígenas na Educação BásicaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Pedrinhas miudinhas: Ensaios sobre ruas, aldeias e terreirosNo EverandPedrinhas miudinhas: Ensaios sobre ruas, aldeias e terreirosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- Educação física, corpo e tradição: o jogo das comunidades tradicionaisNo EverandEducação física, corpo e tradição: o jogo das comunidades tradicionaisAinda não há avaliações
- Contra a idolatria do Estado: O papel do cristão na políticaNo EverandContra a idolatria do Estado: O papel do cristão na políticaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (9)
- Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de FutebolNo EverandOs Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de FutebolAinda não há avaliações
- Preso na Gaiola: A Criminalização do Funk Carioca nas Páginas do Jornal do Brasil (1990-1999)No EverandPreso na Gaiola: A Criminalização do Funk Carioca nas Páginas do Jornal do Brasil (1990-1999)Ainda não há avaliações
- A história do Brasil para quem tem pressa: Dos bastidores do descobrimento à crise de 2015 em 200 páginas!No EverandA história do Brasil para quem tem pressa: Dos bastidores do descobrimento à crise de 2015 em 200 páginas!Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (17)
- Um caso de polícia: a censura teatral no Brasil dos séculos IX e XXNo EverandUm caso de polícia: a censura teatral no Brasil dos séculos IX e XXAinda não há avaliações
- Jesus todo dia: Encontre‐se com Deus todos os dias e deixe o amor transbordar na sua vidaNo EverandJesus todo dia: Encontre‐se com Deus todos os dias e deixe o amor transbordar na sua vidaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (13)
- Memórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazistaNo EverandMemórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (5)
- Operação Revelação:: Caso Bruxo - o maior erro histórico de um delegado no BrasilNo EverandOperação Revelação:: Caso Bruxo - o maior erro histórico de um delegado no BrasilAinda não há avaliações
- Cidadania, desigualdade social e política sanitária no brasilNo EverandCidadania, desigualdade social e política sanitária no brasilAinda não há avaliações
- Infraestrutura verde aplicada ao planejamento da ocupação urbanaNo EverandInfraestrutura verde aplicada ao planejamento da ocupação urbanaAinda não há avaliações
- O Direito do Trabalho no Estado Democrático de DireitoNo EverandO Direito do Trabalho no Estado Democrático de DireitoAinda não há avaliações
- A Literatura para crianças e jovens no Brasil de ontem e de hoje: Caminhos de ensinoNo EverandA Literatura para crianças e jovens no Brasil de ontem e de hoje: Caminhos de ensinoAinda não há avaliações
- O Cérebro vai à Escola: Aproximações entre Neurociências e Educação no BrasilNo EverandO Cérebro vai à Escola: Aproximações entre Neurociências e Educação no BrasilAinda não há avaliações
- Autoritarismo e golpes na América Latina: Breve ensaio sobre jurisdição e exceçãoNo EverandAutoritarismo e golpes na América Latina: Breve ensaio sobre jurisdição e exceçãoAinda não há avaliações
- Marketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoNo EverandMarketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoAinda não há avaliações
- A Origem da Família, da Propriedade Privada e do EstadoNo EverandA Origem da Família, da Propriedade Privada e do EstadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)