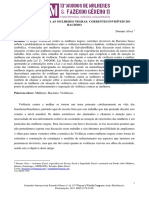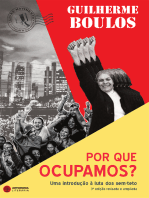Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sem Rua Não Há Como Garantir A Urna
Enviado por
Bianca Santana0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações3 páginasBianca Santana para boletim da Fundação Rosa Luxemburgo Rosa
Título original
Sem rua não há como garantir a urna
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoBianca Santana para boletim da Fundação Rosa Luxemburgo Rosa
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações3 páginasSem Rua Não Há Como Garantir A Urna
Enviado por
Bianca SantanaBianca Santana para boletim da Fundação Rosa Luxemburgo Rosa
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
Sem rua não há como garantir a urna
Bianca Santana
Em 2013 estivemos nas ruas. O Movimento Passe Livre (MPL), articulado
desde 2005, convocou manifestações a partir do aumento de preço do transporte
público em diferentes municípios e estados brasileiros. A brutal violência policial
mobilizada a cada ato tinha o efeito de dobrar o tamanho da manifestação seguinte.
Da tarifa, a demanda foi ampliada para uma maior transparência no setor de
transporte, depois, para revisão nos lucros das empresas. “Amanhã vai ser maior”
não era blefe. Retratava a tomada de consciência da necessidade de ocupar as
ruas. Não era por 20 centavos, era por direitos.
Mas o desejo de participação e de ação política direta foi interpretado como
traição pelos partidos de esquerda. A direita, acostumada a se apropriar de qualquer
coisa em benefício próprio, foi habilidosa em perceber a força das ruas e direcionar
a agenda política para o esvaziado discurso de enfrentamento à corrupção, um
velho conhecido na política brasileira, vide o “varre, varre vassourinha” de 1960.
Rapidamente, aumentaram os gritos de “sem bandeira”, declarações na grande
imprensa de que as manifestações eram apartidárias e a violência contra pessoas
vestidas de vermelho. Voltamos para casa assustadas, praticamente pedindo
desculpas ao PT que acusava movimentos de renovação política à esquerda de
estarmos a serviço da direita. E por W.O. a direita ganhou as ruas.
As conquistas do movimento negro de cotas raciais para ingresso na
universidade pública e aprovação de direitos trabalhistas a empregadas domésticas
somadas ao acesso da população a bens de consumo irritou a classe média racista
que se formou historicamente a partir de privilégios e da exclusão de negros e
pobres forjados como “o outro” da sociedade brasileira. Filha da doméstica na
universidade pública e pobre andando de avião não se podia tolerar, mesmo a
situação econômica da própria classe média tendo melhorado.
Em 2014 teve início a Lava Jato. O MPL perdeu espaço na cena política e foi
fundado o MBL (Movimento Brasil Livre), que surfou na institucionalidade fazendo o
discurso anti-sistema. Ainda assim, apesar deles todos, Dilma Rousseff foi reeleita
presidenta da república. Vencemos nas urnas. Mas como a rua continuava a ser
deles, em 2016 sofremos um golpe que derrubou Dilma e se aprofundou na prisão
de Lula e nas eleições de 2018. Nesse 2022 estamos mais uma vez focados nas
urnas e negligenciando as ruas.
Tenho ouvido de setores diferentes da esquerda brasileira que a Coalizão
Negra por Direitos foi a movimentação mais importante que aconteceu no Brasil nos
últimos anos. Isso me preocupa. Não por um problema da Coalizão. Mas por ainda
não sermos um movimento de massas e estarmos, infelizmente, longe disso. Em
2019, coletivos, organizações e movimentos negros se juntaram para fazer
incidência política nacional e internacionalmente e resistir, pelas vias burocráticas,
aos desmandos de um governo autoritário. Barramos pontos significativos do
chamado pacote anti-crime proposto por Moro quando era ministro de Bolsonaro;
interrompemos tentativas de retrocesso nas políticas afirmativas de ingresso de
pessoas negras nas universidades públicas, argumentamos publicamente contra a
federalização das investigações do caso Marielle, apoiamos quilombolas de
Alcântara, no Maranhão, na defesa de seu território frente a militares brasileiros e
norte-americanos. E mais importante que isso tudo, demos um salto organizativo
para dentro. Somos, atualmente, mais de 230 grupos negros em todo o país
trabalhando pela construção de uma agenda política de defesa de direitos e
enfrentamento ao neoliberalismo. Articulamos a campanha “Tem gente com fome”
que, a partir da distribuição de comida na emergência da pandemia, promoveu
educação política em territórios negros e periféricos espalhados em todos os
estados brasileiros. Semanalmente nos reunimos para debater a conjuntura e tomar
decisões coletivamente. E convocamos atos não apenas contra Bolsonaro, mas
também para denunciar e interromper o genocídio negro no país. E apesar de
reconhecer avanço, afirmo que ainda é pouco. Que só teremos chance real de
disputar uma sociedade justa e igualitária, livre de racismo e machismo, promotora
do bem viver, quando formos um movimento negro de massas.
E então me pergunto sobre 2022. Sem dúvidas, eleger pessoas negras é
importante. Mas esse deve ser nosso foco prioritário? Quanto cada mandato ligado a
movimento negro acumula para o movimento no geral e para a necessária
transformação da realidade social do país?
Em março deste ano estive em uma comitiva de organizações que compõem
a Coalizão na Colômbia e no Chile. Testemunhamos a reta final da campanha às
prévias de Francia Marquez, antes de que ela obtivesse 15% do total de votos para
presidente no país, e também a posse de Gabriel Boric no Chile, precedida pelo ato
do 8 de março nas ruas de Santiago. Estar em meio a mais de 350 mil mulheres
ocupando as ruas fez lembrar 2013 e ofereceu respostas de por que o governo
chileno pode se declarar feminista. Mesmo com todas as dificuldades, as greves e
manifestações de rua na Colômbia, as ocupações de escolas, greves e passeatas
no Chile foram fundamentais para disputar a sociedade e ter resultados eleitorais. E
a ampliação das ruas pode garantir governos de esquerda que abrirão caminhos
para a América Latina.
Aqui no Brasil, além de derrotar Bolsonaro nas urnas ao eleger Lula,
precisamos sustentar o resultado eleitoral e alargar nossa agenda política para toda
a população. Como a Coalizão Negra por Direitos pode expandir sua atuação
territorial? Como retomar o acúmulo das escolas ocupadas por secundaristas em
2015? Como apoiar o MST no enfrentamento ao agronegócio que mata
trabalhadoras e trabalhadores rurais todos os dias? Como garantir a posse de terra
e o fortalecimento de comunidades quilombolas? Como interromper a violência
contra meninas e mulheres indígenas e perceber nos povos originários a sabedoria
política fundamental para que a vida da humanidade ainda seja viável na Terra?
O discurso de renovação política virou até nome de partido que se diz novo
ao reproduzir velhas práticas. O próprio presidente miliciano, que foi deputado por
30 anos, faz discurso contra a velha política e se coloca como alternativa. Como
entramos no jogo para disputar, de verdade, o coração do povo? A confiança que
todas temos no Lula é insuficiente para garantir a retomada do país. Precisamos
eleger Lula e precisamos de mais.
Desenterrar os fantasmas de 2013 pode nos ajudar a compreender a
necessidade de abertura para uma nova cultura política – mais participativa, mais
feminista, mais negra, mais indígena, mais em dia com as possibilidades de
comunicação em rede, em conexão verdadeira com a demanda por autenticidade na
política. O mote da campanha de Francia Marquez, “Mulheres negras, da resistência
ao poder, até que a dignidade seja costume”, nos lembra como o acúmulo dos
movimentos de mulheres negras que influenciou toda a América Latina abriu
possibilidade de análise e transformação do mundo. As mulheres que resistem ao
machismo e ao racismo são as que cuidam das pessoas, das águas, do solo e precisam
estar no poder. Não para inverterem sua posição em uma lógica de desigualdade e
passarem a ocupar o topo, mas para contribuírem com a promoção de igualdade,
justiça e direitos para todo mundo. Essa era a agenda política de Marielle Franco ao ser
assassinada com quatro tiros na cara em março de 2018.
Quatro anos depois, não sabermos quem mandou matar Marielle nos mostra
como a verdade e a justiça sobre o assassinato de uma parlamentar negra não é
prioridade no Brasil. Nem do governo miliciano próximo dos acusados da execução
do crime nem da esquerda que diz querer derrubar Bolsonaro mas ignora o tema
que mais desestabiliza o presidente e seus filhos. Quem mandou matar Marielle,
afinal?
Você também pode gostar
- André Leites - ContratransferênciaDocumento122 páginasAndré Leites - Contratransferênciafbnfrancisco100% (2)
- NBR Iso 9001-2015 PDFDocumento44 páginasNBR Iso 9001-2015 PDFNatanael Nogueira79% (29)
- Poemas Das Quatro Estações de VivaldiDocumento2 páginasPoemas Das Quatro Estações de VivaldiRanderson Alex Gama LuzAinda não há avaliações
- Ficha Sobre o Conto "George"Documento4 páginasFicha Sobre o Conto "George"Ana67% (3)
- Enquanto Desconsiderarmos o Racismo, Não Compreenderemos Junho de 2013Documento4 páginasEnquanto Desconsiderarmos o Racismo, Não Compreenderemos Junho de 2013Bianca SantanaAinda não há avaliações
- Manifesto Enquanto Houver Racismo Nao Ha DemocraciaDocumento2 páginasManifesto Enquanto Houver Racismo Nao Ha DemocraciaCeleste CostaAinda não há avaliações
- Artigo - Sem Mulher Não Há DemocraciaDocumento6 páginasArtigo - Sem Mulher Não Há DemocraciaMaria Eduarda Carneiro da SilvaAinda não há avaliações
- Nono Ano - Semana 5Documento4 páginasNono Ano - Semana 5Bruno GuimarãesAinda não há avaliações
- O Pessimismo Dos Velhos e o Dever de Esperança Dos JovensDocumento2 páginasO Pessimismo Dos Velhos e o Dever de Esperança Dos JovensCarla OdaraAinda não há avaliações
- Instituto Marielle Franco - Violência Política de Gênero e Raça 2021Documento93 páginasInstituto Marielle Franco - Violência Política de Gênero e Raça 2021Adriano da SilvaAinda não há avaliações
- Resistência em Movimento Por Uma UNE Que Ouse LutarDocumento11 páginasResistência em Movimento Por Uma UNE Que Ouse LutarJoão VitorAinda não há avaliações
- Cult 238 - A Psicanálise Entre Feminismos e Femininos by Autores, VáriosDocumento63 páginasCult 238 - A Psicanálise Entre Feminismos e Femininos by Autores, VáriosJessica Pacifico dos reisAinda não há avaliações
- Panfleto Bolsonaronuncamais CorretoDocumento2 páginasPanfleto Bolsonaronuncamais CorretoMaria Júlia MonteroAinda não há avaliações
- Serie FormPolitica ViolenciaContraMulheresDocumento96 páginasSerie FormPolitica ViolenciaContraMulheresCaroline LealAinda não há avaliações
- Protesto Uma Introdução Aos Movimentos Sociais James M JasperDocumento251 páginasProtesto Uma Introdução Aos Movimentos Sociais James M JasperWalter FilhoAinda não há avaliações
- Seja Antirracista 2020Documento45 páginasSeja Antirracista 2020iuri pintoAinda não há avaliações
- Feminismo para Os 99 Um DebateDocumento8 páginasFeminismo para Os 99 Um DebateRegiane ElorriagaAinda não há avaliações
- Simulado de Questões - Cidadania e DemocraciaDocumento25 páginasSimulado de Questões - Cidadania e DemocraciaEllen FerreiraAinda não há avaliações
- Mulheres Que Inspiram A LutaDocumento40 páginasMulheres Que Inspiram A LutaMarcus ViniciusAinda não há avaliações
- ??? Le Monde Diplomatique Brasil (Dezembro 2020)Documento40 páginas??? Le Monde Diplomatique Brasil (Dezembro 2020)Ana Paula Peixoto100% (1)
- História 03Documento4 páginasHistória 03Rayssa GomesAinda não há avaliações
- Mulheres Nos Cargos PolíticosDocumento3 páginasMulheres Nos Cargos PolíticosAna Luiza AguiarAinda não há avaliações
- CARNEIRO, Sueli - Enegrecer o FeminismoDocumento5 páginasCARNEIRO, Sueli - Enegrecer o FeminismoRLeicester100% (1)
- O Pão NossoDocumento3 páginasO Pão NossoEbenezer Xavier Dos ReisAinda não há avaliações
- Geografia-Dia Da MulherDocumento2 páginasGeografia-Dia Da MulherMaria Anicio das Graças SenaAinda não há avaliações
- Mortes Invã Siveis Artigo Lucas Eduardo Lima de Morais - Final CorrigidoDocumento20 páginasMortes Invã Siveis Artigo Lucas Eduardo Lima de Morais - Final Corrigidouma garota aleatorizanteAinda não há avaliações
- Acoes Afirmativas PDFDocumento24 páginasAcoes Afirmativas PDFGabriel BozzanoAinda não há avaliações
- Roteiro Anúncio Publicitário:: Violêcia Polical E Movimento Black Lives MatterDocumento7 páginasRoteiro Anúncio Publicitário:: Violêcia Polical E Movimento Black Lives MatterBruno FilippiAinda não há avaliações
- PCB. O Poder PopularDocumento12 páginasPCB. O Poder PopularpgcAinda não há avaliações
- O Brasil Precisa Ser Dirigido Por Uma Pessoa Que Já Passou Fome.Documento2 páginasO Brasil Precisa Ser Dirigido Por Uma Pessoa Que Já Passou Fome.Bianca SantanaAinda não há avaliações
- Op Breno TrabalhoDocumento4 páginasOp Breno TrabalhoJhéssica BarrozoAinda não há avaliações
- 'Ser Mãe Na Ditadura' - Afeto e Política Caminham de Mãos DadasDocumento25 páginas'Ser Mãe Na Ditadura' - Afeto e Política Caminham de Mãos DadasCaroline RiosAinda não há avaliações
- MOVIMENTOS SOCIAIS - Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)Documento3 páginasMOVIMENTOS SOCIAIS - Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)Mid T. AnjosAinda não há avaliações
- 4818-Texto Do Artigo-17890-1-10-20180617Documento10 páginas4818-Texto Do Artigo-17890-1-10-20180617Abimael Gomes PereiraAinda não há avaliações
- FEMINISMODocumento23 páginasFEMINISMOLeda Angelica MirandaAinda não há avaliações
- Matéria Apagamento Cultura Negra1Documento7 páginasMatéria Apagamento Cultura Negra1121081Ainda não há avaliações
- CARVALHO José Murilo De. Cidadania No Brasil1Documento226 páginasCARVALHO José Murilo De. Cidadania No Brasil1Lidi MesquitaAinda não há avaliações
- Somos Solidários À Esquerda Branca BrasileiraDocumento3 páginasSomos Solidários À Esquerda Branca BrasileiraLeonardo QueirozAinda não há avaliações
- A Luta Pela Democracia No BrasilDocumento2 páginasA Luta Pela Democracia No Brasilbeneditocasanova2023Ainda não há avaliações
- IdentitariosDocumento16 páginasIdentitariosmmsampAinda não há avaliações
- MANIFESTO EM DEFESA DA CRIAÇÃO DO "Dia Marielle Franco de Enfrentamento Da Violência Política Contra Mulheres Negras, LGBTQIA+ e Periféricas"Documento2 páginasMANIFESTO EM DEFESA DA CRIAÇÃO DO "Dia Marielle Franco de Enfrentamento Da Violência Política Contra Mulheres Negras, LGBTQIA+ e Periféricas"Igor RomãoAinda não há avaliações
- Livro Pdf. Seja Democracia Ed. PeriferiasDocumento158 páginasLivro Pdf. Seja Democracia Ed. PeriferiasNoah Muccillo CoutoAinda não há avaliações
- Entre Inexistencias e Visibilidades A AgDocumento22 páginasEntre Inexistencias e Visibilidades A AgClaudia Costa GarcíaAinda não há avaliações
- BRAZÃO, Analba OLIVEIRA, Guacira Cesar De. Violência Contra As Mulheres - Uma História Contada em Décadas de Lutas.Documento128 páginasBRAZÃO, Analba OLIVEIRA, Guacira Cesar De. Violência Contra As Mulheres - Uma História Contada em Décadas de Lutas.José MoraisAinda não há avaliações
- ManiDocumento4 páginasManiLuara Florencia SchamóAinda não há avaliações
- Resenha Final Vitor Gabriel MatiasDocumento4 páginasResenha Final Vitor Gabriel MatiasVitor MatiasAinda não há avaliações
- Jeitinho Brasileiro PDFDocumento3 páginasJeitinho Brasileiro PDFAndré RodriguesAinda não há avaliações
- GT 18 - Políticas Públicas de Gênero No Brasil Do Século XXI: Avanços e Desafios 1701Documento21 páginasGT 18 - Políticas Públicas de Gênero No Brasil Do Século XXI: Avanços e Desafios 1701Ariana SantosAinda não há avaliações
- Baladeira CulturalDocumento26 páginasBaladeira CulturalLuciana BessaAinda não há avaliações
- Prova 1 - 3ºDocumento4 páginasProva 1 - 3ºAnonymous a1ncqmREAinda não há avaliações
- Programa de Ação Do MnuDocumento25 páginasPrograma de Ação Do MnuLudmila ArianeAinda não há avaliações
- José Murilo de Carvalho CidadaniaDocumento5 páginasJosé Murilo de Carvalho CidadaniaIsolda DionisioAinda não há avaliações
- As Mulheres Trabalhadoras e A Luta Pelo Direito À MoradiaDocumento4 páginasAs Mulheres Trabalhadoras e A Luta Pelo Direito À MoradiaJulia CirilloAinda não há avaliações
- Carta de Um Professor Pela DemocraciaDocumento1 páginaCarta de Um Professor Pela DemocraciaIvandro Batista de QueirozAinda não há avaliações
- Mulheres Pela Demoracia:: Direitos Paratodas!Documento17 páginasMulheres Pela Demoracia:: Direitos Paratodas!Ana Tereza Carvalho VianaAinda não há avaliações
- Manifestantes Como Linhas Auxiliar Conservadorismo - 30-01-14Documento3 páginasManifestantes Como Linhas Auxiliar Conservadorismo - 30-01-14Laerte Moreira Dos SantosAinda não há avaliações
- Suplemento CompletoDocumento10 páginasSuplemento CompletoLetícia ParksAinda não há avaliações
- A Participacao Das Mulheres Negras Nos Espacos de Poder PDFDocumento34 páginasA Participacao Das Mulheres Negras Nos Espacos de Poder PDFvictor lopesAinda não há avaliações
- ARQUIVO Artigo Violenciascontraasmulheresnegras FazendoGeneroDocumento7 páginasARQUIVO Artigo Violenciascontraasmulheresnegras FazendoGenerolubalieiroAinda não há avaliações
- Por que ocupamos?: Uma introdução à luta dos sem-tetoNo EverandPor que ocupamos?: Uma introdução à luta dos sem-tetoNota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- O Movimento Negro - PDF VersionDocumento17 páginasO Movimento Negro - PDF Versionvotacaoskzlsv5Ainda não há avaliações
- Repertorio Sobre Tema MulherDocumento4 páginasRepertorio Sobre Tema MulherHernaneAinda não há avaliações
- BRANDÃO - A Comunidade TradicionaisDocumento15 páginasBRANDÃO - A Comunidade TradicionaisFernando SoaresAinda não há avaliações
- Multiplex - Sistema de Bebidas (PT)Documento59 páginasMultiplex - Sistema de Bebidas (PT)Amauri RogérioAinda não há avaliações
- Consultoria Empresarial - A Função Do Consultor Nas EmpresasDocumento22 páginasConsultoria Empresarial - A Função Do Consultor Nas EmpresasThalestwAinda não há avaliações
- Introdução e ConclusãoDocumento6 páginasIntrodução e ConclusãoAdilson Barbosa AvbAinda não há avaliações
- Livro Digital - Princípios de Banco de DadosDocumento27 páginasLivro Digital - Princípios de Banco de DadosCleudiney Theodoro BrandaoAinda não há avaliações
- 1 - Cotidiano em MovimentoDocumento138 páginas1 - Cotidiano em MovimentoCamila SilveiraAinda não há avaliações
- EpigrafeDocumento7 páginasEpigrafeJosimar MachadoAinda não há avaliações
- A Importância, A Postura, A Posição e A Função Das Irmãs Na Igreja - Watchman Nee PDFDocumento10 páginasA Importância, A Postura, A Posição e A Função Das Irmãs Na Igreja - Watchman Nee PDFKhyashiAinda não há avaliações
- Questoes de Informatica Cespe Ok 1001Documento237 páginasQuestoes de Informatica Cespe Ok 1001Dionatan Dias100% (1)
- Panfleto JUVENTUDE N4 RVCC - PRODocumento2 páginasPanfleto JUVENTUDE N4 RVCC - PROMaria SimplesmenteAinda não há avaliações
- Techne 138Documento92 páginasTechne 138Herberth ZandomenicoAinda não há avaliações
- 3 Praticas Chave para Aprimorar A Gestao de Talentos HDMDocumento24 páginas3 Praticas Chave para Aprimorar A Gestao de Talentos HDMFrancisco NetoAinda não há avaliações
- RayaneDocumento2 páginasRayaneMÁRCIA SILVA CRUZAinda não há avaliações
- RCC1186DDocumento10 páginasRCC1186DaflaviosalesAinda não há avaliações
- FLSmidth CrossCooler v2 PTDocumento8 páginasFLSmidth CrossCooler v2 PTBrunoAinda não há avaliações
- NICOLAZZI - 2c Fernando. O Outro e o Tempo. NICOLAZZI, Fernando. O Outro e o Tempo. François Hartog e o Espelho Da HistoriaDocumento23 páginasNICOLAZZI - 2c Fernando. O Outro e o Tempo. NICOLAZZI, Fernando. O Outro e o Tempo. François Hartog e o Espelho Da HistoriaCarolina SurizAinda não há avaliações
- Sem Purgatório para o Ladrão Na Cruz e para Nós!Documento11 páginasSem Purgatório para o Ladrão Na Cruz e para Nós!waldircomp5621Ainda não há avaliações
- O Empresário Individual José de Freitas Alienou Seu Estabelecimento A Outro Empresário Mediante Os Termos de Um Contrato EscritoDocumento35 páginasO Empresário Individual José de Freitas Alienou Seu Estabelecimento A Outro Empresário Mediante Os Termos de Um Contrato EscritoeduAinda não há avaliações
- 28 Dias de GratidãoDocumento11 páginas28 Dias de GratidãoCarla SouzaAinda não há avaliações
- Aperfeiçoamento EscolarDocumento10 páginasAperfeiçoamento EscolarAmade Buanamade100% (1)
- Vulcanismo (Alasca)Documento3 páginasVulcanismo (Alasca)Nuno Miguel Pires Correia100% (1)
- Mini Curso Basico de AcordeonDocumento21 páginasMini Curso Basico de AcordeonJaymisson NicacioAinda não há avaliações
- Ex. Quimica Do CotidianoDocumento2 páginasEx. Quimica Do CotidianoIzabelaMendes100% (1)
- Bosanska SofraDocumento74 páginasBosanska Sofrazemerijas100% (3)
- Evolução Do Sistema Operativo1Documento4 páginasEvolução Do Sistema Operativo1rivaldo50% (2)
- 15.10 2022 Caderno de Programação e ResumosDocumento71 páginas15.10 2022 Caderno de Programação e ResumosMichele Saionara Aparecida Lopes De Lima RochaAinda não há avaliações