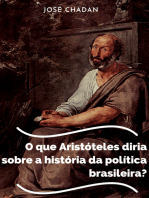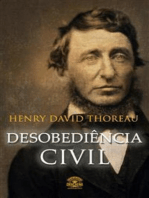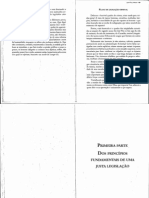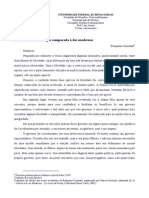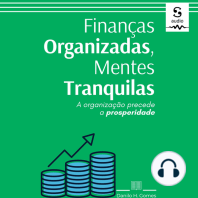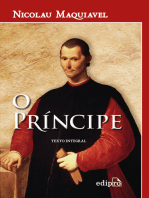Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livro Ii, Montesquieu
Enviado por
bruno de oliveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações6 páginasTítulo original
LIVRO II, MONTESQUIEU
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações6 páginasLivro Ii, Montesquieu
Enviado por
bruno de oliveiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
CAPÍTULO I
Da natureza dos três diversos governos
Existem três espécies de governo: o REPUBLICANO, O MO- NÁRQUICO e o DESPÓTICO. Para
descobrir sua natureza, bas- ta a idéia que os homens menos instruídos têm deles. Suponho três
definições, ou melhor, três fatos: "o governo republicano é aquele no qual o povo em seu conjunto, ou
apenas uma parte do povo, possui o poder soberano; o monárquico, aquele onde um só govema, mas
através de leis fixas e estabelecidas; ao passo que, no despótico, um só, sem lei e sem regra, impõe tu-
do por força de sua vontade e de seus caprichos".
Eis o que denomino a natureza de cada governo. Preci- samos ver quais são as leis que provêm
diretamente desta natureza e, conseqüentemente, são as primeiras leis funda- mentais.
Só pode ser monarca com seus sufrágios, que são suas vontades. A vontade do soberano é o próprio
soberano. Logo, as leis que estabelecem o direito de sufrágio são fundamen- tais neste governo. Com
efeito, neste caso, é tão importante regulamentar como, por quem, para quem, sobre o que os sufrágios
devem ser dados, quanto é numa monarquia saber qual é o monarca e de que maneira deve governar.
Libânio' disse que, em Atenas, um estrangeiro que se in- troduzia na assembléia do povo era punido
com a morte. É que este homem estava usurpando o direito de soberania.
É essencial fixar o número de cidadãos que devem for- mar as assembléias; sem isto, poderíamos não
saber se o po- vo falou, ou somente uma parte do povo. Na Lacedemônia, eram necessários dez mil
cidadãos. Em Roma, nascida na pe- quenez para chegar à grandeza; em Roma, feita para suportar
todas as vicissitudes da fortuna; em Roma, que tinha ora qua- se todos os seus cidadãos fora de seus
muros, ora toda a Itália e uma parte da terra dentro de seus muros, não se tinha fixa- do este número2;
e esta foi uma das grandes causas de sua ruína.
O povo que possui o poder soberano deve fazer por si mesmo tudo o que pode fazer bem; e o que não
puder fazer bem, deve fazê-lo por meio de seus ministros.
Seus ministros não são seus se ele não os nomeia; logo, é uma máxima fundamental deste governo
que o povo no- meie seus ministros, isto é, seus magistrados.
Tem necessidade, como os monarcas, e até mais do que eles, de ser conduzido por um conselho ou
senado. Mas, para que nele tenha confiança, deve eleger seus membros, quer os escolhendo por si
mesmo, como em Atenas, quer por al- gum magistrado que estabeleceu para elegê-los, como se
praticava em Roma em algumas oportunidades.
O povo é admirável quando escolhe aqueles aos quais deve delegar uma parte de sua autoridade. Ele
deve ser de- terminado apenas por coisas que não pode ignorar e por fa- tos que se encontram à vista.
Sabe muito bem que um ho- mem foi muitas vezes para a guerra e que teve tais sucessos; logo, é
muito capaz de eleger um general. Sabe que o juiz é assíduo, que muita gente sai de seu tribunal
satisfeita com ele, que não o acusaram de corrupção; eis o suficiente para elegê-lo pretor. Espantou-se
com a magnificência ou com as riquezas de um cidadão; isto é suficiente para que possa es- colher um
edil. Todas estas coisas são fatos sobre os quais se está mais bem informado em praça pública do que
um mo- marca em seu palácio. Mas seria ele capaz de conduzir um negócio, conhecer os lugares, as
oportunidades, os momen- tos, e aproveitar-se disto? Não, não seria capaz.
Se pudéssemos duvidar da capacidade natural que o po- vo tem de perceber o mérito, era só darmos
uma olhada nes- ta série contínua de escolhas surpreendentes que os atenien- ses e os romanos
fizeram; coisas que, sem dúvida, não pode- ríamos atribuir ao acaso.
Sabe-se que em Roma, ainda que o povo tivesse outor- gado a si mesmo o direito de dar cargos aos
plebeus, não con- seguia decidir-se a elegê-los; e, ainda que em Atenas fosse possível, pela lei de
Aristides, escolher magistrados entre to- das as classes, nunca aconteceu, diz Xenofonte', que a arraia
miúda pedisse aquelas que pudessem ser do interesse da sua salvação ou da sua glória.
Assim como a maioria dos cidadãos, que têm pretensão bastante para eleger, mas não para serem
eleitos, o povo, que tem capacidade suficiente para fazer com que se prestem contas da gestão dos
outros, não está capacitado para gerir.
É preciso que os negócios funcionem, e que funcionem com um certo movimento que não seja nem
muito lento, nem muito rápido. Mas o povo sempre tem ação ou de mais ou de menos. Algumas vezes
com cem mil braços ele derruba tudo; outras vezes, com cem mil pés, só caminha como os insetos.
No Estado popular, o povo está dividido em certas clas- ses. É pela maneira de fazer esta divisão que
se destacaram os grandes legisladores, e é disto que a duração da democra- cia e sua prosperidade
sempre dependeram.
Servius Tullius seguiu, na composição de suas classes, o espírito da aristocracia. Podemos ver, em
Tito Lívio e em Dionísio de Halicamasso, de que maneira ele colocou o direi- to de sufrágio nas mãos
dos principais cidadãos. Ele dividira o povo de Roma em cento e noventa e três centúrias, que for-
mavam seis classes. E, colocando os ricos, mas em menor número, nas primeiras centúrias; os menos
ricos, mas em maior número, nas centúrias seguintes, lançou toda a multi- dão dos indigentes na
última: e, como cada centúria só tinha um voto, eram os meios e as riquezas que davam o sufrágio, e
não as pessoas.
Sólon dividiu o povo de Atenas em quatro classes. Levado pelo espírito da democracia, não as
estabeleceu para fixar aque- les que deviam eleger, mas aqueles que podiam ser eleitos: e, deixando
para cada cidadão o direito de eleição, quis' que em cada uma destas quatro classes pudessem ser
eleitos juízes; mas foi apenas nas três primeiras, onde se encontravam os cidadãos abastados, que se
puderam escolher os magistrados.
Como a divisão daqueles que têm direito ao sufrágio é, numa república, uma lei fundamental, a
maneira de dá-lo é outra lei fundamental.
O sufrágio pelo sorteio é da natureza da democracia; o sufrágio pela escolha é da natureza da
aristocracia.
O sorteio é uma maneira de eleger que não aflige nin- guém; deixa a cada cidadão uma esperança
razoável de ser- vir sua pátria.
Mas, como é defeituoso por si, foi em sua regulamentação e em sua correção que os grandes
legisladores se superaram.
Sólon estabeleceu em Atenas que se nomearia por esco- lha para todos os cargos militares e que os
senadores e os juízes seriam eleitos por sorteio.
Quis que se dessem por escolha as magistraturas civis que exigissem grandes despesas e que as outras
fossem dadas por sorteio.
Mas, para corrigir o sorteio, estabeleceu que só poderiam ser eleitos aqueles que se apresentassem:
que aquele que tivesse sido eleito seria examinado por juízes e que qualquer um pode- ria acusá-lo de
ser indigno'; isso tinha ao mesmo tempo algo de escolha e de sorteio. Quando se tivesse acabado o
período de magistratura, era preciso sofrer outro julgamento sobre a ma- neira como se tinha
comportado. As pessoas incapazes não deviam gostar muito de dar seu nome para o sorteio.
A lei que fixa a maneira de dar os bilhetes de sufrágio é também uma lei fundamental na democracia.
É uma grande questão saber se os sufrágios devem ser públicos ou secretos.
Cícero" escreve que as leis" que os tomaram secretos nos últi- mos tempos da república romana foram
uma das grandes cau- sas de sua queda. Como isto se pratica diversamente em dife- rentes repúblicas,
eis, acho eu, o que se deve pensar a respeito.
Sem dúvida, quando o povo dá seu sufrágio, ele deve ser público"; e isto deve ser visto como uma lei
fundamental da democracia. É preciso que a arraia miúda seja esclarecida pelos principais e contida
pela gravidade de certas personali- dades. Assim, na república romana, tornando secreto o sufrá- gio,
tudo foi destruído; não foi mais possível esclarecer um populacho que se perdia. Mas quando, numa
aristocracia, o corpo dos nobres dá o sufrágio, ou, numa democracia, o se- nado", como nestes casos
trata-se apenas de impedir os con- luios, os sufrágios não seriam nunca secretos demais.
O conluio é perigoso em um senado; é perigoso num corpo de nobres: não o é no povo, cuja natureza
é agir por paixão. Nos Estados onde não tem nenhuma participação no govemo, ele se inflamará por
um ator, como o teria feito por negócios. A infelicidade de uma república é quando não há mais
conluios; isto acontece quando se corrompeu o povo com dinheiro;, ele começa a ter sangue-frio,
afeiçoa-se ao dinheiro, mas não mais se apega aos negócios: sem preocu- pação sobre o governo e
sobre o que nele é proposto, espe- ra tranquilamente seu salário.
Outra lei fundamental da democracia é aquela que diz que somente o povo elabora as leis. Existem, no
entanto, mil oportunidades nas quais é necessário que o senado possa legislar, é até mesmo muitas
vezes interessante que uma lei seja experimentada antes de ser estabelecida. A constituição de Roma e
a de Atenas eram muitos sábias. As decisões do senado" tinham força de lei durante um ano; só se
tornavam perpétuas pela vontade do povo.
CAPÍTULO III
Das leis relativas à natureza da aristocracia
Na aristocracia, o poder soberano está nas mãos de certo número de pessoas. São elas que elaboram as
leis e que mandam executá-las; e o resto do povo está para elas, no máximo, como os súditos estão
para o monarca, numa mo- narquia.
Nela, não se deve dar o sufrágio por sorteio; só se teriam os seus inconvenientes. Com efeito, num
governo que já es- tabeleceu as mais tristes distinções, ainda que os cargos fos- sem escolhidos por
sorteio, isso não seria menos odioso: é do nobre que se tem inveja, não do magistrado.
Quando há nobres em grande número, precisa-se de um senado que regulamente as questões sobre as
quais o corpo dos nobres não seria capaz de decidir e prepare as questões sobre as quais ele decide.
Neste caso, podemos dizer que a aristocracia está, por assim dizer, no senado, a democracia no corpo
de nobres, e o povo não é nada.
Seria uma coisa muito boa na aristocracia se, por alguma via indireta, se tirasse o povo de seu nada:
assim, em Gêno- va, o bando de São Jorge, que é administrado em grande par- te pelos principais do
povo", dá a este certa influência no governo, que faz toda a sua prosperidade.
Os senadores não devem ter o direito de substituir os que faltam no senado; nada seria mais capaz de
perpetuar os abu- sos. Em Roma, que foi nos primeiros tempos uma espécie de aristocracia, o senado
não escolhia os substitutos de seus mem- bros; os novos senadores eram nomeados" pelos censores.
Uma autoridade exorbitante, outorgada de repente a um cidadão numa república, forma uma
monarquia, ou mais do que uma monarquia. Nesta, as leis sustentam o regime ou acomodam-se a ele;
o princípio do governo freia o monarca; mas, numa república na qual um cidadão consegue um po-
der exorbitante, o abuso deste poder é maior, porque as leis, que não previram isso, nada fizeram para
freá-lo.
A exceção a esta regra acontece quando a constituição do Estado é tal que ele precisa de uma
magistratura que te- nha um poder exorbitante. Assim era Roma com seus ditado- res, assim é Veneza
com seus inquisidores de Estado; são magistraturas terríveis, que trazem violentamente o Estado de
volta à liberdade. Mas o que faz com que estas magistraturas sejam tão diferentes nestas duas
repúblicas? É que Roma de- fendia os restos de sua aristocracia contra o povo, ao passo que Veneza
usa seus inquisidores de Estado para manter sua aristocracia contra os nobres. É por isso que em
Roma a dita- dura deveria durar pouco tempo, pois o povo age movido pelo entusiasmo, e não pelos
seus planos. Era preciso que esta magistratura se exercesse com estrépito, pois tratava-se de inti-
midar o povo, e não de puni-lo, e que o ditador fosse criado apenas para uma questão determinada e
só tivesse autoridade sem limite em função desta questão, porque era sempre criado para um caso
imprevisto. Em Veneza, pelo contrário, precisa-se de uma magistratura permanente: é nela que os
planos podem ser iniciados, acompanhados, suspensos, retomados, que a ambição de um indivíduo
torna-se a ambição de uma família, e a ambição de uma família a de muitos. Precisa-se de uma
magistratura oculta porque os crimes que ela pune, sempre profundos, formam-se no segredo e no
silêncio. Esta magistra- tura deve possuir uma inquisição geral, porque ela não precisa acabar com os
males que se conhecem, e sim prevenir até mesmo aqueles que não se conhecem. Por fim, esta última
foi estabelecida para vingar crimes dos quais desconfia; e a pri- meira utilizava mais ameaças do que
punições para os crimes, ainda que confessados por seus autores.
Em toda magistratura, deve-se compensar a grandeza de seu poder pela brevidade de sua duração. Um
ano é o tempo que a maioria dos legisladores fixou; um tempo mais longo seria perigoso, um tempo
mais curto seria contrário à nature- za da coisa. Quem gostaria de governar desta forma seus negócios
domésticos? Em Ragusa", o chefe da república mu- da todos os meses; os outros oficiais, todas as
semanas; o governador do castelo, todos os dias. Isto só pode acontecer numa república pequena
cercada por poderes formidáveis, que corromperiam facilmente pequenos magistrados.
A melhor aristocracia é aquela na qual a parte do povo que não tem participação no poder é tão
pequena e tão po- bre, que a parte dominante não tem nenhum interesse em oprimi-la. Assim, quando
Antipater" estabeleceu em Atenas que aqueles que não tivessem dois mil dracmas seriam excluídos do
direito ao sufrágio, formou a melhor aristocracia possível; porque esta taxa era tão baixa que excluía
pouca gente, e nin- guém que gozasse de alguma consideração na cidade.
As famílias aristocráticas devem, então, ser tão populares quanto possível. Quanto mais próxima uma
aristocracia esti- ver da democracia, mais perfeita será, e o será menos à medi- da que se aproximar da
monarquia.
A mais imperfeita de todas é aquela na qual a parte do povo que obedece se encontra na escravidão
civil daquela que manda, como é o caso da aristocracia da Polônia, na qual os camponeses são
escravos da nobreza.
CAPÍTULO IV
Das leis em sua relação com a natureza do governo monárquico
Os poderes intermediários, subordinados e dependen- tes, constituem a natureza do governo
monárquico, isto é, da- quele onde um só governa com leis fundamentais. Eu falei dos poderes
intermediários subordinados e dependentes: de fato, na monarquia, o príncipe é a fonte de todo poder
políti- co e civil. Estas leis fundamentais supõem necessariamente a existência de canais médios por
onde flui o poder: pois, se existe num Estado apenas a vontade momentânea e capri- chosa de um só,
nada pode ser fixo e, conseqüentemente, nenhuma lei pode ser fundamental.
O poder intermediário subordinado mais natural é o da nobreza. De alguma maneira ele entra na
essência da monar- quia, cuja máxima fundamental é: sem monarca, não há nobre- za; sem nobreza,
não há monarca, mas tem-se um despota.
Existem pessoas que imaginaram, em alguns Estados da Europa, que seria possível abolir todas as
justiças dos senho- res. Não perceberam que queriam fazer o que o parlamento da Inglaterra fez.
Acabem, em uma monarquia, com as prer- rogativas dos senhores, do clero, da nobreza e das cidades;
terão em breve um Estado popular, ou um Estado despótico.
Os tribunais de um grande Estado da Europa golpeiam sem cessar, há vários séculos, a jurisdição
patrimonial dos senhores e a eclesiástica. Não queremos censurar tão sábios magistrados; mas
deixamos ainda para ser decidido até que ponto sua constituição pode ser mudada.
Não morro de amores pelos privilégios dos eclesiásticos, mas gostaria que uma vez se fixasse bem sua
jurisdição. Não se trata de saber se houve razão em estabelecê-la, mas se foi estabelecida, se faz parte
das leis do país, se é relativa a elas em toda parte; se, entre dois poderes que se reconhecem como
independentes, as condições não devem ser recíprocas; e se não é indiferente a um bom súdito
defender a justiça do príncipe ou os limites que ela sempre prescreveu a si mesma.
Assim como o poder do clero é perigoso numa repúbli- ca, ele é conveniente numa monarquia,
principalmente na- quelas que tendem para o despotismo. Que seria da Espanha e de Portugal, desde a
perda de suas leis, sem este poder que sozinho freia o poder arbitrário? Barreira sempre boa, quan- do
não existe outra, pois, como o despotismo causa na natu- reza humana males assustadores, até mesmo
o mal que o li- mita é um bem.
Assim como o mar, que parece querer cobrir toda a ter- ra, é detido pelas ervas e os menores
pedregulhos que se encontram na orla, assim também os monarcas, cujo poder parece sem limites, são
detidos pelos menores obstáculos e submetem seu orgulho natural às queixas e aos pedidos.
Os ingleses, para favorecer a liberdade, retiraram todos os poderes intermediários que formavam sua
monarquia. Têm razão em conservar esta liberdade; se por acaso a per- dessem, seriam um dos povos
mais escravos da terra.
Law, por uma igual ignorância da constituição republica- na e da monarquia, foi um dos maiores
promotores do despo- tismo que já se viram na Europa. Além das mudanças que efe- tuou, tão
bruscas, tão inusitadas, tão incríveis, ele queria supri- mir os grupos intermediários e acabar com os
corpos políticos: dissolvia a monarquia" com seus reembolsos quiméricos e pa- recia estar querendo
resgatar a própria constituição.
Não é suficiente, numa monarquia, que existam grupos intermediários; precisa-se ainda de um
depósito das leis. Este depósito só pode estar nos corpos políticos, que anunciam as leis quando elas
são elaboradas e as lembram quando são es- quecidas. A ignorância natural da nobreza, sua
desatenção, seu desprezo pelo governo civil exigem que exista um corpo que retire incessantemente as
leis da poeira onde ficariam soterradas. O Conselho do príncipe não é um depósito con- veniente. É,
por sua natureza, o depósito da vontade momen- tânea do príncipe que executa, não o depósito das
leis fun- damentais. Além do mais, o Conselho do monarca muda sem parar; não é permanente; não
poderia ser numeroso; não tem, em um grau suficiente, a confiança do povo: logo, não se encontra em
condições de esclarecê-lo nos tempos difi- ceis, nem de fazê-lo voltar à obediência.
Nos Estados despóticos, onde não há leis fundamentais, também não há depósito das leis. Vem daí
que, nestes países, a religião tenha, normalmente, tanta força; é porque ela forma uma espécie de
depósito e de permanência: e, se não for a re- ligião, são os costumes que são venerados, neste caso,
no lu- gar das leis.
CAPÍTULO V Das leis relativas à natureza do Estado despotico
Resulta da natureza do poder despótico que o único ho- mem que o exerce faça-o da mesma forma ser
exercido por um só. Um homem para o qual seus cinco sentidos dizem incessantemente que ele é tudo
e que os outros não são na- da é naturalmente preguiçoso, ignorante, voluptuoso. Logo, ele abandona
os negócios. Mas, se os confiasse a vários ou- tros, haveria brigas entre eles; haveria intrigas para ser
o pri- meiro escravo; o príncipe seria obrigado a voltar para a administração. É mais simples então
que ele a deixe para um vizir", que teria, inicialmente, o mesmo poder que o prínci- pe. O
estabelecimento de um vizir é, neste Estado, uma lei fun- damental.
Conta-se que certo papa, quando de sua eleição, cons- ciente de sua incapacidade, criou no início
dificuldades infi- nitas. Aceitou enfim e delegou a seu sobrinho todos os negó cios. Ficou admirado, e
dizia: "Nunca pensei que fosse tão fá- cil." O mesmo ocorre com os príncipes do Oriente. Quando são
retirados da prisão, onde eunucos enfraqueceram seu co- ração e seu espírito e muitas vezes os
deixaram na ignorância de seu estado, para serem colocados no trono, ficam de iní- cio surpresos:
mas, quando proclamam um vizir e se deixam levar em seu serralho às mais brutais paixões; quando
em meio a uma corte abatida seguem seus mais estúpidos capri- chos, nunca teriam pensado que fosse
tão fácil.
Quanto mais extenso é o império, mais cresce o serralho e, conseqüentemente, mais o príncipe se
embriaga de praze- res. Assim, nestes Estados, quanto mais povos o príncipe tem para governar,
menos ele pensa no governo, quanto maiores são os negócios, menos se delibera sobre os negócios.
Você também pode gostar
- DISCORSI SOPRA LA PRIMA DECA DI TITO LIVIODocumento6 páginasDISCORSI SOPRA LA PRIMA DECA DI TITO LIVIOHubens Dias100% (1)
- O Que Aristóteles Diria Sobre A História Da Política Brasileira?No EverandO Que Aristóteles Diria Sobre A História Da Política Brasileira?Ainda não há avaliações
- Análise da primeira década de Tito Lívio por MaquiavelDocumento6 páginasAnálise da primeira década de Tito Lívio por MaquiavelJonatas OliveiraAinda não há avaliações
- O Dia Em Que A República Foi AbolidaNo EverandO Dia Em Que A República Foi AbolidaAinda não há avaliações
- Cà CERO Filosofia Polà TicaDocumento5 páginasCà CERO Filosofia Polà TicaLiedson MonteiroAinda não há avaliações
- Desobediência Civil: Se uma lei é injusta, desobedeçaNo EverandDesobediência Civil: Se uma lei é injusta, desobedeçaAinda não há avaliações
- Benjamin Constant - Da Liberdade Dos Antigos Comparada Aos Dos ModernosDocumento14 páginasBenjamin Constant - Da Liberdade Dos Antigos Comparada Aos Dos ModernosGustavo Santos100% (1)
- Plano de Legislação CriminalDocumento62 páginasPlano de Legislação CriminalLudmilaCorrêaDutra100% (1)
- A Lei Das 12 TábuasDocumento16 páginasA Lei Das 12 TábuasFilipe Rodarte100% (1)
- Aulas 3 e 4 D. RomanoDocumento42 páginasAulas 3 e 4 D. RomanofsattutAinda não há avaliações
- TEÓRICASDocumento22 páginasTEÓRICASPedro Assis Dos SantosAinda não há avaliações
- MONTESQUIEDocumento1 páginaMONTESQUIEOsíris MouraAinda não há avaliações
- Romano - CompletoDocumento83 páginasRomano - CompletoVictor Hugo D. BorboremaAinda não há avaliações
- 14-08 - CHÂTELET, François DUHAMEL, Olivier e PISIER-KOUCHNER, Evelyne. História Das Ideias Políticas. Cap. I, 2Documento2 páginas14-08 - CHÂTELET, François DUHAMEL, Olivier e PISIER-KOUCHNER, Evelyne. História Das Ideias Políticas. Cap. I, 2Flavio AlvesAinda não há avaliações
- ABSOLUTISMO MONÁRQUICODocumento5 páginasABSOLUTISMO MONÁRQUICOHenriqueAinda não há avaliações
- Platão, Aristóteles e PolíbioDocumento36 páginasPlatão, Aristóteles e PolíbioRobertoCesarAinda não há avaliações
- A liberdade individual e coletiva na antiguidade e nos tempos modernosDocumento16 páginasA liberdade individual e coletiva na antiguidade e nos tempos modernosJunior CamargoAinda não há avaliações
- Resumo Livro - InternetDocumento35 páginasResumo Livro - InternetNeideSousaAinda não há avaliações
- SANTO AGOSTINHO Port CalousteDocumento4 páginasSANTO AGOSTINHO Port Calousteluigi angeloAinda não há avaliações
- O Novo Que Nasceu Velho - Entendendo o Constitucionalismo Pós-Segunda Guerra Mundial - Felipe Gabriel Silva SantosDocumento27 páginasO Novo Que Nasceu Velho - Entendendo o Constitucionalismo Pós-Segunda Guerra Mundial - Felipe Gabriel Silva SantosFelipe GabrielAinda não há avaliações
- Arruda Campos - A Justiça A Serviço Do Crime (1959)Documento67 páginasArruda Campos - A Justiça A Serviço Do Crime (1959)lomax22100% (1)
- História Do Direito RomanoDocumento6 páginasHistória Do Direito RomanoJapah MeloAinda não há avaliações
- Liberdade política e individual em MontesquieuDocumento4 páginasLiberdade política e individual em MontesquieucostaAinda não há avaliações
- Fichamento. MONTESQUIEU. O Espírito Das Leis. Livro 11Documento5 páginasFichamento. MONTESQUIEU. O Espírito Das Leis. Livro 11karovastraAinda não há avaliações
- Montesquieu - Governo MistoDocumento4 páginasMontesquieu - Governo MistoDinarte O. KepplerAinda não há avaliações
- Uma Discussao CelebreDocumento2 páginasUma Discussao CelebreGi AraújoAinda não há avaliações
- Código de Manu PDFDocumento66 páginasCódigo de Manu PDFJorge LinharesAinda não há avaliações
- Resenha Livro VIII A RepúblicaDocumento3 páginasResenha Livro VIII A RepúblicarobertoacscribdAinda não há avaliações
- Advento da Liberdade de ProudhonDocumento5 páginasAdvento da Liberdade de Proudhonrafaperezcustodio88Ainda não há avaliações
- Origem e evolução dos tribunais de contasDocumento17 páginasOrigem e evolução dos tribunais de contasFernando LopesAinda não há avaliações
- Funcionamento Da República.Documento3 páginasFuncionamento Da República.emy.oliveira2006Ainda não há avaliações
- Introdução Histórica Ao Direito PrivadoDocumento22 páginasIntrodução Histórica Ao Direito Privadok2rolw3b10Ainda não há avaliações
- Aloisio Surgik - Do Tribunato Da PlebeDocumento9 páginasAloisio Surgik - Do Tribunato Da PlebeOmbrofilaAinda não há avaliações
- Romanos Historia ADocumento7 páginasRomanos Historia AAna BaptistaAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre As Ideias de MontesquieuDocumento5 páginasEnsaio Sobre As Ideias de MontesquieuDouglas MaiaAinda não há avaliações
- As implicações sociais e políticas da burocratizaçãoDocumento10 páginasAs implicações sociais e políticas da burocratizaçãoDaniel KelcheskiAinda não há avaliações
- (2.2) H10 CAP (Testes Modulo.I)Documento20 páginas(2.2) H10 CAP (Testes Modulo.I)Martim OliveiraAinda não há avaliações
- Análise da teoria política de Aristóteles no Livro III da PolíticaDocumento8 páginasAnálise da teoria política de Aristóteles no Livro III da Políticabruno pachecoAinda não há avaliações
- Direitos Humanos InesDocumento16 páginasDireitos Humanos InesSofia FerreiraAinda não há avaliações
- Fichamento Contrato SocialDocumento7 páginasFichamento Contrato SocialBia Santos100% (1)
- (1791) SAINT-JUST, Louis De. O Espírito Da RevoluçãoDocumento126 páginas(1791) SAINT-JUST, Louis De. O Espírito Da RevoluçãoLuiz SouzaAinda não há avaliações
- Considerações Preliminares Sobre o Que É o Terceiro Estado - ResumoDocumento6 páginasConsiderações Preliminares Sobre o Que É o Terceiro Estado - ResumoEzekyel FernandesAinda não há avaliações
- Textos de Apoio-GréciaDocumento11 páginasTextos de Apoio-GréciaEdna MoreiraAinda não há avaliações
- Constituição Francesa de 1791Documento4 páginasConstituição Francesa de 1791nestorcastilhoAinda não há avaliações
- Resumo do Livro 4 de Rousseau sobre o Contrato SocialDocumento2 páginasResumo do Livro 4 de Rousseau sobre o Contrato Socialskaynan100% (6)
- Constituição Francesa de 1791Documento5 páginasConstituição Francesa de 1791dolores54Ainda não há avaliações
- A Lei Das XII TábuasDocumento4 páginasA Lei Das XII TábuasCleitonMirandaAinda não há avaliações
- As três formas clássicas de governo segundo HeródotoDocumento103 páginasAs três formas clássicas de governo segundo HeródotoErica Oliveira TavaresAinda não há avaliações
- Apresentação III - Maquiavel Republicano (Incompleto)Documento8 páginasApresentação III - Maquiavel Republicano (Incompleto)Fernanda TavaresAinda não há avaliações
- A Desobediencia CivilDocumento19 páginasA Desobediencia CivilLeo ZaqueuAinda não há avaliações
- Direito Romano - Xii Tabuas - 20 - 10Documento73 páginasDireito Romano - Xii Tabuas - 20 - 10Antonio Ciro OliveiraAinda não há avaliações
- Fundamentos do Direito Romano AntigoDocumento9 páginasFundamentos do Direito Romano AntigoiurimiguelAinda não há avaliações
- Lei Das 12 TábuasDocumento2 páginasLei Das 12 TábuasdeboraAinda não há avaliações
- Estrututa Do ConstitucionalismoDocumento25 páginasEstrututa Do Constitucionalismodouglas barbosa garciaAinda não há avaliações
- A Cidade Justa: O Estado Governante-FilósofoDocumento18 páginasA Cidade Justa: O Estado Governante-FilósofoDaia0% (2)
- Historia Do DireitoDocumento2 páginasHistoria Do DireitoAna Clara NunesAinda não há avaliações
- DocumentoDocumento3 páginasDocumento2r4m4m8mnsAinda não há avaliações
- Resumo Da Tutoria - 17 - 10Documento7 páginasResumo Da Tutoria - 17 - 10joanaAinda não há avaliações
- Avaliacao 3Documento9 páginasAvaliacao 3Alcindo AntónioAinda não há avaliações
- Favelas ResumoDocumento1 páginaFavelas ResumoHenrique G.Ainda não há avaliações
- Resenha Do Filme Beasts of No NationDocumento1 páginaResenha Do Filme Beasts of No NationGuilherme LuccasAinda não há avaliações
- Jeffrey Archer - A Filha PródigaDocumento241 páginasJeffrey Archer - A Filha PródigaAecb Casa de Boiadeiro0% (1)
- Sermao Da Corda DesbravadoresDocumento5 páginasSermao Da Corda Desbravadoresbandin100% (3)
- Da Monarquia À RepúblicaDocumento1 páginaDa Monarquia À RepúblicaKaroline Barbosa de AzevedoAinda não há avaliações
- Partidos e Competicao Eleitoral Nas Eleicoes de 20Documento24 páginasPartidos e Competicao Eleitoral Nas Eleicoes de 20Ibraimo Rui Esmael EsmaelAinda não há avaliações
- Malcolm X - 'Mensagem para As Bases'Documento11 páginasMalcolm X - 'Mensagem para As Bases'Gerson de SouzaAinda não há avaliações
- Microsoft Word - Movimento em Uma DimensãoDocumento35 páginasMicrosoft Word - Movimento em Uma DimensãoneivaprojetosAinda não há avaliações
- A Bicicleta de Lévi-Strauss (Patrice Maniglier)Documento9 páginasA Bicicleta de Lévi-Strauss (Patrice Maniglier)Thiago PereiraAinda não há avaliações
- Identidade étnico-racial na escolaDocumento3 páginasIdentidade étnico-racial na escolareginaAinda não há avaliações
- Questões Pitagóras 7º AnoDocumento39 páginasQuestões Pitagóras 7º AnoEide Sá100% (4)
- Abdias Do Nascimento - Jornada Negro LibertáriaDocumento28 páginasAbdias Do Nascimento - Jornada Negro LibertáriaedisonrjrAinda não há avaliações
- A representação dos negros na invenção da nacionalidade brasileiraDocumento11 páginasA representação dos negros na invenção da nacionalidade brasileiraAlan PassosAinda não há avaliações
- Resolução CFM 2003 - 2012Documento3 páginasResolução CFM 2003 - 2012Pedro RandalAinda não há avaliações
- SCRDocumento1 páginaSCRbrunobaggiAinda não há avaliações
- Salomão Rovedo-Diários Do Facebook (IV)Documento97 páginasSalomão Rovedo-Diários Do Facebook (IV)Jorge BoabaidAinda não há avaliações
- Apostila de Introdução Ao DireitoDocumento32 páginasApostila de Introdução Ao Direitoapi-3843626100% (2)
- A lei natural em Tomás de AquinoDocumento13 páginasA lei natural em Tomás de AquinoPrema PérezAinda não há avaliações
- Bixa Travesty e o Queerlombismo A NegritDocumento6 páginasBixa Travesty e o Queerlombismo A NegritAlfredoTaunayAinda não há avaliações
- Análise crítica do filme Ilha das FloresDocumento2 páginasAnálise crítica do filme Ilha das FloresalexsiqueiiraAinda não há avaliações
- Teste Geografia 5o AnoDocumento4 páginasTeste Geografia 5o AnoLucia RochaAinda não há avaliações
- A análise da ética e filosofia do direito na obra de Kant sobre a liberdade, autonomia e dignidade humanaDocumento187 páginasA análise da ética e filosofia do direito na obra de Kant sobre a liberdade, autonomia e dignidade humanaJ.C. Junior Ferreira100% (2)
- Licenciamento de intervenções em cursos d'água urbanos MGDocumento7 páginasLicenciamento de intervenções em cursos d'água urbanos MGadrianopaeda8804Ainda não há avaliações
- INSSDocumento1 páginaINSSMario GabrielAinda não há avaliações
- Transposição Didática - MonomotapaDocumento21 páginasTransposição Didática - MonomotapaIagoCamposAinda não há avaliações
- Cronologia Benita AguirreDocumento3 páginasCronologia Benita AguirreLeonardoAinda não há avaliações
- Formação dos Estados ModernosDocumento17 páginasFormação dos Estados ModernosSandra BarbosaAinda não há avaliações
- Exercícios 1Documento6 páginasExercícios 1Eliakim Lucena0% (1)
- Créditos adicionais para operações da PF na fronteira Brasil-BolíviaDocumento39 páginasCréditos adicionais para operações da PF na fronteira Brasil-BolíviaMarques FurtadoAinda não há avaliações
- A Identidade CulturaDocumento13 páginasA Identidade CulturaCassimo Aiuba AbudoAinda não há avaliações
- Os engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNo EverandOs engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (24)
- Finanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNo EverandFinanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (17)
- Noções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNo EverandNoções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Raciocínio lógico e matemática para concursos: Manual completoNo EverandRaciocínio lógico e matemática para concursos: Manual completoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Planejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IINo EverandPlanejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IIAinda não há avaliações
- Como passar concursos CEBRASPE -Raciocínio Lógico, Matemática e InformáticaNo EverandComo passar concursos CEBRASPE -Raciocínio Lógico, Matemática e InformáticaAinda não há avaliações
- Tratado de Inteligência Aplicada à Investigação CriminalNo EverandTratado de Inteligência Aplicada à Investigação CriminalAinda não há avaliações
- Uma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNo EverandUma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Alienação Parental: uma batalha difícil, mas não impossível de vencerNo EverandAlienação Parental: uma batalha difícil, mas não impossível de vencerAinda não há avaliações
- O CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNo EverandO CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (17)
- Psicologia jurídica: A criança, o adolescente e o caminho do cuidado na justiçaNo EverandPsicologia jurídica: A criança, o adolescente e o caminho do cuidado na justiçaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Guarda Compartilhada: a guarda compartilhada como mecanismo para atender ao melhor interesse dos filhosNo EverandGuarda Compartilhada: a guarda compartilhada como mecanismo para atender ao melhor interesse dos filhosAinda não há avaliações
- Desvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNo EverandDesvendando O Metodo De Taufic Darhal Para Mega SenaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)
- Educação das Relações Étnico-Raciais: Caminhos para a Descolonização do Currículo EscolarNo EverandEducação das Relações Étnico-Raciais: Caminhos para a Descolonização do Currículo EscolarAinda não há avaliações
- Analise Grafotécnica Para IniciantesNo EverandAnalise Grafotécnica Para IniciantesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)