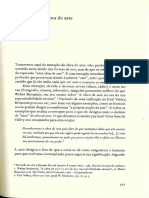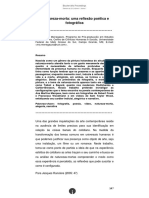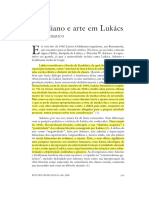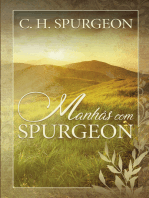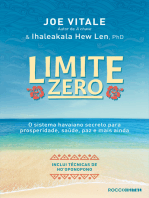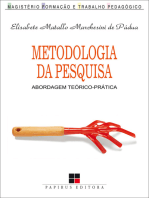Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dialnet RenunciandoAsGarantiasDaVerdade 5655920
Enviado por
Sb Dos SantosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dialnet RenunciandoAsGarantiasDaVerdade 5655920
Enviado por
Sb Dos SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Renunciando às garantias da
Verdade: Agamben e a arte*
AGAMBEN, Giorgio. O homem sem conteúdo.
Tradução, notas e posfácio de Claudio Oliveira. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2012 (Coleção
Filô/Agamben; 2).
Guilherme F. Waterloo Radomsky**
O
homem sem conteúdo é o primeiro livro de Giorgio Agamben e foi
publicado na Itália no ano de 1970. Por razões diversas, inclusive pelo
custo oneroso da circulação e da tradução de livros estrangeiros, esta
obra chega tardiamente ao leitor não familiarizado com a língua italiana (a
edição em inglês foi publicada somente em 1999). O homem sem conteúdo
mostra com vigor um conjunto de ideias e problemas que viriam a estar
presentes em seus mais conhecidos livros por parte do público brasileiro, a
série que constitui a coleção Homo Sacer. Embora O homem sem conteúdo
seja uma obra sobre arte e sociedade, expõe teses que são reveladoras e
surpreendentes sobre a arquitetura do pensamento ocidental.
Num estilo muito próprio, Agamben tem como fio condutor inicial um
problema: e se a observação kantiana, que coloca no epicentro da estética o
espectador desinteressado – que julga o belo, mas não o cria –, jamais
tivesse o poder de influência para a formação do regime de verdade da arte
ocidental moderna? Este ponto de partida diz respeito à crítica de Nietzsche
dirigida a Kant que, na Genealogia da moral, potencializa o artista
interessado e criativo o qual seria o núcleo experiencial que a estética
perdeu. Em um dos seus “giros” filosóficos, Kant teria recolocado o problema
estético para o apreciador, aquele que julga (portanto conhece)
desinteressadamente a arte, e isto definiu a reflexão e a concepção sobre
arte nos últimos séculos. Mais adiante no livro, outra pergunta-enigma nos
arremessa a uma reflexão que encaminha a crítica a ser realizada nas
páginas seguintes: o que aconteceu na convergência entre o niilismo e a
*
Resenha recebida em 13/12/2012 e aprovada para publicação em 28/01/2013.
**
Professor do Programa de Pós-graduação em Sociologia, do Departamento de Sociologia
do curso de Ciências Sociais e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: guilherme.radomsky@ufrgs.br.
Caderno eletrônico de Ciências Sociais, Vitória, v. 1, n. 1, p. 155-159.
RADOMSKY, Guilherme F. Waterloo 156
arte do século XX, especialmente a produção pós-Duchamp, e quais suas
consequências políticas e filosóficas?
Passando por períodos históricos singulares, tal como a Grécia Antiga e
a noção de que a arte nunca foi desinteressada em Platão (por isso mesmo
ela temia sua capacidade transformadora), o autor nos direciona a uma
figura emblemática de nosso tempo: o surgimento do homem de gosto na
Europa do século XVII. Num exercício genealógico fascinante, Agamben nos
diz que até este momento não havia distinção entre o bom e o mau gosto.
“A sensibilidade daquele tempo não fazia grande diferença entre as obras de
arte sacra e os bonecos mecânicos [...]” (p. 38). Ademais, desinteresse não
era atributo que fizesse parte desta economia simbólica. Príncipes e
pontífices não eram alheios ao trabalho artístico, a ponto de deixar de lado
questões de governo para se dedicar à arte. Então, começa a ficar clara a
consequência de uma estética do espectador que passou a adquirir
relevância: “A nossa moderna educação estética nos acostumou a considerar
normal [...] reprovar qualquer intrusão no trabalho do artista” (p. 40).
Paulatinamente, cresce a importância do homem de gosto que julga e frui a
obra paralelamente ao aspecto de excentricidade, eventual desequilíbrio e
necessária liberdade do artista. No polo do examinador da arte, “[T]udo se
passa, em suma, como se o bom gosto, permitindo, a quem tem o seu dom,
perceber o point de perfection da obra de arte, terminasse, na realidade, por
torná-lo indiferente a ela” (p. 45). É como se dois mundos conectados, mas
desiguais, estivessem sendo formados por relações necessárias entre eles e
que nos leva ao fim de um tipo de experiência com a arte. A nova
experiência estaria proporcionando um tipo de ser humano culto, refinado e
desinteressado, que, no limite, vê na arte sua essência se, e apenas se, um
processo de indiferença estiver fundamentando os valores desta estética.
A arte pela arte se naturaliza e, quem sabe, seja a modalidade
geradora de um paradoxo que nos acompanha desde então – a indiferença
permite um campo artístico com especialistas de elevado grau de saber e,
assim, a arte se permite viver num casulo como se não fosse relacional aos
processos sociais. De outro, o artista em sua excentricidade e liberdade, um
gênio solitário, por vezes incompreendido, cuja intromissão de outros em
sua criação não é nada senão violência. Em ambos, o risco é o da
nadificação da experiência, ou a experiência do Nada. É aqui que Agamben
indaga, seguindo Heidegger, se o espírito niilista encontra convergências
com o destino da arte – pergunta que retornará no fim do livro.
O filósofo se detém no debate sobre o que é a poesia. Novamente com
o modo peculiar de trabalhar com a etimologia, Agamben observa a relação
entre poiesis e o fazer humano que pertence ao mundo da téchne. Soa como
Caderno eletrônico de Ciências Sociais, Vitória, v. 1, n. 1, p. 155-159.
157 Renunciando às garantias da Verdade
se o “reino da arte” perdesse sua potencialidade justamente por demarcar
sua particularidade, pois a arte e o fazer humano criativo são o mesmo e
sugerem justamente o que seja o humano em relação aos outros animais.
Mas, é claro, o autor nos recorda que, embora técnica seja uma palavra
antiga, o seu estatuto após a Revolução Industrial se consolida de maneira
oposta ao estatuto da estética, ambas entendidas como sendo desdobradas
em planos separados. Qual a diferença? Ecoando um célebre texto de Walter
Benjamin, a reprodutibilidade está para a técnica assim como a originalidade
está para a obra de arte. Com fronteiras tênues e sempre em terreno
movente, técnica e arte não parecem dar as mãos, mas nunca estão
distantes como poder-se-ia pensar, tal são os investimentos em valores de
autenticidade como narrativa crucial de nosso tempo para todos os produtos
e processos. O inverso também é verdade, se quisermos. Então,
surpreendentemente, em nossa época “a exigência de uma autenticidade da
produção técnica e aquela de uma reprodutibilidade da criação artística
fizeram nascer duas formas híbridas, o ready-made e a pop-art [...]” (p.
108). A simetria mais curiosa da inversão nadificadora da arte estaria na tal
reciprocal ready-made “em que pensava Duchamp quando sugeria usar um
Rembrandt como mesa de passar roupa” (p. 89). O processo de
autonadificação da arte teria levado não à morte, mas a sua perpetuação
indefinida e irônica.
Ocorre que em filosofia e ciências sociais não raramente encontramos
sobreposições parciais entre poiesis, praxis, produção, criação, invenção.
Recorrendo a Marx de maneira astuta, Agamben sustenta que prâxis e
poíesis (grafadas desta forma na tradução) são processos diferentes, ambas
apontando para o sentido de fazer, mas o primeiro sendo um mero fazer,
denotando ação humana, e o segundo, produzir (ou, como grafa o autor,
pro-duzir) sublinhando “o fato de que, nela, algo viesse do não ser ao ser,
da ocultação à plena luz da obra” (p. 118). Antecipando argumentos
desenvolvidos especialmente no primeiro volume de Homo Sacer, e aqui
versando sobre o mundo antigo, afirma que “[...] enquanto a poíesis
constrói o espaço em que o homem encontra a sua própria certeza e
assegura a liberdade e a duração da sua ação, o pressuposto do trabalho é,
ao contrário, a nua existência biológica [...]” (p. 119). Ao longo dos séculos,
o Ocidente apaga as especificidades de prâxis e poíesis e assim a noção de
poíesis se desloca para o caráter operário do artista, ainda que gênio
criador. Paralelamente, enquanto o trabalho era vil no mundo antigo, a
filosofia política liberal trata de torná-lo a essência da produção de valor e
centro da atividade humana.
Caderno eletrônico de Ciências Sociais, Vitória, v. 1, n. 1, p. 155-159.
RADOMSKY, Guilherme F. Waterloo 158
Contudo, se o autor da Ideologia alemã permanece no redemoinho da
práxis como atividade humanizadora, intensificando-a como atividade
universal genérica, será Nietzsche quem virá a estilhaçar este problema que
se aprofundou nos planos conceituais quando se percorre o caminho de
Locke a Marx. Para Agamben, o problema da arte não aparece no
pensamento do autor de Zaratustra, pois tudo o que constitui como questão
filosófica é pensamento de arte. Mais ainda: “arte é o nome que ele dá ao
traço essencial da vontade de potência” (p. 149). Talvez Nietzsche tenha
sido aquele que colapsou a arte como essência ou verdade, pois ela, além de
ter mais valor que a verdade, é o pilar que temos – como humanos – para
não afundarmos frente à verdade, reflete Agamben. Portanto, estaria na
realização total da arte na vida, a epifania no seu extremo, sua afronta ao
niilismo?
Em determinadas passagens do livro, ser humano e pro-duzir arte
entram em certa indecidibilidade. “O dom da arte é, portanto, o dom mais
original, porque é o dom do próprio sítio original do homem” (p. 164). A
obra de arte não seria nem um “valor” cultural nem um objeto privilegiado a
ser fruído pelo espectador; ela está em uma dimensão mais essencial,
“porque permite ao homem, a cada vez, ter acesso à sua estatura original
na história e no tempo” (p. 164).
Para além da genealogia crítica que concede ao pensamento kantiano
o poder da reviravolta em que o homem de conteúdo dominará o exercício
de julgamento do belo e de afirmação ontológica sobre o que seja a estética,
a preocupação de Agamben é também indagar o que ocorreu entre a
emergência da modernidade e o colapso da experiência tradicional. Nada
melhor que a própria arte para se perceber o ponto de mutação de uma
época. O que ela permitiria num mundo de transformações e nas quais o
destino da obra artística se confronta com seu “fim”, sua perpetuação como
ironia e sua falta de definição? Caso tudo possa assumir estatuto artístico,
poder-se-ia indagar se nada pode ser arte. Recuperando mais uma vez os
escritos de Benjamin, agora a leitura sobre a aura e a modernidade em
Baudelaire, Agamben responde que a arte perde sua autoridade e a garantia
que derivavam de seu pertencimento às tradições, para as quais ela servia
de ponte entre passado e presente. Entretanto, sem abandonar a sua
autenticidade, ela se torna “o espaço em que se cumpre o mais inefável dos
mistérios: a epifania da beleza estética” (p. 172). Irrompe a sensação de
que o argumento a ser destruído retorna com toda a força agora.
Parcialmente, mas observamos que a arte passa então a ser o elo unificador
da experiência, ao mesmo tempo que se atualiza como o signo da
impossibilidade desta mesma experiência.
Caderno eletrônico de Ciências Sociais, Vitória, v. 1, n. 1, p. 155-159.
159 Renunciando às garantias da Verdade
Reinventar uma nova autoridade para a arte é refletir sobre sua tarefa
de apontar para a intransmissibilidade da cultura como um novo valor, pois
é o choque a característica da modernidade; a arte quer sobreviver à ruína
da tradição e ela própria se coloca neste interstício da impossibilidade de
transmitir. Signo do estilhaço, lampejo de conexão, ponto nevrálgico do que
é ser humano, ícone da perda da transmissão da tradição, para Agamben a
arte é o “último liame que ainda une o homem ao seu passado” (p. 173). O
livro termina ao nos dizer que “[T]ransformando em procedimento poético o
princípio do atraso do homem frente à verdade e renunciando às garantias
do verdadeiro por amor à transmissibilidade, a arte consegue, assim [...]
fazer da incapacidade do homem de sair do seu estado histórico
permanentemente suspenso no intermundo entre velho e novo, passado e
futuro, o espaço mesmo no qual ele pode ganhar a medida original da
própria demora no presente e reencontrar a cada vez o sentido da sua ação”
(p. 184).
A arte, neste ponto de vista, parece assumir um rol semelhante ao
anjo da história (Angelus Novus), personagem conceitual inspirado em Klee
que surge na tese número nove de Walter Benjamin (“Sobre o conceito de
história”). Teria ela força para acordar os mortos e juntar os fragmentos,
reerguer a teia rompida entre presente e passado? Como sabemos, do
paraíso sopra uma tempestade que impele o anjo da história num
movimento irresistível para o futuro e ele somente testemunha o amontoar
de ruínas do passado. Como tarefa que pode ser própria da arte, entretanto,
é possível que ela não se canse de nos expor simultaneamente à perda e à
tentativa de transmissibilidade da experiência.
Caderno eletrônico de Ciências Sociais, Vitória, v. 1, n. 1, p. 155-159.
Você também pode gostar
- Benjamin Arte Hipermodernidade Artigo3Documento35 páginasBenjamin Arte Hipermodernidade Artigo3luizgeremiasAinda não há avaliações
- Lebrun, Gerard - A mutação da obra de arteDocumento14 páginasLebrun, Gerard - A mutação da obra de artelucianogattiAinda não há avaliações
- RESENHA BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: ADORNO et al. Teoria da Cultura de massa. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 221254.Documento3 páginasRESENHA BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: ADORNO et al. Teoria da Cultura de massa. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 221254.Zé Luiz Cavalcanti0% (1)
- Introdução a Giorgio Agamben: Uma arqueologia da potênciaNo EverandIntrodução a Giorgio Agamben: Uma arqueologia da potênciaAinda não há avaliações
- Diálogos Com o Expressionismo PDFDocumento17 páginasDiálogos Com o Expressionismo PDFRenan Claudino VillalonAinda não há avaliações
- O fim da arte segundo Arthur DantoDocumento3 páginasO fim da arte segundo Arthur DantoJane Teixeira AlvinoAinda não há avaliações
- Arte como mercadoriaDocumento6 páginasArte como mercadorialoser67Ainda não há avaliações
- Nietzsche e a relação arte-espectador na modernidadeDocumento7 páginasNietzsche e a relação arte-espectador na modernidadePaulaBraga68Ainda não há avaliações
- Arte contra massasDocumento2 páginasArte contra massaslacan50% (1)
- A estética da abertura em SaramagoDocumento17 páginasA estética da abertura em SaramagoRicardo LimaAinda não há avaliações
- A Arte e Outros Inutensílios (Paulo Leminski)Documento8 páginasA Arte e Outros Inutensílios (Paulo Leminski)sisanpecasAinda não há avaliações
- Arte inútil e livre segundo Paulo LeminskiDocumento4 páginasArte inútil e livre segundo Paulo LeminskiwillianqueirozAinda não há avaliações
- Artigo - Arte para Além Da Estética - Arte Contemporânea e o Discurso Dos ArtistasDocumento13 páginasArtigo - Arte para Além Da Estética - Arte Contemporânea e o Discurso Dos ArtistasFip Nanook FipAinda não há avaliações
- A morte da arte e o nascimento da modernidadeDocumento8 páginasA morte da arte e o nascimento da modernidadeLuis Thiago Freire DantasAinda não há avaliações
- A Narrativa Na Época Pós-Histórica : M. Fátima BonifácioDocumento18 páginasA Narrativa Na Época Pós-Histórica : M. Fátima BonifácioAnonymous wTr46d2qAinda não há avaliações
- Natureza-morta: reflexão poética e fotográficaDocumento16 páginasNatureza-morta: reflexão poética e fotográficaJéssica de AguiarAinda não há avaliações
- Cotidiano e arte em Lukács: o debate entre Lukács, Adorno e GoldmannDocumento10 páginasCotidiano e arte em Lukács: o debate entre Lukács, Adorno e GoldmannHércules VianaAinda não há avaliações
- Arte pela arte ou arte a serviço de algoDocumento8 páginasArte pela arte ou arte a serviço de algoMad_TricksterAinda não há avaliações
- Kant - Por Uma Arte Militante - Philippe Campos - Proposta de Trabalho para o Colóquio Arte e A Hipótese ComunistaDocumento6 páginasKant - Por Uma Arte Militante - Philippe Campos - Proposta de Trabalho para o Colóquio Arte e A Hipótese ComunistaphilipeAinda não há avaliações
- Arte é construção: reflexões sobre a natureza e funções da arteDocumento5 páginasArte é construção: reflexões sobre a natureza e funções da arteLucas Oliver100% (1)
- Nísio Teixeira - Arthur Danto Vai Ao CinemaDocumento6 páginasNísio Teixeira - Arthur Danto Vai Ao CinemaRicardo NogueiraAinda não há avaliações
- Andy Warhol e Aglutinação Do Pós-Moderno Altair MartinsDocumento13 páginasAndy Warhol e Aglutinação Do Pós-Moderno Altair Martinsaltair martinsAinda não há avaliações
- Arte No Pensamento de Aristoteles9pp Fernando SantoroDocumento9 páginasArte No Pensamento de Aristoteles9pp Fernando SantoroZubaloAinda não há avaliações
- ArteFilosofiaAlémEstéticaDocumento11 páginasArteFilosofiaAlémEstéticaChrystian RoosAinda não há avaliações
- MortesrecentesdaarteDocumento10 páginasMortesrecentesdaartefmilbratzAinda não há avaliações
- Arte e Artesanato e Arte PopularDocumento15 páginasArte e Artesanato e Arte PopularBiso Gisolfi100% (1)
- Arte, tecnologia e sociedade na obra de Giulio Carlo ArganDocumento48 páginasArte, tecnologia e sociedade na obra de Giulio Carlo ArganSamuel Otaviano67% (3)
- BENJAMIN, Walter. KafkaDocumento38 páginasBENJAMIN, Walter. KafkaRenan FerreiraAinda não há avaliações
- O experimentalismo citacionista de PortinariDocumento21 páginasO experimentalismo citacionista de PortinariSofía OteguiAinda não há avaliações
- Diálogo entre Mário de Andrade e João Cabral sobre arte e artesanatoDocumento15 páginasDiálogo entre Mário de Andrade e João Cabral sobre arte e artesanatoFelipe Berocan VeigaAinda não há avaliações
- Mirian Tavares - Surrealismo PDFDocumento27 páginasMirian Tavares - Surrealismo PDFYujdi IdaAinda não há avaliações
- A Arte É AlegreDocumento4 páginasA Arte É AlegreDiogo Faleiros PortelaAinda não há avaliações
- A função da arte segundo a estética marxistaDocumento58 páginasA função da arte segundo a estética marxistacristieli GonçalvesAinda não há avaliações
- História da Arte: introduçãoDocumento24 páginasHistória da Arte: introduçãoLeticia Brasil FreitasAinda não há avaliações
- Artes Pensantes e IncomparaveisDocumento35 páginasArtes Pensantes e IncomparaveisJhon Alexander Barreto GuerraAinda não há avaliações
- Teixeira CoelhoDocumento11 páginasTeixeira CoelhoLucas MurariAinda não há avaliações
- Ética e estética na era neo-liberalDocumento8 páginasÉtica e estética na era neo-liberalGilson SantosAinda não há avaliações
- O que é arte? Segundo Aristóteles e PlatãoDocumento6 páginasO que é arte? Segundo Aristóteles e PlatãoBruno MartinsAinda não há avaliações
- A Arte como OfícioDocumento23 páginasA Arte como OfícioPeter Pereira Marques100% (1)
- Susan Buck Morss - Estetica Anestetica - Benjamin Magia Percepcao2 PDFDocumento48 páginasSusan Buck Morss - Estetica Anestetica - Benjamin Magia Percepcao2 PDFeduardo100% (1)
- LyotardDocumento12 páginasLyotardTrojaikeAinda não há avaliações
- A Arte no Campo da Cultura HumanaDocumento23 páginasA Arte no Campo da Cultura HumanaNara AmeliaAinda não há avaliações
- A Função Da Arte FichamentoDocumento3 páginasA Função Da Arte FichamentoKatherine LopesAinda não há avaliações
- Guilherme BuenoDocumento12 páginasGuilherme BuenoBrunoandrade1Ainda não há avaliações
- Doispontos Arte e Seus Fins PDFDocumento170 páginasDoispontos Arte e Seus Fins PDFjoaow95Ainda não há avaliações
- Literatura, espelho da AméricaDocumento9 páginasLiteratura, espelho da AméricalLuA ValoisAinda não há avaliações
- A estética da fantasmagoria no capitalismoDocumento8 páginasA estética da fantasmagoria no capitalismoMatheus HenriqueAinda não há avaliações
- Aby Warburg: imagens entre antropologia e arteDocumento23 páginasAby Warburg: imagens entre antropologia e arteDiana Proença MódenaAinda não há avaliações
- Os Processos de Desmaterialização Do Objeto Artístico e A Dissolução Dos Limites Entre Arte e VidaDocumento16 páginasOs Processos de Desmaterialização Do Objeto Artístico e A Dissolução Dos Limites Entre Arte e VidabonilhacarolineAinda não há avaliações
- A estética do pós-modernismo como paródia da vanguarda revolucionáriaDocumento16 páginasA estética do pós-modernismo como paródia da vanguarda revolucionárialucaskuntzAinda não há avaliações
- A auto-superação da arte no momento hegeliano da estéticaDocumento11 páginasA auto-superação da arte no momento hegeliano da estéticaNatalino OliveiraAinda não há avaliações
- As Estéticas e Suas Definições Da ArteDocumento15 páginasAs Estéticas e Suas Definições Da ArteWalmirRodriguesAinda não há avaliações
- A arte como única salvação do mundoDocumento21 páginasA arte como única salvação do mundoSofia VermelhoAinda não há avaliações
- Reflexões sobre o modernismo na pintura e literaturaDocumento8 páginasReflexões sobre o modernismo na pintura e literaturaDumanginAinda não há avaliações
- ArteDocumento8 páginasArteBebel Isabel SiqueiraAinda não há avaliações
- Alunos Estética No Enem Filosofia 2Documento84 páginasAlunos Estética No Enem Filosofia 2Ronald Honorio de SantanaAinda não há avaliações
- Arte BotânicaDocumento73 páginasArte BotânicaSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Planejamento Práticas Artisticas 2023Documento8 páginasPlanejamento Práticas Artisticas 2023Sb Dos SantosAinda não há avaliações
- Resenha Vida ContemplativaDocumento16 páginasResenha Vida ContemplativaSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Nietzsche Contra A DomesticaçãoDocumento27 páginasNietzsche Contra A DomesticaçãoSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Planejamento Por ÁreasDocumento1 páginaPlanejamento Por ÁreasSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Ensino Artes 3o EMDocumento4 páginasEnsino Artes 3o EMSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Planejamento Práticas Artisticas 2023Documento8 páginasPlanejamento Práticas Artisticas 2023Sb Dos SantosAinda não há avaliações
- Projeto de Vida 1 - 2 AnoDocumento6 páginasProjeto de Vida 1 - 2 AnoSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Ruínas Da Cor:: Poéticas Pictóricas Do TempoDocumento115 páginasRuínas Da Cor:: Poéticas Pictóricas Do TempoSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Plano de AulaDocumento6 páginasPlano de AulaSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Tese MHFDocumento215 páginasTese MHFSb Dos SantosAinda não há avaliações
- A Sublime Solidão e o Espírito Livre 1Documento11 páginasA Sublime Solidão e o Espírito Livre 1Sb Dos SantosAinda não há avaliações
- Planner gratuito para organizar sua rotina e inspirar seus diasDocumento2 páginasPlanner gratuito para organizar sua rotina e inspirar seus diasJúlia TarsilaAinda não há avaliações
- Proposta de discussão sobre sexualidade em escola de TaguatingaDocumento150 páginasProposta de discussão sobre sexualidade em escola de TaguatingaSb Dos SantosAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento5 páginas1 PBSb Dos SantosAinda não há avaliações
- As 10 Criações Mais Impressionantes de Vik MunizDocumento12 páginasAs 10 Criações Mais Impressionantes de Vik MunizSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Aprender o Conceito de Retrato A Partir deDocumento7 páginasAprender o Conceito de Retrato A Partir deSb Dos SantosAinda não há avaliações
- Imagem e EstranhamentoDocumento8 páginasImagem e EstranhamentoSb Dos Santos100% (1)
- A Sublime Solidão e o Espírito Livre 1Documento11 páginasA Sublime Solidão e o Espírito Livre 1Sb Dos SantosAinda não há avaliações
- Laura Lima - Carne e Sensação1Documento9 páginasLaura Lima - Carne e Sensação1Sb Dos SantosAinda não há avaliações
- Antes Imersivas - Artigo Final1Documento15 páginasAntes Imersivas - Artigo Final1Sb Dos SantosAinda não há avaliações
- A Condicao Politica Pos Moderna Agnes Heller PDFDocumento219 páginasA Condicao Politica Pos Moderna Agnes Heller PDFRodrigo SoaresAinda não há avaliações
- 308 970 1 SMDocumento16 páginas308 970 1 SMThiago Cardassi SanchesAinda não há avaliações
- A LIBERDADE CRISTÃ EM CALVINO, Tese de Doutorado PDFDocumento418 páginasA LIBERDADE CRISTÃ EM CALVINO, Tese de Doutorado PDFalexsandro1984Ainda não há avaliações
- NOLASCO, Edgar Cézar. POR UMA GRAMÁTICA PEDAGÓGICA DA FRONTEIRA-SULDocumento21 páginasNOLASCO, Edgar Cézar. POR UMA GRAMÁTICA PEDAGÓGICA DA FRONTEIRA-SULMarcio BresolinAinda não há avaliações
- Currículo da Educação Básica - Competências e Conceitos EstruturantesDocumento36 páginasCurrículo da Educação Básica - Competências e Conceitos EstruturantesGabriel da RosaAinda não há avaliações
- Políticas da fome no Brasil e o paradigma de HabermasDocumento40 páginasPolíticas da fome no Brasil e o paradigma de HabermasRobertoAinda não há avaliações
- Rimbaud, o Estranho - Caio MeiraDocumento10 páginasRimbaud, o Estranho - Caio MeiraAllison Duarte BarbosaAinda não há avaliações
- PSS - Observações 4º RelatorioDocumento10 páginasPSS - Observações 4º RelatorioYasmin Michelino FontesAinda não há avaliações
- Patriarcado e Sociedade Da Mercadoria - Roswitha ScholzDocumento20 páginasPatriarcado e Sociedade Da Mercadoria - Roswitha ScholzcrisAinda não há avaliações
- Poesia Brasileira Contemporânea Algumas Notas p.98 129Documento32 páginasPoesia Brasileira Contemporânea Algumas Notas p.98 129RodrigoPetit29Ainda não há avaliações
- Linha Do Tempo Historia Da ArteDocumento1 páginaLinha Do Tempo Historia Da Arteana karita78% (9)
- O Direito Na Sociedade Moderna de Roberto Mangabeira UngerDocumento43 páginasO Direito Na Sociedade Moderna de Roberto Mangabeira UngerEdson CruzAinda não há avaliações
- Cultura, tempos de vida, direitos de aprendizagem e inclusão na Escola CuiabanaDocumento258 páginasCultura, tempos de vida, direitos de aprendizagem e inclusão na Escola CuiabanaSidney Junior100% (10)
- Miolo A Escuta Da AldeiaDocumento88 páginasMiolo A Escuta Da AldeiaThais Silva Araújo de SousaAinda não há avaliações
- Pacote Aula 01 CPTEDocumento1 páginaPacote Aula 01 CPTECaroline TrogildoAinda não há avaliações
- A análise de Baudelaire sobre a modernidade e a burguesiaDocumento4 páginasA análise de Baudelaire sobre a modernidade e a burguesiaKim SousaAinda não há avaliações
- A Modernidade em Guiomard Santos - Maria EvanildeDocumento93 páginasA Modernidade em Guiomard Santos - Maria EvanildeJanainasouzasilvaAinda não há avaliações
- Há Algo de Mim em VocêDocumento206 páginasHá Algo de Mim em VocêArthur Barros de FrançaAinda não há avaliações
- O que é o Direito? Primeira Lição sobre os Conceitos FundamentaisDocumento22 páginasO que é o Direito? Primeira Lição sobre os Conceitos FundamentaisElianeDemolinerAinda não há avaliações
- A gramática social da desigualdade brasileiraDocumento19 páginasA gramática social da desigualdade brasileiramateustgAinda não há avaliações
- Cultura Do Medo e Criminalizacao Seletiva No Brasil - Wermuth, Maiquel DezordiDocumento91 páginasCultura Do Medo e Criminalizacao Seletiva No Brasil - Wermuth, Maiquel DezordiRosane SilveiraAinda não há avaliações
- Estudos Socioantropologicos - UNID4Documento29 páginasEstudos Socioantropologicos - UNID4Dennison SiqueiraAinda não há avaliações
- RÜSEN - História Entre A Modernidade e PosmodernidadeDocumento18 páginasRÜSEN - História Entre A Modernidade e PosmodernidadeJuliana GelbckeAinda não há avaliações
- LIMA VAZ. Modernidade Filosófica e ReligiãoDocumento19 páginasLIMA VAZ. Modernidade Filosófica e ReligiãoThiago martins moura100% (1)
- Estudo Dirigido 03 - A Preservação Dos Valores HumanosDocumento4 páginasEstudo Dirigido 03 - A Preservação Dos Valores HumanosGilmar AlbuquerqueAinda não há avaliações
- CPPG - Centro de Pesquisa e Pós-Graduação Conteúdo ProgramáticoDocumento4 páginasCPPG - Centro de Pesquisa e Pós-Graduação Conteúdo ProgramáticoPedro Fernandes GaléAinda não há avaliações
- Debates sobre modernidade e transformações sociaisDocumento14 páginasDebates sobre modernidade e transformações sociaisThais UedaAinda não há avaliações
- Identidade Diferenca e RacismoDocumento424 páginasIdentidade Diferenca e RacismoPricila Mota100% (3)
- African Intellectuals and Post-Colonial StudiesDocumento32 páginasAfrican Intellectuals and Post-Colonial StudiesSilvana CarvalhoAinda não há avaliações
- Arquitetura moderna em Campina Grande (1940-1970Documento205 páginasArquitetura moderna em Campina Grande (1940-1970Italo TavaresAinda não há avaliações
- Uma viagem pelo cérebro: A via rápida para entender neurociência: 1ª edição revisada e atualizadaNo EverandUma viagem pelo cérebro: A via rápida para entender neurociência: 1ª edição revisada e atualizadaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (13)
- Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimentoNo EverandCaminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimentoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (6)
- O homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNo EverandO homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (16)
- Águas no deserto: Encontrando Refrigério para os sedentosNo EverandÁguas no deserto: Encontrando Refrigério para os sedentosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Mentes únicas: Aprenda como descobrir, entender e estimular uma pessoa com autismo e desenvolva suas habilidades impulsionando seu potencialNo EverandMentes únicas: Aprenda como descobrir, entender e estimular uma pessoa com autismo e desenvolva suas habilidades impulsionando seu potencialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Introdução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNo EverandIntrodução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Piaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNo EverandPiaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Carnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNo EverandCarnavais, malandros e heróis: Para uma sociologia do dilema brasileiroNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Escola dos Deuses: Formação dos líderes da nova EconomiaNo EverandEscola dos Deuses: Formação dos líderes da nova EconomiaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (7)
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (8)
- Neurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNo EverandNeurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)
- Limite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNo EverandLimite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- História dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesNo EverandHistória dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesAinda não há avaliações
- Patologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNo EverandPatologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnicaNo EverandA obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnicaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Superando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNo EverandSuperando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNota: 5 de 5 estrelas5/5 (7)
- Metodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNo EverandMetodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Pense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNo EverandPense Como Um Gênio: Os Sete Passos Para Encontrar Soluções Brilhantes Para Problemas ComunsNota: 4 de 5 estrelas4/5 (27)
- Dinâmicas de grupo: Ampliando a capacidade de interaçãoNo EverandDinâmicas de grupo: Ampliando a capacidade de interaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Metodologia da Pesquisa: Do Projeto ao Trabalho de Conclusão de CursoNo EverandMetodologia da Pesquisa: Do Projeto ao Trabalho de Conclusão de CursoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (2)