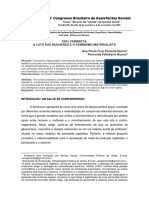Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Sociedade de Risco e o Racismo Ambiental
Enviado por
Thiago Willyanov SmutnyTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Sociedade de Risco e o Racismo Ambiental
Enviado por
Thiago Willyanov SmutnyDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A SOCIEDADE DE RISCO E O RACISMO AMBIENTAL
Thiago Willy, IFCS/UFRJ
Nas estruturas teóricas clássicas da sociologia, o “meio ambiente” era
normalmente apresentado como um conceito periférico e não central na teorização social.
Embora os sociólogos clássicos, como Max Weber, Karl Marx, Émile Durkheim e George
Simmel, tinham uma ideia de uma dinâmica não-intencional da modernização capitalista
que muda e ameaça seus próprios fundamentos, como as consequências da exploração
constante dos recursos naturais, eles não pensaram o papel central do meio ambiente nas
transformações das próprias concepções de “sociedade”. Nessa concepção clássica, o
objeto da sociologia era principalmente feito de laços ou relações humanas estabelecidas,
desprendido do ambiente natural e seus processos. Este último foi reservado como objeto
das ciências da natureza. Diante disso, a maneira pela qual a sociologia foi historicamente
definida, em relação a disciplinas concorrentes como a biologia e a psicologia, relegou as
questões sobre o meio ambiente para as margens (Benton, 1994). Havia uma necessidade
de tornar a sociologia uma disciplina separada com um objeto distinto, isolando-a da
biologia e do reino natural (Durkheim, 1982 [1895]). Para tal, era preciso extrair
analiticamente o “social” de seu contexto ambiental, ao qual foi possibilitado
historicamente pela emergência da sociedade moderna industrial, que parecia superar as
restrições ecológicas e evidenciar a capacidade humana de controlar e explorar o mundo
biofísico (Goldblatt, 1996).
Nessa época, era comum pensar que os avanços tecnológicos tinham apenas
efeitos positivos na sociedade, estimulando o progresso material e científico. O meio
ambiente era presumido como capaz de absorver quaisquer doenças associadas à
modernização e, assim, não teria impacto nos fenômenos sociais. Esse era o espírito
humanista e bifurcado do surgimento da sociologia, que Ulrich Beck (2003) chamou de
“primeira modernidade”. Esse modo de fazer sociologia ainda permaneceu na geração de
sociólogos clássicos do pós-guerra, como Talcott Parsons (1965). A narrativa da
modernização do pós-guerra ainda pressupôs a separação entre forças “naturais” e
“sociais”, entre natureza e sociedade. No entanto, os riscos ambientais, na verdade,
demonstra e reforça exatamente o oposto, ou seja, uma extensão contínua e
aprofundamento de combinações, confusões e “misturas” de natureza e sociedade.
A emergência e a proliferação de riscos e perigos ambientais induzidos
antropogenicamente, trazendo aquilo que Bruno Latour (2013) chamou de objetos ou
processos “híbridos”, que borram as fronteiras entre natureza e sociedade, trouxe a
necessidade de revisar essas estruturas teóricas clássicas da sociologia. A emergência
dessa nova espécie de problema sociológico mostrou que “longe de transcender as
restrições ecológicas, as sociedades modernas estavam adquirindo outras de sua própria
criação” (Goldblatt, 1996). Muitos dos riscos globais que enfrentamos — tais como efeito
estufa, destruição da camada de ozônio, chuva ácida e doenças virais — trouxe a
necessidade de colocar o meio ambiente como uma variável central na teorização
sociológica. Além disso, segundo Beck, a proliferação intensificada da tecnologia e a
crise ecológica tornou a oposição entre natureza e sociedade questionável, pois, na
realidade, esses fenômenos se cruzam e dissolvem essa oposição. Assim, “aquilo que
chamamos de natureza há muito se integrou ao processo de industrialização e vem se
transformando em riscos e perigos que são negociados no processo de socialização e se
desdobram em uma dinâmica política autônoma” (Beck, 2003). Ele denomina esse novo
estado de coisas de “sociedade de risco”, característico daquilo que ele também
denominou de “segunda modernidade” ou “modernização reflexiva”, marcados pelos
processos de globalidade e individualização.
A globalidade refere-se à origem e textura cada vez mais transnacional da
experiência, presente nas rotinas da vida cotidiana cada vez mais definidas pelo ecletismo
cultural e nas identidades cada vez mais moldada por um “cosmopolitismo banal”. Já a
individualização refere-se a um processo inter-relacionado em que a agência individual,
o exercício da escolha, tornou-se essencial para quem somos e a atrator básico da estrutura
social, substituindo a classe, o estado-nação e os chamados “conceitos zumbis”
semelhantes que forneciam pontos fixos de navegação para a identidade. Uma vez
deslocados, somos impelidos a um processo experimental e multifacetado de
individualização, definindo experiências dinâmicas, transitórias e desterritorializadas.
Assim, para Beck, o amadurecimento do capitalismo neoliberal global articulou
sociologicamente uma experiência cada vez mais transnacional do processo de
globalização, onde a tecnologia e o risco ambiental são os pilares estruturantes desse
novo estágio da modernidade.
Essa sociedade de risco é dominada pelos perigos e ameaças potenciais
desencadeados pelas forças produtivas sociais que ultrapassam os contornos da sociedade
industrial clássica do Estado-nação. Nesse contexto, os pensamentos e as ações dos
indivíduos são organizados para evitar e calcular riscos, e não só para acumular riquezas.
Embora os seres humanos fossem relativamente eficazes no controle do meio ambiente,
antecipando e atenuando os perigos naturais, os perigos estão cada vez mais ligados aos
riscos tecnológicos decorrentes de forças antropogênicas invisíveis, imensuráveis e
colaterais. Não são mais os perigos pré-industriais, considerados “golpes do destino que
caíam sobre a humanidade ‘de fora’ e atribuíveis a um ‘outro’ — deuses, demônios ou a
Natureza”, mas os efeitos globais não-previstos dos “riscos industriais na tomada de
decisões”, surgindo o problema da responsabilidade social (Beck, 1992). Nesse sentido,
as consequências do avanço científico já não passam despercebidas. A sociedade está se
tornando cada vez mais consciente dos riscos criados pela modernização. A degradação
ambiental não ocorre mais fora do nosso campo de visão. Simultaneamente a essa
crescente conscientização social dos riscos, de acordo com Beck, está a desmistificação
da “racionalidade científica”. Assim, a modernização reflexiva também significa que os
perigos e riscos dos empreendimentos e instituições científicas não estão mais protegidas
da desconfiança, emergindo um processo multifacetado de individualização e
experiências organizacionais de lidar com os riscos. É diante dessa individualização
institucionalizada que Beck vai sugerir que a ameaça dos riscos atravessa as linhas de
classe e, portanto, a desigualdade de classe, típica da sociologia clássica, está sendo
substituída pela desigualdade da distribuição de riscos.
Nesse sentido, colocar o “meio ambiente” no centro da sociologia significa
também vinculá-lo internamente na dinâmica de poder e conflito das desigualdades
sociais de outra maneira (Beck, 2010). É necessário romper com o quadro de referência
do “produto social bruto” ou da “renda per capita” na concepção de desigualdade social.
É preciso se concentrar na conjunção entre “pobreza, vulnerabilidade social, corrupção,
acúmulo de perigos e perda de dignidade em escala global”, onde “situações de vida e
chances de vida, antes avaliadas dentro do horizonte de uma desigualdade confinada ao
Estado-nação, estão se transformando em situações de sobrevivência ou chances de
sobrevivência na sociedade mundial de risco” (ibid.). Para Beck, a categoria de
“vulnerabilidade” é central. Pois, de acordo com ele, alguns países ou grupos são capazes
de absorver até certo ponto desastres ambientais, outros, não privilegiados na escala de
vulnerabilidade social, vivenciam o colapso da ordem social e a escalada da violência
(Beck, 2009).
No entanto, apesar de Beck reconhecer que os perigos ambientais exacerba as
desigualdades existentes entre pobres e ricos, entre o centro e a periferia, ele também
acredita que as dissolve. Para ele, quanto maior a ameaça planetária, menor a
possibilidade de que mesmo os mais ricos e poderosos a evitem. Isso sugere que, embora
hierárquicas, as ameaças ambientais sistemáticas e globais tornam-se relativamente
igualitárias e, em certo sentido, “democráticas” (Beck, 1992). Os conflitos de risco são,
assim, “além da classe e do status”, impulsionados por “coalizões de ansiedade” em vez
da classe social. Na sociedade de risco, mesmo os ricos não estão a salvo dos efeitos
colaterais do processo de modernização; o perpetrador e a vítima, mais cedo ou mais
tarde, tornam-se “iguais”. Assim, mesmo que ele reconheça que na sociedade de risco
ocorra um atrito entre os que lucram com os riscos e os que são afligidos pelos riscos, em
última análise ele afirma que muitos dos riscos globais não obedecem a fronteiras
definidas juridicamente ou divisões de classe e, portanto, acredita que esses riscos afetam
todos os membros igualmente, reestruturando a sociedade de classe tradicional. Ele
negligencia qualquer discussão significativa sobre como os perigos e riscos localizados
tendem a reforçar estruturalmente as divisões de classe e/ou raça, e não transcendê-las.
No contexto do chamado capitalismo neoliberal, existem razões econômicas para as
corporações transnacionais localizarem indústrias perigosas em comunidades de baixo
nível socioeconômico com certo grupo racial preponderante, pois historicamente esse tem
sido o caminho de menor resistência. As ciências sociais contemporâneas estão repletas
de estudos que encontram evidências de injustiças ambientais. Pessoas de baixo nível
socioeconômico e pessoas de cor são expostas sistemática e desproporcionalmente aos
perigosos subprodutos da modernização, enquanto recebem apenas uma fração pequena
dos benefícios. Tal fenômeno reforça a necessidade de trazer uma perspectiva
intersecional para abordar o cruzamento de experiências locais assimétricas da sociedade
de risco. Os efeitos multidimensionais das experiências vividas pelos indivíduos e os
processos pelos quais as políticas baseadas em risco e as redes institucionais perpetuam
a desigualdade de maneiras complexas (Hae Yeon e Ferree, 2010) permanecem
subdesenvolvidos na teorização do risco.
As abordagens clássicas de foco único ou aditivo sobre os fenômenos sociais
(por exemplo, raça, gênero ou classe) deixaram pouco espaço para abordar problemas
complexos, tais como aqueles induzidos ou exacerbados pelas crises ecológicas, exigindo
uma abordagem mais interseccional desses fenômenos. A interseccionalidade tem como
base filosófica as críticas pós-estruturalistas do sujeito como descentrado e seu foco nas
imbricações de categorias sociais múltiplas e diferencialmente significativas; a
compreensão das identidades, muitas vezes tidas como certas, como o produto de eixos
de diferença múltiplos e multicamadas. Nos estudos sociais, essa abordagem observa
como as categorias sociais como gênero, raça, classe, idade, deficiência e orientação
sexual se cruzam para impulsionar e exacerbar o privilégio, a discriminação e a opressão
social (Collins, 2022). Nesse sentido, a interseccionalidade é uma lente conceitual central
para entender como várias formas de desigualdades e vulnerabilidades sociais se
interconectam e se sobrepõem umas às outras. Com raízes no feminismo negro, essa teoria
postula que diferentes identidades sociais — gênero, raça, classe socioeconômica, etc. —
se imbricam para criar modos únicos de desvantagem e opressão (Crenshaw, 2017). No
entanto, a interseccionalidade não diz respeito apenas às categorias de identidades, mas
também abarca as complexidades essenciais para entender as desigualdades sociais,
políticas e estruturais enraizadas, que se traduzem em diferentes tipos de
vulnerabilidades, necessidades e responsabilidades de cuidado desiguais entre as
populações. Integrada na teoria e pesquisa sobre a “sociedade de risco”, a
interseccionalidade está cada vez mais lançando luz sobre os sistemas sobrepostos e
interligados de desvantagem e opressão que restringem a capacidade de certas indivíduos
de lidar com os riscos ambientais e criam novas ou reforçam vulnerabilidades
socioecológicas existentes. A razão para isso, como mencionado, é que a
interseccionalidade recusa a seleção de uma categoria particular como determinante da
experiência do risco em favor da compreensão das dimensões sobrepostas da
desigualdade como sendo constitutivas do risco. Implícito nisso está a compreensão de
que diferentes dimensões de categorias imbricadas de opressão importam de forma
diferente conforme o contexto.
Uma das implicações dessa abordagem, então, é visualizar aquilo que foi
denominado de racismo ambiental. Racismo ambiental, segundo Benjamin Chavis,
criador do termo, é a “discriminação racial na formulação de políticas ambientais, na
aplicação de regulamentos e leis, no direcionamento deliberado de comunidades de cor
para instalações de lixo tóxico, na sanção oficial da presença de venenos e poluentes com
risco de vida nessas comunidades”. Os processos simultâneos de globalização e
neoliberalização econômica impulsionou a concentração de indústrias sujas em
localizações periféricas, locais frequentemente caracterizados por pessoas de menores
níveis socioeconômicos e por abrigarem populações de grupos étnicos e raciais
minoritários (as “pessoas de cor”). Essa mobilidade do capital transnacional mantém
relações legitimadoras de subordinação (entre os países periféricos e centrais, e entre as
populações periféricas e a elite transnacional) diante das autoridades públicas na medida
em que adia o impacto da degradação ambiental e das desigualdades sociais nos países
centrais. O acesso a medicamentos, saneamento e boa alimentação, por exemplo,
distribuídos de forma diferenciada por sexo, faixas etárias e etnia em muitos países, é um
fator determinante na probabilidade de se infectar com tuberculose, assim como a moradia
precária. Isso mostra não apenas que a degradação ambiental desproporcional em
localizações periféricas está diretamente ligada à reconfiguração estrutural global e à
agenda neoliberal do capital transnacional, mas, e principalmente, que essa degradação
também tem um caráter constitutivo de classe, raça e etnia, evidenciando uma
desigualdade mais estrutural nas experiências dos riscos.
Diante disso, podemos ver que trazer a interseccionalidade mais diretamente
para a teoria da “sociedade de risco” pode esclarecer como essas novas configurações dos
riscos ambientais produzem novas desigualdades enquanto mantém velhas estruturas, tal
como o racismo. Levanta a importância conceitual de integrar a teoria da “sociedade de
risco” com a interseccionalidade para avaliar como o risco e várias formas de
desigualdade se cruzam e são mutuamente constitutivos. Mas isso mostra algo mais
profundo na estrutura teórica da sociologia em si. Embora a nova abordagem sociológica
de Beck nos leve a repensar os pressupostos conceituais da sociologia clássica e aponte
para a necessidade de incluir o “meio ambiente” como um conceito central na construção
da teoria, ele ainda mantém resquícios do “imperialismo conceitual” eurocêntrico que ele
próprio critica (Beck, 2003). Ele não contemplou suficientemente como os fenômenos da
globalização e individualização intensificou as desigualdades sociais, que beneficiam os
países centrais e a elite transnacional, enquanto os países periféricos e as classes
subordinadas enfrentam cada vez mais a privação material e a degradação ambiental. Sua
hipotética ausência de classes na sociedade de risco depende da pressuposição de que os
riscos ambientais globais organizam as sociedades modernas de maneira mais ou menos
igualitária, sem distinções de classe ou raça, o que não é empiricamente sustentável. Em
vez disso, os riscos tecnológicos e ambientais têm um impacto diferencial e profundo nas
experiências das comunidades locais e tendem a reforçar as divisões de classe e as
injustiças raciais, como o racismo ambiental. Isso levanta a necessidade de complementar
sua “nova sociologia” com a abordagem da interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw e
Patricia Hill Collins, para então podermos repensar a teoria sociológica tradicional de
maneira mais radical, não apenas dissolvendo e superando seu antropocentrismo, mas
também seu etnocentrismo.
Você também pode gostar
- Ecologia e decolonialidade: Implicações mútuasNo EverandEcologia e decolonialidade: Implicações mútuasAinda não há avaliações
- Educação e Meio Ambiente na Baixada Fluminense: uma proposta de educação ambiental crítica na escola públicaNo EverandEducação e Meio Ambiente na Baixada Fluminense: uma proposta de educação ambiental crítica na escola públicaAinda não há avaliações
- Ulrich Beck - Sociedade de RiscosDocumento5 páginasUlrich Beck - Sociedade de RiscosAmanda F. PaccagnellaAinda não há avaliações
- Sociedade de Risco - Rumo A Uma Outra Modernidade PDFDocumento9 páginasSociedade de Risco - Rumo A Uma Outra Modernidade PDFJeferson PolAinda não há avaliações
- O Legado de Ulrick BeckDocumento12 páginasO Legado de Ulrick BeckFernanda MariaAinda não há avaliações
- Ulrich Beck: A Imanência Do Social e A Sociedade Do RiscoDocumento7 páginasUlrich Beck: A Imanência Do Social e A Sociedade Do RiscoWanderson César100% (1)
- Fichamento - Sociedade de Risco Cap. 1Documento2 páginasFichamento - Sociedade de Risco Cap. 1Victor AlexandreAinda não há avaliações
- RESENHA - A Sociedade de RiscoDocumento5 páginasRESENHA - A Sociedade de RiscoRodrigo Lopes50% (2)
- Resenha Ulrich Beck - Sociedade de RiscoDocumento18 páginasResenha Ulrich Beck - Sociedade de RiscoLuany RodriguesAinda não há avaliações
- Avaliação 2 - Sociologia e Meio AmbienteDocumento8 páginasAvaliação 2 - Sociologia e Meio Ambientej.mielivicolaAinda não há avaliações
- A Teoria Da Sociedade de Risco de Ulrich BeckDocumento10 páginasA Teoria Da Sociedade de Risco de Ulrich BeckmariosapereiraAinda não há avaliações
- Sociedade de Risco Ulrich BeckDocumento10 páginasSociedade de Risco Ulrich BeckMano Manu Manuca ManolitoAinda não há avaliações
- Genero, Vulnerabilidade Das Familias e Capital Social PDFDocumento16 páginasGenero, Vulnerabilidade Das Familias e Capital Social PDFKarol VersianiAinda não há avaliações
- 755-Texto Do Artigo-805-1501-10-20200810Documento14 páginas755-Texto Do Artigo-805-1501-10-20200810Márcia SantosAinda não há avaliações
- Manifesto Ecossocialista InternacionalDocumento6 páginasManifesto Ecossocialista InternacionalLucas Parreira ÁlvaresAinda não há avaliações
- MARANDOLA JR., Eduardo HOGAN, Daniel Joseph - Towards An Interdisciplinary Conceptualisation of VulnerabilityDocumento30 páginasMARANDOLA JR., Eduardo HOGAN, Daniel Joseph - Towards An Interdisciplinary Conceptualisation of VulnerabilityrobertoAinda não há avaliações
- Seminário Vii Antropologia e Sociologia ModeloDocumento5 páginasSeminário Vii Antropologia e Sociologia ModeloElielsonAinda não há avaliações
- Demografia Do Risco AmbientalDocumento21 páginasDemografia Do Risco AmbientallucianageoAinda não há avaliações
- Resenha Parte I e II BECK Ulrich Sociedade de Risco Rumo A Uma Outra ModernidadeDocumento1 páginaResenha Parte I e II BECK Ulrich Sociedade de Risco Rumo A Uma Outra ModernidadeKelly TeixeiratAinda não há avaliações
- Sociedade de Risco - Resenha SociologiaDocumento2 páginasSociedade de Risco - Resenha Sociologialetpalma50% (2)
- Artigo-Julia S. Guivant, A Teoria Da Sociedade de Risco de Ulrich Beck - Entre o Diagnóstico e A ProfeciaDocumento10 páginasArtigo-Julia S. Guivant, A Teoria Da Sociedade de Risco de Ulrich Beck - Entre o Diagnóstico e A ProfeciaMaríliaAinda não há avaliações
- 5 Sessão SRI - A Sociedade Global de Risco - Beck (2019)Documento30 páginas5 Sessão SRI - A Sociedade Global de Risco - Beck (2019)Carlos FreireAinda não há avaliações
- Sociedade, Mass Midia e Direito Penal - Uma ReflexãoDocumento9 páginasSociedade, Mass Midia e Direito Penal - Uma ReflexãoVinicius T. P. PelusoAinda não há avaliações
- Artigo EnAnpad 2021Documento16 páginasArtigo EnAnpad 2021Talita Ravagnã PigaAinda não há avaliações
- Alain Touraine - HelenaDocumento8 páginasAlain Touraine - HelenaIvan Do RosarioAinda não há avaliações
- Apontamentos Sobre o Papel Das Ciencias Sociais para A Compreensao Da Crise AmbientalDocumento8 páginasApontamentos Sobre o Papel Das Ciencias Sociais para A Compreensao Da Crise AmbientalHelio MonteiroAinda não há avaliações
- Os Parâmetros Da Sociedade de RiscoDocumento22 páginasOs Parâmetros Da Sociedade de RiscofilipecavaloAinda não há avaliações
- Manifesto Ecossocialista InternacionalDocumento6 páginasManifesto Ecossocialista InternacionalDaniel Pereira da SilvaAinda não há avaliações
- 3prova de ISOLDocumento3 páginas3prova de ISOLrizamagi9Ainda não há avaliações
- Entrevista. Incertezas Fabricadas - Entrevista Com o Sociólogo Alemão Ulrich BeckDocumento6 páginasEntrevista. Incertezas Fabricadas - Entrevista Com o Sociólogo Alemão Ulrich BeckEric FonsecaAinda não há avaliações
- Fichamento - para Alem Da Esquerda e Da Direita de Giddens (OK)Documento20 páginasFichamento - para Alem Da Esquerda e Da Direita de Giddens (OK)Anderson EAngela de MacêdoAinda não há avaliações
- DA SOCIEDADE INDUSTRIAL À SOCIEDADE DE RISCO - ABORDAGENS ACERCA DA RELAÇÃO DIRETA E PROPORCIONAl ENTRE ATIVIDADE ECONÔMICA E AUMENTO DO RISCO ECOLÓGICODocumento26 páginasDA SOCIEDADE INDUSTRIAL À SOCIEDADE DE RISCO - ABORDAGENS ACERCA DA RELAÇÃO DIRETA E PROPORCIONAl ENTRE ATIVIDADE ECONÔMICA E AUMENTO DO RISCO ECOLÓGICOT AlencastroAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Textos 4 e 5 (Capítulos 3 e 4) .Documento4 páginasEstudo Dirigido - Textos 4 e 5 (Capítulos 3 e 4) .Heloísa Helena AlmeidaAinda não há avaliações
- BIOETICA Artigo para UPM FinalDocumento17 páginasBIOETICA Artigo para UPM FinalBeatriz PistiniziAinda não há avaliações
- NST-sociologia-classes SociaisDocumento6 páginasNST-sociologia-classes SociaisCavalo GiranteAinda não há avaliações
- Google 4Documento7 páginasGoogle 4JacileideAinda não há avaliações
- Fichamento Questão SocialDocumento16 páginasFichamento Questão SocialAlessandra BaldiniAinda não há avaliações
- Juvenicidio: A Descartabilidade Da Vida Humana No Brasil ContemporâneoDocumento15 páginasJuvenicidio: A Descartabilidade Da Vida Humana No Brasil ContemporâneoAmanda LeiteAinda não há avaliações
- Castel 1 PDFDocumento11 páginasCastel 1 PDFJose Augusto Barbosa SantosAinda não há avaliações
- Sociedade de RiscoDocumento13 páginasSociedade de RiscoRicardo FreiAinda não há avaliações
- Risco, Catástrofes e A Questão Das VítimasDocumento19 páginasRisco, Catástrofes e A Questão Das VítimasJuliana SantosAinda não há avaliações
- Modernidade Reflexiva e Sociedade de RiscosDocumento5 páginasModernidade Reflexiva e Sociedade de RiscosAna VargasAinda não há avaliações
- Sociedade ContemporaneaDocumento15 páginasSociedade ContemporaneaMEDUKAinda não há avaliações
- Lepidus,+11151457 Revista 26 (1) 115 140Documento26 páginasLepidus,+11151457 Revista 26 (1) 115 140Ingenuo IndeológicoAinda não há avaliações
- Emile DurkheimDocumento5 páginasEmile DurkheimDébora LimaAinda não há avaliações
- Layrargues - EA Crítica e Formação EcopolíticaDocumento7 páginasLayrargues - EA Crítica e Formação Ecopolíticav271029Ainda não há avaliações
- Castro Gomes - Ciências Sociais, Violência Epistêmica e o Problema Da Ìnvenção Do OutroDocumento10 páginasCastro Gomes - Ciências Sociais, Violência Epistêmica e o Problema Da Ìnvenção Do OutroThales BarufiAinda não há avaliações
- Resumo 08 07 OfcDocumento5 páginasResumo 08 07 OfcElisa Furlan GomesAinda não há avaliações
- AC - 2006 - MARANDOLA JR HOGAN - As Dimensões Da Vulnerabilidade PDFDocumento11 páginasAC - 2006 - MARANDOLA JR HOGAN - As Dimensões Da Vulnerabilidade PDFAlessandra MonteiroAinda não há avaliações
- Os Demônios e A Luta de ClassesDocumento20 páginasOs Demônios e A Luta de Classesbruno.augusto.costaAinda não há avaliações
- O Passageiro ClandestinoDocumento10 páginasO Passageiro ClandestinojpedrogAinda não há avaliações
- Conforto e ControleDocumento16 páginasConforto e ControlemikiAinda não há avaliações
- Cuestión Social y Trabajo Social, Un Opaco VínculoDocumento9 páginasCuestión Social y Trabajo Social, Un Opaco VínculoCARLOS ANDRÉS RENGIFO REYESAinda não há avaliações
- Individualismo e Depressão: Produtos Da ModernidadeDocumento11 páginasIndividualismo e Depressão: Produtos Da ModernidadeRoberta NAinda não há avaliações
- Os Fundamentos Jurí Dicos Da Sociedade Do Risco Uma Aná Lise de U. BeckDocumento16 páginasOs Fundamentos Jurí Dicos Da Sociedade Do Risco Uma Aná Lise de U. Beckmireleeloiza9Ainda não há avaliações
- Ulrichbeck-Olamcorreofinal-10 04 11Documento32 páginasUlrichbeck-Olamcorreofinal-10 04 11vv95p9nmmsAinda não há avaliações
- Desafios Da Sociologia Geral em Tempos de Isolamento Social em MoçambiqueDocumento17 páginasDesafios Da Sociologia Geral em Tempos de Isolamento Social em MoçambiqueSergio Alfredo MacoreAinda não há avaliações
- Giddens Risco ConceitoDocumento6 páginasGiddens Risco ConceitoPatrick PetersonAinda não há avaliações
- Modernidade e ModernizaçãoDocumento8 páginasModernidade e Modernizaçãogustavo serpaAinda não há avaliações
- O Tratamento Jurídico dos Desastres Urbano-ambientais na Perspectiva da Sociedade de Risco: o caso do Vale do Reginaldo em Maceió/ALNo EverandO Tratamento Jurídico dos Desastres Urbano-ambientais na Perspectiva da Sociedade de Risco: o caso do Vale do Reginaldo em Maceió/ALAinda não há avaliações
- Cartilha Paz - Como Se Faz? - Lia Diskin e Laura RoizmanDocumento97 páginasCartilha Paz - Como Se Faz? - Lia Diskin e Laura RoizmanBel VilaniAinda não há avaliações
- Tobias KfouryDocumento126 páginasTobias Kfourymatheus.matosAinda não há avaliações
- 11 Juventude-VicentinaDocumento28 páginas11 Juventude-VicentinaMarileneAinda não há avaliações
- Questões Da Aula - Unidade II PDFDocumento18 páginasQuestões Da Aula - Unidade II PDFLuaniAinda não há avaliações
- Conhecimento e Imaginação - Sociologia para o Ensino MédioDocumento14 páginasConhecimento e Imaginação - Sociologia para o Ensino MédioAndrea MeloAinda não há avaliações
- A Visao de Trabalho em Karl MarxDocumento5 páginasA Visao de Trabalho em Karl MarxYanne LourençoAinda não há avaliações
- Artigo Com Questionário Relação Familia EscolaDocumento18 páginasArtigo Com Questionário Relação Familia EscolaIsabela TavaresAinda não há avaliações
- Patriarcado e Capitalismo Binômio Dominação-ExploraçãoDocumento3 páginasPatriarcado e Capitalismo Binômio Dominação-ExploraçãoSá BittencourtAinda não há avaliações
- Eja Filosofia1Documento3 páginasEja Filosofia1Jussara Bernardes Grothe GrotheAinda não há avaliações
- Cartilha - Combate Ao Racismo - Escola Waldorf Comunitária Jardim Do Cajueiro (Felipe - Bahia)Documento36 páginasCartilha - Combate Ao Racismo - Escola Waldorf Comunitária Jardim Do Cajueiro (Felipe - Bahia)camillaleitesalesAinda não há avaliações
- 2011 EvandroCharlesPizaDuarte v2Documento474 páginas2011 EvandroCharlesPizaDuarte v2Kelpper CozinhasAinda não há avaliações
- 287-Article Text-554-1-10-20191114Documento6 páginas287-Article Text-554-1-10-20191114Antônio NascimentoAinda não há avaliações
- Anotações de "REPRESENTAÇÃO POLÍTICA, IDENTIDADE E MINORIAS" de Iris YoungDocumento5 páginasAnotações de "REPRESENTAÇÃO POLÍTICA, IDENTIDADE E MINORIAS" de Iris YoungJoão Pedro Vieira Bites LeãoAinda não há avaliações
- Prova SociologiaDocumento21 páginasProva SociologiaBRSDIVECOMAinda não há avaliações
- Apresentação Simpósio Nacional Psicologia e Compromisso SocialDocumento9 páginasApresentação Simpósio Nacional Psicologia e Compromisso SocialJuliana SpitzcovskyAinda não há avaliações
- Conceito de JusticaDocumento10 páginasConceito de JusticaDinis Miguel MatsinheAinda não há avaliações
- Lista de Sociologia Profº Yuri 1º Ano p1 III BimDocumento5 páginasLista de Sociologia Profº Yuri 1º Ano p1 III Bimprof_edson1Ainda não há avaliações
- Planejamento Anual - 1 2 e 3° Ano - Ensino Medio Ciencias Humanas e Sociais AplicadasDocumento4 páginasPlanejamento Anual - 1 2 e 3° Ano - Ensino Medio Ciencias Humanas e Sociais AplicadasCecília ViannaAinda não há avaliações
- Acesso À Justiça - Maria Tereza Aina SadekDocumento7 páginasAcesso À Justiça - Maria Tereza Aina SadekDiego PaesAinda não há avaliações
- Dissertação - Joseane Dos Santos CostaDocumento91 páginasDissertação - Joseane Dos Santos Costaalinice alves jardim lopesAinda não há avaliações
- (5 e 6) Plano de Aula - Aulas 5 e 6 - Humanidades - PTPADocumento3 páginas(5 e 6) Plano de Aula - Aulas 5 e 6 - Humanidades - PTPANataliaAinda não há avaliações
- Diversidade e Educação em Direitos Humanos Na Escola: Conceitos, Valores e PráticasDocumento18 páginasDiversidade e Educação em Direitos Humanos Na Escola: Conceitos, Valores e PráticasJohnathan CândidoAinda não há avaliações
- Planejamento Anual Disciplina de Sociologia - 2024 Pedras GrandesDocumento9 páginasPlanejamento Anual Disciplina de Sociologia - 2024 Pedras GrandesCinthia Dias MoreiraAinda não há avaliações
- DINIZ, Debora, Modelo Social Da Deficiência. A Crítica FeministaDocumento9 páginasDINIZ, Debora, Modelo Social Da Deficiência. A Crítica FeministaArthurLeonardoDaCostaAinda não há avaliações
- Estado-Nação, Educação e Cidadanias em TransiçãoDocumento23 páginasEstado-Nação, Educação e Cidadanias em Transiçãosulamita AlbuquerqueAinda não há avaliações
- E-BOOK - Direito À Educação e Política Educacional PiauienseDocumento540 páginasE-BOOK - Direito À Educação e Política Educacional PiauienseFelipe RibeiroAinda não há avaliações
- Resenha - Desigualdade e Pobreza - Gabriel CavalcantiDocumento3 páginasResenha - Desigualdade e Pobreza - Gabriel CavalcantiGabriel CavalcantiAinda não há avaliações
- Caderno - Prova - Brasil 5 AnoDocumento56 páginasCaderno - Prova - Brasil 5 AnoRenato FreitasAinda não há avaliações
- Dissertação Final Tibério Oliveira 2016Documento244 páginasDissertação Final Tibério Oliveira 2016Tibério OliveiraAinda não há avaliações
- Geografia 9º AnoDocumento7 páginasGeografia 9º AnoGilvan Ramada SantiagoAinda não há avaliações