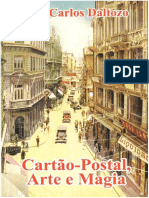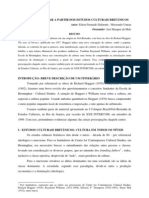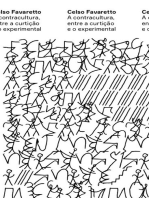Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Indústria Cultural AULA DO DIA 01.04.2024
Indústria Cultural AULA DO DIA 01.04.2024
Enviado por
allv778830 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações4 páginasTítulo original
Indústria Cultural AULA DO DIA 01.04.2024 (3)
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações4 páginasIndústria Cultural AULA DO DIA 01.04.2024
Indústria Cultural AULA DO DIA 01.04.2024
Enviado por
allv77883Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
Indústria cultural é um conceito de interpretação
sociológica desenvolvido por Theodor Adorno e Max
Horkheimer no livro “Dialética do Esclarecimento” de 1944.
Este conceito se refere a produção e utilização da cultura
como um bem de consumo industrial, destituindo a arte e a
cultura de suas principais características de interpretação e
crítica da realidade. Os dois autores e o próprio conceito
estão inseridos na Escola de Frankfurt, escola de inspiração
marxista que perdurou de 1922 a 1969. A escola tinha como
principal método de análise a Teoria Crítica.
Em seu sentido mais geral, a teoria crítica é uma teoria
sociológica que tem por objetivo explorar o que existe por
trás da vida social e descobrir os pressupostos e mascaras
que nos impedem de compreender plena e verdadeiramente
como o mundo funciona. [...] A dinâmica principal do trabalho
desse grupo consistia em criticar a vida sob o capitalismo e as
maneiras predominantes de explica-la. Embora o método se
fundamentasse no marxismo, eles modificaram alguns de
seus pressupostos básicos e combinaram-no com outros
métodos [...] Ao contrário das visões mais divulgadas
do marxismo, por exemplo, os membros da Escola da
Frankfurt argumentavam que a economia não determinava a
forma de vida social. Enfatizavam a importância da cultura e
elaboraram um enfoque crítico da arte, da estética e da
mídia. Combinaram o marxismo com a análise freudiana para
criar uma compreensão da personalidade e do indivíduo em
relação à sociedade capitalista. (JOHNSON, 1997, p. 232).
A indústria cultural é um termo interpretativo da realidade
que os autores percebiam na década de 1940 relacionada às
mídias e comunicações de massa. A sua crítica vai no sentido
de perceber que diferentes grupos sociais dominantes
começavam a utilizar a cultura e as artes a partir da lógica de
mercado capitalista. Para os autores, isso é extremamente
nocivo pois ao atender aos ideais de lucro, mercado,
aceitabilidade, esses produtos da cultura serão consumidos
como os demais e perdem seu potencial de crítica social e de
crítica ao próprio sistema, criando uma alienação cada vez
maior em seus consumidores.
Para os autores, a arte é um processo de reflexão sobre uma
situação e por isso mesmo demanda momento para a sua
produção, técnicas e estudos. A arte como produto
industrializado e produzido em massa, consequentemente,
carece de alguns elementos pela necessidade do mercado de
ser constantemente abastecido e renovado. Com isso, o
próprio processo criativo se torna mecanizado e sempre
orientado para agradar ao mercado, ao consumidor, as
classes que dominam o mercado e ao lucro, dessa forma seu
potencial crítico é minimizado.
Do mesmo modo que em outros ramos industriais, a indústria
cultural transforma matéria-prima em mercadorias, criando
novos padrões de consumo, voltados para atender às
demandas de um determinado público-alvo. (TERRA, ARAUJO,
GUIMARÃES, 2009, p.134).
Os autores diferenciam a cultura erudita da cultura popular e
ambas da indústria cultural ou cultura de massas. A cultura
erudita é produzida e consumida por classes intelectualizadas
e demanda estudo e técnicas muito refinadas tanto para ser
gerada como para ser compreendida. A cultura popular é
produzida pelo povo de forma espontânea e reflete a sua
realidade circundante, não necessitando de estudos para
tanto. Já a cultura de massas é diferente, pois não refere às
massas populares, e sim, à indústria cultural. É uma produção
artística encomendada pelo mercado que tem a função de
atender e gerar gostos massificados, não tem apreço pelas
técnicas eruditas e não reflete sobre a realidade do povo. É
um produto de ampla e rápida reprodução que gera também
esquecimento rápido deste mesmo produto, precisando ser
substituído. Pode abranger as músicas, o cinema, a TV, o
rádio, a pintura, literatura etc.
Cultura popular é repertório acumulado de produtos culturais
como músicas, literatura, arte, moda, dança, cinema,
televisão e radio que são consumidos principalmente por
grupos não-elite, tais como a classe operária e baixa (bem
como por segmentos substanciais da classe média).
(JOHNSON, 1997, p.60).
Apesar das críticas direcionadas aos produtos da Indústria
Cultural, autores da Escola de Frankfurt como Walter
Benjamin não deixam de considerar que a mesma consegue,
de certa forma e até certo ponto, democratizar o acesso às
artes. Isso porque com o advento de mídias e comunicação
em massa não é mais necessário ir a um show fisicamente ou
à ópera para se conhecer estas obras. Mesmo que a qualidade
do produto seja inferior e a experiência não seja a mesma, a
indústria cultural pode ser utilizada para fins de
acessibilidade, como a reprodução fotográfica de obras,
pinturas, esculturas que estão presentes em museus e
espaços distantes das classes populares.
Assim, a indústria cultural é um conceito crítico de
interpretação da produção de bens culturais no mercado
capitalista. Tem por característica a alienação do povo e a
produção massificada e massificante da obra de arte. Pode,
porém, ser utilizada para promover o acesso e contato
facilitado e massificado de grandes obras de Arte, mesmo
com prejuízo da qualidade técnica. A função da indústria
cultural, porém, não é possibilitar o acesso, mas sim produzir
lucro com as obras de arte, com a exploração do artista
inclusive.
O modo de comportamento perceptivo, através do qual se
prepara o esquecer e o rápido recordar da música de massas,
é a desconcentração. Se os produtos normalizados e
irremediavelmente semelhantes entre si, exceto certas
particularidades surpreendentes, não permitem uma audição
concentrada, sem se tornarem insuportáveis para os
ouvintes, estes, por sua vez, já não são absolutamente
capazes de uma audição concentrada. Não conseguem
manter a tensão de uma concentração atenta, e por isso se
entregam resignadamente àquilo que acontece e flui acima
deles, e com o qual fazem amizade somente porque já o
ouvem sem atenção excessiva. (ADORNO, 1978, p.190).
Referências:
ADORNO, Theodor. W. O fetichismo na música e a regressão
da audição. In: Adorno et all. Textos escolhidos. São Paulo:
Abril Cultural, 1978. Coleção Os Pensadores.
BENJAMIN, Walter et al. A obra de arte na era de sua
reprodutibilidade técnica. 2013.
JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: guia prático da
linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.
TERRA, Lygia; ARAUJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges.
Conexões: estudos de geografia do Brasil. São Paulo:
Moderna, 2009. p.134.
Você também pode gostar
- Trenzinho CaipiraDocumento9 páginasTrenzinho CaipiraDiegoSilvaAinda não há avaliações
- Carlos Gerbase Cinema Direcao de Atores PESQUISAVEL PDFDocumento130 páginasCarlos Gerbase Cinema Direcao de Atores PESQUISAVEL PDFÉrica Sarmet100% (1)
- A Industria Cultural - Adorno - in COHN - GabrielDocumento5 páginasA Industria Cultural - Adorno - in COHN - GabrielClara CabralAinda não há avaliações
- RU - 355950 - Template - PL Ensaio Acadêmico - GlaceDocumento9 páginasRU - 355950 - Template - PL Ensaio Acadêmico - GlaceMorgan Motta Glacê100% (1)
- ADORNO A Indústria CulturalDocumento6 páginasADORNO A Indústria CulturalHeliana Fornitani100% (4)
- Qual A Diferença Entre Arte Popular e Arte EruditaDocumento3 páginasQual A Diferença Entre Arte Popular e Arte Eruditaandreiftsouza83% (6)
- CP Arteemagia PDFDocumento208 páginasCP Arteemagia PDFGabriela GabirobaAinda não há avaliações
- Femininos, Identidades e Trânsitos em Narrativas de Clarice Lispector PDFDocumento132 páginasFemininos, Identidades e Trânsitos em Narrativas de Clarice Lispector PDFAlice SalesAinda não há avaliações
- O Que É Cultura (Humanidades)Documento25 páginasO Que É Cultura (Humanidades)escola 330809Ainda não há avaliações
- Indústria Cultural 2022 2º AnoDocumento1 páginaIndústria Cultural 2022 2º AnoWender NatanaelAinda não há avaliações
- Aula 7Documento11 páginasAula 7hugomb9909Ainda não há avaliações
- Indústria Cultural e Sociedade Do Espetáculo - A Dimensão Política Da Crítica CulturalDocumento19 páginasIndústria Cultural e Sociedade Do Espetáculo - A Dimensão Política Da Crítica CulturalJunior MellohAinda não há avaliações
- Artigo de História 1Documento10 páginasArtigo de História 1Luanna VictoriaAinda não há avaliações
- Slides de Aula - Unidade III - ESTETICADocumento68 páginasSlides de Aula - Unidade III - ESTETICAgabriel_gibin5564Ainda não há avaliações
- APC 7 Sociologia 3º B C D E Prof IreneDocumento2 páginasAPC 7 Sociologia 3º B C D E Prof IreneLaura roxAinda não há avaliações
- Os Operadores Da Indústria Cultural Na Obra de Adorno e HorkheimerDocumento16 páginasOs Operadores Da Indústria Cultural Na Obra de Adorno e HorkheimerBruno Ribeiro NascimentoAinda não há avaliações
- Texto 3 - Cultura e Ideologia - IIDocumento8 páginasTexto 3 - Cultura e Ideologia - IIGuilhermeguerragAinda não há avaliações
- Folha Resolução ExameDocumento5 páginasFolha Resolução ExameMónica AfaAinda não há avaliações
- Industria Cultural, Trabalho de Filosofia Carlos 3º ADocumento4 páginasIndustria Cultural, Trabalho de Filosofia Carlos 3º AAMV BrAinda não há avaliações
- Folha Resolução ExameDocumento5 páginasFolha Resolução ExameMónica AfaAinda não há avaliações
- Arte Contemporanea e Comunicacao de MassaDocumento12 páginasArte Contemporanea e Comunicacao de MassaPriscila SarangiAinda não há avaliações
- Industria CulturalDocumento2 páginasIndustria CulturalDorival NetoAinda não há avaliações
- O Que É Cultura de MassaDocumento3 páginasO Que É Cultura de MassadodoAinda não há avaliações
- Filosofia Na AtualidadeDocumento3 páginasFilosofia Na Atualidaderenan diasAinda não há avaliações
- Questões Enem Industria CulturalDocumento15 páginasQuestões Enem Industria CulturalCamila Pereira de Oliveira100% (1)
- Influencia Da Industria Cultural Na Formação Da IdentidadeDocumento6 páginasInfluencia Da Industria Cultural Na Formação Da IdentidadeJuliana PinheiroAinda não há avaliações
- Atividade Industria Cultural e Cultura de MassaDocumento7 páginasAtividade Industria Cultural e Cultura de MassaFranklin DaveisAinda não há avaliações
- Trabalho FilosofiaDocumento7 páginasTrabalho Filosofiamilenac.souza06Ainda não há avaliações
- Industria Cultural e Espetáculos - Revista EneagremaDocumento17 páginasIndustria Cultural e Espetáculos - Revista EneagremamaxhbAinda não há avaliações
- 10 Exercícios Sobre Indústria Cultural e Cultura de Massa - Toda MatériaDocumento8 páginas10 Exercícios Sobre Indústria Cultural e Cultura de Massa - Toda MatériaMarcus Vinicios Pantoja da SilvaAinda não há avaliações
- A Transformação Da Cultura em MercadoriaDocumento5 páginasA Transformação Da Cultura em MercadoriaCida AlmeidaAinda não há avaliações
- Exercícios 2º AnoDocumento2 páginasExercícios 2º AnoGuilherme RibeiroAinda não há avaliações
- Uc6 Trabalho e VidaDocumento5 páginasUc6 Trabalho e Vida00001088648885spAinda não há avaliações
- As Críticas À Cultura de Massa SC CC-LaboralDocumento11 páginasAs Críticas À Cultura de Massa SC CC-Laboral4Live 4reverAinda não há avaliações
- COUQUELIN, Ligia. O Legado Dos Anos 60 e 70Documento13 páginasCOUQUELIN, Ligia. O Legado Dos Anos 60 e 70TatianaFunghettiAinda não há avaliações
- Indústria Cultural - 33.01-33.03 Atendimento DomiciliarDocumento2 páginasIndústria Cultural - 33.01-33.03 Atendimento DomiciliarAndreia RibeiroAinda não há avaliações
- Propost de RedaçãoDocumento6 páginasPropost de Redaçãojv127842Ainda não há avaliações
- KAMINSKI, Rosane - Entre o Salão, A Indústria Cultural e Uma Estética UndergroundDocumento11 páginasKAMINSKI, Rosane - Entre o Salão, A Indústria Cultural e Uma Estética UndergroundMatheus Pacheco PerbicheAinda não há avaliações
- Teoria Crítica e Indústria CulturalDocumento25 páginasTeoria Crítica e Indústria CulturalaicanalhappkAinda não há avaliações
- Arte e Indústria Cultural (Waryfher)Documento12 páginasArte e Indústria Cultural (Waryfher)EmillyyyAinda não há avaliações
- Adorno - Resumo Sobre Indústria CulturalDocumento5 páginasAdorno - Resumo Sobre Indústria CulturalpaulgustavomAinda não há avaliações
- Resenha o Que e Industria CulturalDocumento12 páginasResenha o Que e Industria CulturalNutt BrigaderiaAinda não há avaliações
- CCCS MonoDocumento15 páginasCCCS MonoFabio Fernanda NetoAinda não há avaliações
- Questoes Fiolosofia eDocumento21 páginasQuestoes Fiolosofia eAmanda Canaan De SantanaAinda não há avaliações
- ADORNO, T. W. Résumé Sobre Indústria Cultural.Documento10 páginasADORNO, T. W. Résumé Sobre Indústria Cultural.Eric FonsecaAinda não há avaliações
- A Indústria Cultural e Produção Da SubjetividadeDocumento8 páginasA Indústria Cultural e Produção Da SubjetividadeRafael NunesAinda não há avaliações
- Slide SociologiaDocumento13 páginasSlide SociologiasumentaAinda não há avaliações
- Trabalho de FilosofiaDocumento5 páginasTrabalho de Filosofiaenilda oliveiraAinda não há avaliações
- Artigo de História Com AlteraçõesDocumento10 páginasArtigo de História Com AlteraçõesLuanna VictoriaAinda não há avaliações
- Indústria Cultural e Sociedade Segundo Adorno e HorkheimerDocumento5 páginasIndústria Cultural e Sociedade Segundo Adorno e Horkheimerdavialves0303Ainda não há avaliações
- Arte, Cultura e SociedadeDocumento13 páginasArte, Cultura e SociedadeVitória Eduarda Da Conceição Barbosa BarbosaAinda não há avaliações
- Resumo de Sociologia Antonio e Pedro PDocumento2 páginasResumo de Sociologia Antonio e Pedro Pantonio netoAinda não há avaliações
- CULTURA E SOCIEDADE - Indústria CulturalDocumento3 páginasCULTURA E SOCIEDADE - Indústria CulturalClaudio GomesAinda não há avaliações
- Relatório SociologiaDocumento3 páginasRelatório SociologiaCarolinaAinda não há avaliações
- Arte Como Meio de Informação e Crítica Social e Industria CulturalDocumento5 páginasArte Como Meio de Informação e Crítica Social e Industria CulturalKATIA MARIA SANTOS COSTAAinda não há avaliações
- Indústria Cultural e Cultura de MassasDocumento12 páginasIndústria Cultural e Cultura de Massasandre.nmo100% (3)
- 3ano Filosofia 4avDocumento3 páginas3ano Filosofia 4avSergio SoaresAinda não há avaliações
- Cultura e ConsumoDocumento3 páginasCultura e ConsumotuxauatuxAinda não há avaliações
- Apresentação Trabalho FFSEIDocumento15 páginasApresentação Trabalho FFSEIFabiele FornazaryAinda não há avaliações
- Cultura de Massas, Cultrua Erudita e Vanguarda No Cinema BrasileiroDocumento10 páginasCultura de Massas, Cultrua Erudita e Vanguarda No Cinema BrasileiroMauricioBritoAinda não há avaliações
- A influência Marxista-Leninista na Arte ModernaNo EverandA influência Marxista-Leninista na Arte ModernaAinda não há avaliações
- O Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezNo EverandO Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezAinda não há avaliações
- 2.2DLP Difusor LinearDocumento6 páginas2.2DLP Difusor LinearDouglas FerreiraAinda não há avaliações
- Aula - Várias Histórias, de Machado de AssisDocumento78 páginasAula - Várias Histórias, de Machado de AssisfelipeAinda não há avaliações
- PpcoyoDocumento16 páginasPpcoyoYuli Patiño100% (1)
- Planejamento Das Aulas ARTES VISUAIS 2018Documento6 páginasPlanejamento Das Aulas ARTES VISUAIS 2018César MarraAinda não há avaliações
- Literatura de Cordel - Barão Do Rio Branco (Crispiniano Neto)Documento22 páginasLiteratura de Cordel - Barão Do Rio Branco (Crispiniano Neto)praticaradical0% (1)
- Pleo 07.21 - Julho 2021 LS 153,74 - Não Desonerado Rev00Documento281 páginasPleo 07.21 - Julho 2021 LS 153,74 - Não Desonerado Rev00Fel8888Ainda não há avaliações
- Demi LovatoDocumento5 páginasDemi LovatoGildean PassinhoAinda não há avaliações
- Azul e Branco Simples Tecnologia Apresentação para ConferênciasDocumento12 páginasAzul e Branco Simples Tecnologia Apresentação para ConferênciasALINE DOS SANTOS RAULINO IZIDOROAinda não há avaliações
- Método de Teoria Musical Elementar e Solfejo - Novo Bona CCB - Revisão Fevereiro - 2009Documento77 páginasMétodo de Teoria Musical Elementar e Solfejo - Novo Bona CCB - Revisão Fevereiro - 2009Cintia Borges0% (1)
- Branca de Neve e Os Sete Anões (Classicos - Lily Murray)Documento81 páginasBranca de Neve e Os Sete Anões (Classicos - Lily Murray)Laura Cristina RoehrsAinda não há avaliações
- Mulheres Na Arte - ReferênciasDocumento2 páginasMulheres Na Arte - ReferênciasPonto de Fuga GaleriaAinda não há avaliações
- Artes VisuaisDocumento12 páginasArtes VisuaisAlan Gonçalo100% (1)
- Arquitetura Da PaisagemDocumento23 páginasArquitetura Da PaisagemAmiantusAinda não há avaliações
- Teoria Musical - ResumoDocumento16 páginasTeoria Musical - ResumoRod LissAinda não há avaliações
- Aula 2 - 5º LP - Gênero Poemas - Musicalidade em Versos - PronomesDocumento5 páginasAula 2 - 5º LP - Gênero Poemas - Musicalidade em Versos - PronomesAline ErsAinda não há avaliações
- Planejamento Anual de Língua Portuguesa: Escola Estadual Irmã Gislene de 1º e 2º GrausDocumento22 páginasPlanejamento Anual de Língua Portuguesa: Escola Estadual Irmã Gislene de 1º e 2º GrausCassia CarolinaAinda não há avaliações
- Play Music 165 PDFDocumento52 páginasPlay Music 165 PDFWinston Fontes100% (1)
- Argumentos Contra CapituDocumento2 páginasArgumentos Contra Capituisraelfeitosa91Ainda não há avaliações
- Movimentos Artísticos Do Século XixDocumento5 páginasMovimentos Artísticos Do Século XixRosy VieiraAinda não há avaliações
- Plano de Aula Danças TradicionaisDocumento4 páginasPlano de Aula Danças TradicionaisElizabete NascimentoAinda não há avaliações
- JesusDocumento16 páginasJesusmyriam100% (1)
- Aula Atividade AlunoDocumento7 páginasAula Atividade AlunoFagnia BatistaAinda não há avaliações
- Jeane Marie Gagnebin - Dizer o TempoDocumento13 páginasJeane Marie Gagnebin - Dizer o TempohodiyacAinda não há avaliações
- Explicae Revisão Final Ano 2021 Portugues Sem 02 Frente UDocumento14 páginasExplicae Revisão Final Ano 2021 Portugues Sem 02 Frente UNícolas MatosAinda não há avaliações
- EX Port639 EE 2019Documento8 páginasEX Port639 EE 2019Ana MateusAinda não há avaliações
- Aula 1Documento13 páginasAula 1no existeAinda não há avaliações