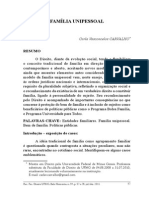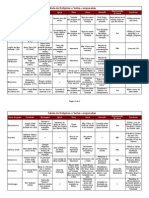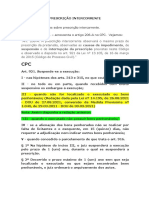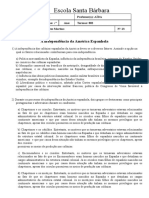Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Família Reiventa
Família Reiventa
Enviado por
Marília WermuthTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Família Reiventa
Família Reiventa
Enviado por
Marília WermuthDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Disciplina: Direito Civil V - FAMÍLIA
Período: VI
Docente: Maria Lídia Brito Gonçalves
Discente: Marília Wermuth Lopes
Atividade Avaliativa: A família não está em crise, apenas a reinventar-se.
Desde o século XVI até os dias atuais, a noção de família vem sofrendo importantes
modificações em sua forma e em sua estrutura, assim como nas funções de cada um de seus
membros, numa sutil correspondência com as transformações que propiciaram as condições de
emergência da sociedade moderna e as de seu declínio. De acordo com estudos históricos,
sociológicos e antropológicos da família (Ariès, 1981; Elias, 1993, 1994; Foucault, 1978/2012),
a maior parte das afirmações de senso comum relativas à família no mundo ocidental moderno
referem-se às suas características dentro do universo das camadas médias, tão afins ao núcleo
ideológico da cultura ocidental moderna.
Durante séculos, a família baseou-se no sistema patriarcal, no qual o pai era tido como
um Deus poderoso que reinava em seu lar. Com o passar do tempo, as mulheres começaram a
reivindicar seus direitos e a família patriarcal começa a se transformar, passando por importantes
mudanças na sua constituição, que acarretaram também mudanças no interior da família, em seu
espaço subjetivo, articulado ao espaço social.
Desde o declínio do poder patriarcal e a ascensão das mulheres, uma nova ordem familiar
vem se formando e transformando, o que gerou certa angústia nos críticos culturais ao apontarem
para uma possível dissolução da família, dividindo a opinião dos ‘especialistas’. Seria de fato uma
dissolução da família ou se trataria de uma transformação?
Para Lasch, “na verdade a família vem se desintegrando lentamente há mais de cem anos”
(Lasch, 1991, p. 20). Já na compreensão da psicanalista Elisabeth Roudinesco (2003), a família
tem sido a cada vez reinventada sobre novas bases. A autora levanta o paradoxo de que a família
se encontra atualmente em “desordem”, porém ela segue sendo “amada, sonhada e desejada por
homens, mulheres e crianças de todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as
condições”, tornando-se a única importância com garantia de proteção ao qual ninguém quer abrir
mão (Roudinesco 2003, p. 198).
Se, parafraseando Marx (1859/2010), a sociedade não se coloca questões a que já não
tenha condições de responder, pode-se acompanhar quais questões colocaram-se sobre a família
na tentativa de compreender seus processos de reconfiguração social.
A família contemporânea
Na contemporaneidade novos modelos de família reconfiguram-se. Neles, as fronteiras
de identidade entre os dois gêneros (feminino e masculino) são um pouco mais fluidas e
permeáveis: a mulher conquistando espaço no mercado de trabalho, atuando também como chefe
de família, o homem podendo também cuidar do lar. Há mãe e pais solteiros, uniões homoafetivas
com e sem filhos, adoções, produção independente, bebê de proveta.
Nesse contexto, no início de fevereiro de 2014 a câmara promoveu uma enquete sobre o
conceito de família. O objetivo é avaliar se os cidadãos são favoráveis ou contrários ao conceito
incluído no Projeto de Lei 6583/13, que cria o Estatuto da Família, definindo-a como núcleo
formado “a partir da união entre homem e mulher”.
Abordar o tema família é uma tarefa complexa, todos nós pertencemos a algum tipo de
família. Assim, nossas ideias, nossas percepções, ou nossas reflexões sobre ‘família’, por mais
objetivas que sejam, estão inevitavelmente marcadas pela nossa própria experiência, tanto nas
nossas famílias de origem quanto naquelas que constituímos.
Quando nos perguntamos, ‘o que é família?’, duas noções distintas, ainda que inter-
relacionadas, podem ser evocadas. Numa perspectiva mais ampla, ‘família’ pode referir-se a um
grupo de indivíduos que se reconhecem ou que são reconhecidos como ‘parentes’, seja esse
parentesco estabelecido através de elos de consanguinidade, de adoção ou casamento. Isso pode
incluir centenas de pessoas que se estendem tanto através de gerações (pai, mãe, avós, bisavós,
tataravós maternos e paternos, ou filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante), quanto
colateralmente (irmãos, tios, primos, sobrinhos de primeiro ou segundo grau em diante), ou seja,
pessoas que podem nem mesmo se conhecer pessoalmente ou que mantém pouco contato umas
com as outras.
Há, porém, outra noção de família, bem mais restrita, que se limita ao que sociólogos e
antropólogos denominam de família nuclear ou conjugal, ou seja, pai, mãe e filhos. Tal como
expresso nas definições oferecidas pelo Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio
Buarque de Hollanda Ferreira (2010): “pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na mesma casa,
particularmente o pai, a mãe e os filhos”, ou ainda,” comunidade constituída por um homem e
uma mulher, unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos dessa união”.
Podemos observar que essas definições são, sobretudo, ‘definições normativas’ vez que,
para além da explicação do termo, definem também determinadas ‘normas’. Definem antes como
a família deve ser e não necessariamente o que é, oferecendo, assim, não uma definição e sim um
modelo ou ideal de família. Veja-se, por exemplo, que no caso em questão, o modelo implica em
união heterossexual e monogâmica (um homem e uma mulher), união por laço matrimonial,
coresidência (que vivem, geralmente, na mesma casa) e apenas duas gerações de parentes - o pai,
a mãe e os filhos - e, no caso dos filhos, somente os nascidos dessa união.
Ora, não é necessário recorrermos a dados estatísticos para percebermos que essa noção
ou modelo de família, deixa de fora muitas famílias brasileiras, provavelmente várias que
conhecemos na vida real. Basta apenas lembrar que, mesmo tendo em conta as definições acima,
famílias são entidades fluidas, cujo tamanho e composição podem variar significativamente em
função de nascimentos, óbitos, casamentos e separações.
As famílias nucleares podem eventualmente expandir-se para ‘famílias extensas’,
incluindo mais de duas gerações ou parentes colaterais, ou então, perder parte dos seus membros,
reduzindo-se ao que se identifica como ‘famílias parciais’: por exemplo, famílias constituídas só
pelo par conjugal, famílias em que um dos membros desse par (pai ou mãe) estão ausentes,
famílias constituídas apenas por parentes colaterais (irmãos). Há também famílias em que, por
motivo de trabalho, alguns de seus membros são obrigados a viver longe da casa por longos
períodos de tempo, voltando ao lar apenas periodicamente (como no caso de marinheiros, por
exemplo).
Devemos considerar também que muitas famílias não são constituídas através de laços
matrimoniais formais, mas por união consensual, fato este já reconhecido na Constituição de
1988, que ampliou o conceito de família para incluir entidades familiares constituídas por pais,
casados ou não, e seus filhos, em convivência estável. A nova constituição reconheceu também
como entidade familiar qualquer comunidade formada tanto pelo pai ou pela mãe e seus
descendentes.
No entanto, nossa legislação ainda prioriza o viés heterossexual do modelo de família
vigente, reconhecendo com dificuldade a união de parceiros do mesmo sexo como constituidores
de entidade familiar, independentemente ou não de uma convivência estável e da existência de
filhos. A partir disso, podemos pensar que o que está em crise é o modelo ou ideal de família
inspirado na ideologia patriarcal.
Referência:
FELIPPI, Geisa. Transformações dos laços vinculares na família: uma perspectiva psicanalítica. Pepsic,
jun.2015. Artigo. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
494X2015000100009
Você também pode gostar
- 2 - SOCIEDADE, CULTURA E CIDADANIA - Diego Coletti OlivaDocumento18 páginas2 - SOCIEDADE, CULTURA E CIDADANIA - Diego Coletti OlivaRibeiro Filho100% (1)
- Mott - A Revolução Dos Negros No Haiti e o BrasilDocumento9 páginasMott - A Revolução Dos Negros No Haiti e o BrasilclaratellesAinda não há avaliações
- Funcao Social Da FamiliaDocumento10 páginasFuncao Social Da FamiliaCesar Augustus100% (1)
- Família Transformações e Configurações Social ConcursosDocumento79 páginasFamília Transformações e Configurações Social ConcursosAmanda GoncalvesAinda não há avaliações
- Direitos À FamíliaDocumento17 páginasDireitos À FamíliaÉrica Oliveira100% (1)
- ZAMBRANO, Elizabeth - Parentalidades 'Impensáveis' - Pais, Mães Homossexuais, Travestis e Transexuais PDFDocumento25 páginasZAMBRANO, Elizabeth - Parentalidades 'Impensáveis' - Pais, Mães Homossexuais, Travestis e Transexuais PDFAnaClaraFerrudaZilliAinda não há avaliações
- Vulnerabilidade Social e FamíliaDocumento9 páginasVulnerabilidade Social e FamíliaJaime LimaAinda não há avaliações
- Parentalidades ''Impensáveis''Documento16 páginasParentalidades ''Impensáveis''Marcio FloresAinda não há avaliações
- Apostila Civil Familia PDFDocumento127 páginasApostila Civil Familia PDFHenriqueSantiagoAinda não há avaliações
- Proposta de Redação - Família Contemporânea - Prova - 1º Bimestre - 3 SérieDocumento2 páginasProposta de Redação - Família Contemporânea - Prova - 1º Bimestre - 3 SérieYasmeenCunhaAinda não há avaliações
- Proposta de Redação - Família ContemporâneaDocumento2 páginasProposta de Redação - Família ContemporâneaYasmeenCunhaAinda não há avaliações
- Aula 2 - Família e ParentescoDocumento12 páginasAula 2 - Família e ParentescoMônica CordovilAinda não há avaliações
- A FamiliaDocumento8 páginasA FamiliaEdwizzi Pedro SdcAinda não há avaliações
- Apostila de Revisão de para A Prova Av2 - Antropologia e Sociedade - 2022.1Documento3 páginasApostila de Revisão de para A Prova Av2 - Antropologia e Sociedade - 2022.1Dayla RisoAinda não há avaliações
- SociologiaDocumento19 páginasSociologiacarolina chrystelloAinda não há avaliações
- Familia Conceito Histórico e Funções.Documento4 páginasFamilia Conceito Histórico e Funções.Kiell OliveiraAinda não há avaliações
- Traducao Do Verbete Familia Da EnciclopeDocumento7 páginasTraducao Do Verbete Familia Da EnciclopeanapaulagraboisAinda não há avaliações
- O Papel Da Familia Na Reprodução SocialDocumento7 páginasO Papel Da Familia Na Reprodução SocialMazina FonsecaAinda não há avaliações
- Ana Beatriz Parana MarianoDocumento18 páginasAna Beatriz Parana MarianoAdriano Dos Santos PrazeresAinda não há avaliações
- Revista Educação Pública - A Evolução Da Família - Concepções de Infância e AdolescênciaDocumento4 páginasRevista Educação Pública - A Evolução Da Família - Concepções de Infância e AdolescênciaClaraAinda não há avaliações
- A FamiliaDocumento8 páginasA FamiliaBaba BossAinda não há avaliações
- Família - Conceito, Evolução e Tipos - Toda MatériaDocumento7 páginasFamília - Conceito, Evolução e Tipos - Toda MatériajambajungoAinda não há avaliações
- O Conceito de Família: Origem e EvoluçãoDocumento4 páginasO Conceito de Família: Origem e EvoluçãoFulvio AvelarAinda não há avaliações
- As Familias Atraves Do TempoDocumento18 páginasAs Familias Atraves Do TempoLuis C. S. MacielAinda não há avaliações
- Instituição FamíliaDocumento4 páginasInstituição Famíliaj52836921Ainda não há avaliações
- Sobre Famílias - Estrutura, História e DinâmicaDocumento10 páginasSobre Famílias - Estrutura, História e DinâmicaFelipe240891Ainda não há avaliações
- Família Instituição SocialDocumento4 páginasFamília Instituição Socialsarah anjosAinda não há avaliações
- A Confusão Que Acontece Entre As Palavras Moral e Ética Existem Há Muitos SéculosDocumento6 páginasA Confusão Que Acontece Entre As Palavras Moral e Ética Existem Há Muitos SéculosluisscosttaAinda não há avaliações
- Trabalho de S.ODocumento11 páginasTrabalho de S.OvandadanielasimosaAinda não há avaliações
- Apoio HospitalarDocumento7 páginasApoio HospitalarMALAMBA MANUEL D' CARVALHOAinda não há avaliações
- HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Famílias Paralelas PDFDocumento21 páginasHIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Famílias Paralelas PDFAntonio Alberto Rondina CuryAinda não há avaliações
- Família Conceitos SignificadosDocumento26 páginasFamília Conceitos SignificadosAisse HassanAinda não há avaliações
- Projeto CejuscDocumento23 páginasProjeto Cejuscluisa.sacramentoAinda não há avaliações
- A Família - Muitas Variações para Traduzir Um Mesmo ConceitoDocumento63 páginasA Família - Muitas Variações para Traduzir Um Mesmo ConceitoEdvaldo AraújoAinda não há avaliações
- UntitledDocumento3 páginasUntitledlaressa liraAinda não há avaliações
- A FamíliaDocumento13 páginasA FamíliaAlexandre PedroAinda não há avaliações
- Trab. de Área de Integração - 12º AnoDocumento12 páginasTrab. de Área de Integração - 12º AnoTomás JustinoAinda não há avaliações
- Novo (A) Documento Do Microsoft WordDocumento10 páginasNovo (A) Documento Do Microsoft Wordcristinel gherfiAinda não há avaliações
- Tipos de Família - Modelos e CaracterísticasDocumento6 páginasTipos de Família - Modelos e CaracterísticasLara SoutoAinda não há avaliações
- Paternidade e MasculinidadeDocumento3 páginasPaternidade e MasculinidadeJefersonAinda não há avaliações
- TESE Final - MirianDocumento195 páginasTESE Final - MirianAntonio dos Santos AndradeAinda não há avaliações
- Em Busca Do Conceito de Família - Desafio Da ContemporaneidadeDocumento49 páginasEm Busca Do Conceito de Família - Desafio Da ContemporaneidadeLuis AugustoAinda não há avaliações
- Artigo - Familia e SaudeDocumento14 páginasArtigo - Familia e Saudebobgoya CorreiaAinda não há avaliações
- Aula 2. 29-02 - PrincipalDocumento10 páginasAula 2. 29-02 - PrincipalMonaliza NascimentoAinda não há avaliações
- UFCD 3242 - ManualDocumento41 páginasUFCD 3242 - ManualCarla Alexandra Estevam CanhotoAinda não há avaliações
- Aida Antropologia CulturalDocumento9 páginasAida Antropologia CulturalDayno OGAinda não há avaliações
- Trabalho de Antropologia CompletoDocumento12 páginasTrabalho de Antropologia CompletoSarafina MalateAinda não há avaliações
- Contextualização AtropolDocumento4 páginasContextualização AtropolDalton Alexandre LapissoneAinda não há avaliações
- Tipos de FamíliaDocumento3 páginasTipos de FamíliaMazina FonsecaAinda não há avaliações
- Patricia Piedade FamiliasDocumento25 páginasPatricia Piedade FamiliasRita MourinhoAinda não há avaliações
- Familia UnipessoalDocumento21 páginasFamilia Unipessoalangelmix10Ainda não há avaliações
- Tema 2.1 - Estrutura Familiar e Dinâmica Social: ESPE - Escola Profissional EspinhoDocumento25 páginasTema 2.1 - Estrutura Familiar e Dinâmica Social: ESPE - Escola Profissional EspinhoSuzanna Loureiro100% (1)
- Manual Do Módulo S3 - Viver em SociedadeDocumento21 páginasManual Do Módulo S3 - Viver em SociedadeAna Rita Serra100% (1)
- Capítulo I - Linhas Gerais Da Família ContemporâneaDocumento14 páginasCapítulo I - Linhas Gerais Da Família ContemporâneaMaria Vitória MagalhãesAinda não há avaliações
- TCCE ESEM EaD 2015 ALVES INEIADocumento18 páginasTCCE ESEM EaD 2015 ALVES INEIACida AraujoAinda não há avaliações
- Direito Da Família - ResumoDocumento404 páginasDireito Da Família - ResumoJooLs.100% (1)
- (Des)construção da família tradicional sob a ótica do Código CivilNo Everand(Des)construção da família tradicional sob a ótica do Código CivilAinda não há avaliações
- Conceito de FamíliaDocumento12 páginasConceito de FamíliaMarília AbanaAinda não há avaliações
- A Função Social Da Família e Suas ConfiguraçõesDocumento28 páginasA Função Social Da Família e Suas ConfiguraçõesNeuza WoisczykAinda não há avaliações
- Evolução Do Conceito de Família Frente Aos Princípios Da Afetividade e Da Função SocialDocumento12 páginasEvolução Do Conceito de Família Frente Aos Princípios Da Afetividade e Da Função SocialDeborah AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Guarda Compartilhada: a guarda compartilhada como mecanismo para atender ao melhor interesse dos filhosNo EverandGuarda Compartilhada: a guarda compartilhada como mecanismo para atender ao melhor interesse dos filhosAinda não há avaliações
- Casamento e Suas ModalidadesDocumento5 páginasCasamento e Suas ModalidadesMarília WermuthAinda não há avaliações
- ADOÇÃODocumento3 páginasADOÇÃOMarília WermuthAinda não há avaliações
- SEMINARIODocumento3 páginasSEMINARIOMarília WermuthAinda não há avaliações
- Código FlorestalDocumento2 páginasCódigo FlorestalMarília WermuthAinda não há avaliações
- Pmal - Lei - N - 7.656, - de - 10 - de - Setembro - de - 2014 - Lei - de - PromoçãoDocumento15 páginasPmal - Lei - N - 7.656, - de - 10 - de - Setembro - de - 2014 - Lei - de - PromoçãoGuilhermeAinda não há avaliações
- Caderno 13 Ensino ReligiosoDocumento3 páginasCaderno 13 Ensino ReligiosoEzileide Palma100% (2)
- 3 +Fran,+a+Formiga+CorajosaDocumento16 páginas3 +Fran,+a+Formiga+CorajosaJandira Valerio Gomes MaiaAinda não há avaliações
- Cultivando A CidadaniaDocumento2 páginasCultivando A CidadaniaPriscila LimaAinda não há avaliações
- TCC - FabianaDocumento14 páginasTCC - FabianaRisley RodriguesAinda não há avaliações
- Tabela de ReligiõesDocumento4 páginasTabela de ReligiõesNeo_JAinda não há avaliações
- UntitledDocumento40 páginasUntitledGessela ReclaAinda não há avaliações
- Aula 22 Mat de Apoio - Aulas Teóricas e RQ - Arthur Trigueiros - Inf e Sanções Disciplinares IIIDocumento11 páginasAula 22 Mat de Apoio - Aulas Teóricas e RQ - Arthur Trigueiros - Inf e Sanções Disciplinares IIILuiz Paulo TieppoAinda não há avaliações
- Prescrição Intercorrente e A Lei 14195-2021Documento9 páginasPrescrição Intercorrente e A Lei 14195-2021Karina Goncalves MachadoAinda não há avaliações
- Jesus - A Esperança Do Natal Chegou! Baseado em LucasDocumento5 páginasJesus - A Esperança Do Natal Chegou! Baseado em LucasMaria TaniellenAinda não há avaliações
- Rascunho Ds160Documento7 páginasRascunho Ds160Matheus RodriguesAinda não há avaliações
- 1 - Caso 4 - Queixa-CrimeDocumento3 páginas1 - Caso 4 - Queixa-CrimeSilvia Patrycia F. MoraesAinda não há avaliações
- Marco CertificadoDocumento2 páginasMarco CertificadoMarco Antônio Pereira100% (1)
- Lista de CertificadoDocumento48 páginasLista de CertificadoFlaviane Santos Nunes BarrosAinda não há avaliações
- Migração Japonesa para o BrasilDocumento7 páginasMigração Japonesa para o BrasilJose Luiz CoutinhoAinda não há avaliações
- Diário Oficial 20-04-2012Documento78 páginasDiário Oficial 20-04-2012Ricardo de OliveiraAinda não há avaliações
- Cesgranrio 2018 Banco Do Brasil Escriturario GabaritoDocumento5 páginasCesgranrio 2018 Banco Do Brasil Escriturario GabaritoGabriel OliveiraAinda não há avaliações
- Calendario AfroDocumento4 páginasCalendario AfroEdvaldo VsjrAinda não há avaliações
- Avaliação de História - 6º AnoDocumento3 páginasAvaliação de História - 6º AnoMireli Medeiros KadoshAinda não há avaliações
- Índice Do Cartório Da Mitra de Angra Ilha Das Flores 1Documento88 páginasÍndice Do Cartório Da Mitra de Angra Ilha Das Flores 1evieiraAinda não há avaliações
- Direito Internacional Público e Privado - Questões de ConcursoDocumento14 páginasDireito Internacional Público e Privado - Questões de ConcursoNelson JorgeAinda não há avaliações
- A Festa Da Páscoa e Dos Pães AsmosDocumento3 páginasA Festa Da Páscoa e Dos Pães AsmosSamuel NascimentoAinda não há avaliações
- Diferenças Entre Sursis e Livramento CondicionalDocumento1 páginaDiferenças Entre Sursis e Livramento CondicionalHearlen Moreira de SouzaAinda não há avaliações
- AIRC - Contestação - José Carlos Faria X PoldermanDocumento9 páginasAIRC - Contestação - José Carlos Faria X PoldermanAnonymous T1R768f6aAinda não há avaliações
- 8º Ano-trabalho-Indep. America EspDocumento4 páginas8º Ano-trabalho-Indep. America EspLorena m MAinda não há avaliações
- Roteiro Da Entrevista Movimento Lgbtquiapn-1Documento5 páginasRoteiro Da Entrevista Movimento Lgbtquiapn-1mickaelalves232Ainda não há avaliações
- O Conceito de RevoluçaoDocumento5 páginasO Conceito de RevoluçaoKaylan AlmeidaAinda não há avaliações
- Direitos Humanos para A Atividade PolicialDocumento10 páginasDireitos Humanos para A Atividade Policialbrunodireito010Ainda não há avaliações
- Nomes Dos AlunosDocumento20 páginasNomes Dos AlunosFernanda Pereira Beltrame OliveiraAinda não há avaliações