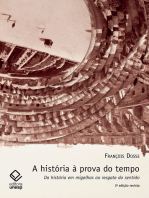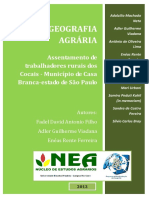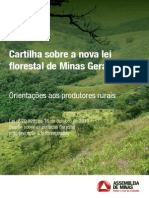Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Contribuição de EP Thomson
Enviado por
Fernando Bartholomay Filho0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
90 visualizações14 páginasO documento discute a influência do historiador marxista E.P. Thompson na historiografia brasileira. Thompson questionou o determinismo do marxismo da época e enfatizou a cultura e agência das classes populares. Isso influenciou historiadores brasileiros a estudarem a memória cultural e resistência dos movimentos populares nos anos 1970, durante a redemocratização. O texto também sugere novas pesquisas sobre como Thompson influenciou o estudo da escravidão e das classes trabalhadoras no Brasil.
Descrição original:
Título original
A contribuição de EP Thomson
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO documento discute a influência do historiador marxista E.P. Thompson na historiografia brasileira. Thompson questionou o determinismo do marxismo da época e enfatizou a cultura e agência das classes populares. Isso influenciou historiadores brasileiros a estudarem a memória cultural e resistência dos movimentos populares nos anos 1970, durante a redemocratização. O texto também sugere novas pesquisas sobre como Thompson influenciou o estudo da escravidão e das classes trabalhadoras no Brasil.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
90 visualizações14 páginasA Contribuição de EP Thomson
Enviado por
Fernando Bartholomay FilhoO documento discute a influência do historiador marxista E.P. Thompson na historiografia brasileira. Thompson questionou o determinismo do marxismo da época e enfatizou a cultura e agência das classes populares. Isso influenciou historiadores brasileiros a estudarem a memória cultural e resistência dos movimentos populares nos anos 1970, durante a redemocratização. O texto também sugere novas pesquisas sobre como Thompson influenciou o estudo da escravidão e das classes trabalhadoras no Brasil.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
MEDIAES
REVISTA DE CINCIAS SOCIAIS
VOL. 9-N.l/20
r
j..,.-p. 69-82
TEMAS E DEBATES PARA A
HISTRIA 00 BRASIL
A CONTRffiUIO DE E.P. THOMPSON
1
Jos Carlos Barreiro
2
T
hompson, por sua histria de militncia epelos inmeros debates travados
com intelectuais de elevada estatura, dentro efora do partido comunista
ingls, acabou por produzir uma obra de grande porte, transformando-se,
portanto, numa das maiores expresses da historiografia mundial. Contudo, osurgimento
do pensamento de Thompson no est desvinculado das configuraes polticas de seu
prprio presente. Nesta perspectiva, torna-se imperativo relacion-lo aos principais
acontecimentos do cenrio poltico mundial. No se quer com isso repor a velha
correspondncia mecnica entre aproduo das idias e o determinismo de seu tempo.
Contudo, no se chega auma reflexo fecunda ano ser libertando-se de uma histria
desencarnada que institui um universo de abstraes sem limites para o prprio
pensamento.
3
Nesse sentido, se no isolarmos oconjunto das idias de Thompson, das
formas de vida social que o produziu, possvel perceber que ele foi profundamente
marcado pela emergncia das contradies que abalaram progressivamente osistema
totalitrio do mundo socialista apartir dos anos 30 do sculo passado, e, sobretudo dos
anos 50. Nessa conjuntura, no que diz respeito aos principais acontecimentos
internacionais, discutiam-se, entre outros temas, aGuerra Fria, os processos de Moscou, a
divulgao da existncia de campos de concentrao na URSS. Osocialismo real e a
poltica dos Paltidos Comunistas passaram aser questionados, porque nada diziam que
pudesse anuviar areputao socialista do regime sovitico ou dos regimes dos pases do
leste.No deram ao protesto dos dissidentes aampla ressonncia que estavam em condies
I Este artigo foi gerado a partir do projeto de pesquisa "Formas rituais esimblicas da dominao edo protesto
popular. Brasil, 1780-1880", em desenvolvimento.
Doutor em Histria pela USP. Professor livre-docente do Departamento de Histria da Unesp/Assis. Autor do livro
Imaginrio e Viajantes no Brasil do Sculo XIX: Cultura e Cotidiano, Tradio e Resistncia. Editora
Unesp, 2003.
I Cf. ClIARTIER, R. AHist6ria Cultural: entre prticas e representaes. Lisboa: Difel, 1990. p. 34s.
4
7O. MEDIAES VOL. 9-N.1/2004
de dar. Longe de informar ou instruir seu pblico, dissimulavam esoterravam aquesto
do estalinismo e a natureza do Estado totalitrio.
4
Este quadro de crise do socialismo eda poltica dos partidos de esquerda estimulou
a emergncia de alguns grupos ou escolas importantes que dariam contribuies
duradouras para arenovao do conhecimento humanstico edo conhecimento histrico
em particular. Na Frana, por exemplo, no se pode ignorar as contribuies do grupo
vinculado Filosofia Poltica Francesa Contempornea - dentre eles Merleau Ponty,
Claude Lefort eCornelius Castoriadis - edos historiadores vinculados Nova Histria.
5
Todavia, o pensamento de Thompson surgiria em meio aos movimentos importantes
que emergiam na Inglaterra naquele momento. Acontestao ao mecanicismo estalinista
que subordinava ainterpretao histrica aos cinco modos sucessivos que as sociedades
humanas deveriam necessariamente percorrer, eas discusses internas levadas acabo pelo
Partido Comunista Ingls, fez surgir, por exemplo, aobra de Maurice Dobb reformulando
de forma inovadora aquesto da transio do feudalismo ao capitalismo, bem como as
grandes contribuies de historiadores como Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Raphael
Samuel edo prprio Edward Thompson, entre outros. Muitos desses historiadores reuniram
se em torno daNew Lejt Review criada em 1957 abrigando debates criativos, at pelo
menos 1963, quando Pen)' Anderson assume adireo da revista eThompson marca seu
rompimento com ogrupo escrevendo oseu Jhe Making ofthe English Working Class.
Outros grupos igualmente vigorosos surgem na Inglaterra como, por exemplo, ogrupo
History Workshop, nascido no Ruskin CoUege, de Oxford, em 1966. Este grupo se constituiu
em torno da figura de Raphael Samuel. Propondo-se alutar contra osistema tradicional
de exames e a dar uma participao ativa no estudo da histria aos estudantes da classe
operria, ogrupo publica uma srie de panfletos entre 1970 e1974, que origina, em 1976,
aHistory Workshopjournal, revista que consegue suscitar odebate em torno das questes
contemporneas de modo no ortodoxo, por engajar no s historiadores preocupados
com os problemas atuais, mas tambm setores do movimento operrio e de outros
movimentos populares como ofeminismo.
Em meio efervescncia dessas idias, Thompson, na condio de historiador
marxista, levou acabo inmeros avanos em relao ao tratamento dado questo da
Cf. LEFORT, C.A inveno democrtica. So Paulo: Brasiliense, 1983. p. 15ss.
BURKE, P. "El 'descobrimiento' de la cultura popular". In: SAMUEL, R. (ed.) Histl'ia populal'Y teol'ia socialista.
Barcelona: Editorial Crtica, 1984.
TEMAS E DEBATES PARA A HISTRIA DO BRASIL. 71
teoria edos conceitos no materialismo histrico. Tais questes iam no sentido de que a
teoria, na sua relao com as evidncias empricas, envolve uma explorao aberta do
mundo que supe arecusa da decretao de certezas prvias em relao ao fazer social
histrico. Neste sentido, Thompson rompe, sob muitos aspectos, com odeterminismo das
anlises fundadas no materialismo histrico, substancialmente presente em autores
marxistas poca em que produziu seus trabalhos mais vigorosos. Thompson tomou,
portanto, omarxismo mais criativo enquanto teoria econceitos operacionalizveis.
A CONJUNTURA DO BRASIL
Os trabalhos de E.P. Thompson tm sido divulgados no Brasil h cerca de duas
dcadas. hora de iniciarmos uma reflexo mais atenta acerca de sua influncia na
produo do conhecimento histrico nacional. Parece oportuno conduzir esta reflexo
luz do avano proporcionado por Thompson em relao ao tratamento dado pelo
marxismo ao problema da cultura. Thompson avanou neste ponto, em relao ao
marxismo da poca, graas ao seu dilogo com a Antropologia e, tambm, graas
incorporao sua obra, das reflexes de Gramsci sobre oconceito de hegemonia.
Nos anos 1970 a sociedade brasileira viveu a emergncia dos movimentos
sociais ressurgidos dos escombros da ditadura militar. Os movimentos de massa
anteriores implantao do regime militar no haviam desaparecido, mas arepresso
confinou-os auma existncia subterrnea. Quando vieram tona, apresentaram-se
com caractersticas novas, a ponto de escapar inteiramente aos padres de
inteligibilidade terica ditados pela velha esquerda. Como entender as significaes
novas, os novos tipos de motivaes, os novos valores, as novas formas de luta dos
movimentos populares dos anos 70 a partir de concepes tericas que reduziam a
riqueza ecomplexidade da atividade humana determinao das foras produtivas?
Certamente, seria impossvel entender os novos movimentos sociais, fundamentando
se em conceitos rgidos da esquerda tradicional vinculada aos partidos da poca,
conceitos estes que tambm embasavam a produo do conhecimento histrico de
historiadores importantes da sociedade brasileira.
Assim, surpreendidos acada dia pela irreverncia eautonomia do sindicalismo e
dos movimentos de massa em geral, e, impossibilitados de explicar seu comportamento
apartir de conceitos inflexveis, muitos militantes, intelectuais ehistoriadores descobriram
aobra de Thompson.As dificuldades iniciais de acesso aos seus textos foram vencidas pela
72. MEDIAES VOL.9-N. 1/2004
necessidade de se entender uma realidade nova que parecia fazer mais sentido luz das
concepes tericas da History from Below
6
partilhadas e amplamente desenvolvidas
por Thompson eseus companheiros daNew Left.
7
Apartir da leitura dos trabalhos de Thompson, alguns setores da historiografia
brasileira adentraram ocomplicado terreno das relaes do marxismo com a cultura,
para, apartir da, recompor amemria cultural das "camadas populares". Isto significou,
ao mesmo tempo, questionar a perspectiva que concebe os homens como produtos de
foras materiais que os determinam por completo. Com oexerccio thompsoniano de
introduzir a questo da cultura como fenmeno importante do materialismo histrico
foi possvel recuperar as teses de Marx contra Feuerbach e, com elas, aidia revolucionria
de que opovo se educa apartir de sua prpria prxis. Por conseguinte, foi possvel resgatar
tambm aconcepo segundo aqual os homens constituem-se em sujeitos de sua prpria
histria, e modificam continuamente as circunstncias em que vivem ese transformam.
8
Elenquemos, ento, alguns temas sobre os quais acontribuio de Thompson parece ser
bastante visvel, e outros em que se podem vislumbrar possibilidades de avano em
direo anovas pesquisas.
A HISTORIOGRAFIA E O TEMA DA ESCRAVIDO
Os estudos brasileiros que refletiram sobre as camadas populares, apartir de seu
universo de cultura, quase sempre evocavam este tema,no para investigar asua condio
de sujeito, mas para desenvolver aidia de passividade. Otema da escravido, por exemplo,
surge nas interpretaes clssicas, apartir da comparao com aescravido antiga, para
acentuar que os escravos da Antigidade eram culturalmente superiores aos seus
conquistadores, enquanto no Brasil eles eram de nvel cultural nfimo,porque provinham
de povos brbaros, arrancados de seu habitat natural eincludos, sem transio, numa
civilizao que aeles era inteiramente estranha. Sob esse ponto de vista, acontribuio
do escravo negro ou ndio era vista como passiva equase nula.
9
6 "Histria concebida a partir das perspectivas dos segmentos populares".
7 Cf. FENEJ.ON , D. R. E. P. Thompson - Histria e Poltica.Projeto Histria. Revista do Programa de Estudos Ps
Graduados em Histria da PUC-SP. So Paulo, 1981. pp. 77-93.
, Cf. B,IRREIRO,].C. OMaterialismo Histrico e a questo da Cultura. Revista Brasileira de Histria, 19,So Paulo,
Anpuh, 1990, pp. 209-218.
9 Cf. Prado Jr, C. Evoluo Poltica do Brasil e outros estudos. So Paulo: Brasiliense, 1977. p. 273.
TEMAS E DEBATES PARA A HISTRIA 00 BRASIL. 73
claro que faltava aessas interpretaes oentendimento de que adinmica da
relao entre culturas subordina-se aum processo que envolve criao eluta. 10 Porm,
mais do que isso, oproblemadessas consideraes que elas orientavam-se na direo de
tratar a cultura como "coisa", isto , como algo que criado pelos dominantes e
simplesmente internalizado pelas "camadas populares".Ademais, oconceito de cultura
parece que tomava como fundamento uma "fixao etnocentrista" na qual tudo
definido a partir da idia de "civilizao". Esta idia, por sua vez, constituda pela
"convico complementar de que ahistria tem um sentido nico, de que toda asociedade
est condenada a inscrever-se nesta histria e a percorrer as suas etapas que apartir da
selvageria, conduzem civilizao". 11
Thompson conseguiu produzir um resultado terico mais dinmico ao analisar
a plebe inglesa do sculo XVIII . Tal resultado decorre do conceito de cultura utilizado
como ponto de partida para analisar as lutas sociais do perodo. Sua concepo de cultura
vincula-se ao conceito de experincia, que incorpora mltiplas evidncias de vida ou de
arte dos homens, evidncias estas tratadas no plano de sua conscincia, das maneiras as
mais complexas, para em seguida agirem sobre as situaes determinadas. Thompson
examina, ento, para apreender a vida social a partir da perspectiva da "experincia
humana", os sistemas densos e complexos vinculados relaes de parentesco e aos
costumes; inclui na anlise as regras visveis einvisveis da dominao social, as formas
simblicas de dominao eresistncia, f religiosa eimpulsos milenaristas. Os costumes,
por exemplo, como elementos integrantes das definies consuetudinrias da plebe inglesa
do sculo XVIII, serviam para que ela mostrasse a dimenso rebelde da sua cultura
tradicional s inovaes e racionalizaes por ela experimentadas como explorao,
expropriao de direitos de aproveitamentos tradicionais ou denegao violenta de modelos
valorativos de trabalho e descanso. Aexpresso simblica aparece como mecanismo
particularmente importante do comportamento da plebe em relao igrej aou nobreza,
como o caso, por exemplo, do simbolismo do nabo edos cornos, usado jocosamente para
definir arelao da plebe com orei Jorge LPode-se perceber, pois, que otermo "cultura",
bsico no desenvolvimento do conceito de "experincia humana" ena recuperao dos
elementos fundamentais para a reconstituio do confronto entre a plebe e a gentry,
fundamenta-se na melhor tradio terica dos estudos antropolgicos utilizados por
10 Cf. SAMUEI., R. (ed.) Histl'ia popular y teoria socialista. Barcelona: Editorial Crtica, 1984. p. 89ss.
II Aexpresso "fixao etnocentrista" usada por Pierre Clastres ao criticar as anlises das sociedades primitivas,
efetuadas a partir de enfoques evolucionistas, que privilegiam idias provindas do campo ideolgico do
Ocidente. Cf. P.A Sociedade contra oEstado. Rio de]aneiro: Francisco Alves, 1978. pp. 132-152.
74. MEDIAES VOL. 9-N. 1/2004
Thompson. Ao invs de jogar com a dicotomia civilizao versus barbrie, o autor
reconstitui adinmica da vida social apartir do conjunto de normas, valores, obrigaes,
expectativas etabus existentes em cada um dos grupos sociais. 12
Evidentemente, apartir dessas concepes de Thompson, alguns estudos sobre
escravido no Brasil passaram aenfatizar acultura africana em sua multiplicidade,
complexidade e especificidade, no mais a avaliando por comparao com a
"civilizao" europia. Para isto contribuiu tambm a discusso de Thompson a
respeito da operacionalidade analtica do termo "paternalismo", em substituio a
termos genricos como "feudal", "capitalista" ou "patriarcal", oque oampara na
crtica s anlises tradicionais da sociedade inglesa do sculo XVIII, que a
apresentavam como uma sociedade consensual.
Estes foram pontos fundamentais buscados por alguns autores paraprocederem
critica da historiografia da escravido dos anos 1960170. Nestes anos, a historiografia
construiu a imagem de um mundo governado pelos interesses senhoriais, no qual a
dominao sobre a massa escrava era opressiva eviolenta. Anfase na violncia e na
anlise dos interesses econmicos da escravido conduzia tais reflexes a privilegiar a
viso senhorial e a excluir os escravos.
Recorrendo, portanto, ao conceito de cultura e discusso sobre o termo
paternalismo, os historiadores comeam ainsistir na necessidade de incluir aexperincia
escrava na histria da escravido no Brasil. As anlises passaram aevidenciar que, se por
um lado, os senhores consideravam os escravos como "coisas" ou seres destitudos de
vontade prpria, por outro, os prprios escravos emergiam na cena social como homens e
mulheres que impunham limites vontade senhorial. Eles possuam projetos e idias
prprias pelos quais lutavam econquistavam pequenas egrandes vitrias, que os senhores
no reconheciam, porque se tratava, para eles, de generosas e paternais concesses.
Contudo, os escravos traduziam esse paternalismo numa doutrina diferente da imaginada
pelos senhores, e as concesses senhoriais transformavam-se em conquistas obtidas
duramente devendo, portanto, serem mantidas como direitos. 13
12 Cf. THOMPSON, E.P. Tradicin, revuelta yconsciencia de clase. Barcelona: Editorial Crtica, 1979. pp .45-53.
13 Cf. Lw, S.H. Blowin's in the Wind. E.P. Thompson e a experincia negra no Brasil. Projeto Histria, 12, 1995,
pp. 43-56; Idem Campos da Violncia: escravos e senhores na Capitania do Rio de janeil'O 0750-1808).
Rio de Janeiro: paz eTerra, 1988; REIS,].]. Rebelio Esera/ia no Brasil: a histria do levante dos Mals. So
Paulo: Brasiliense, 1986; CfIALHOUB, S. Vises da Liberdade. Uma Histria das zltimas dcadas da escravido
na Corte. So Paulo: Companhia das Letras, 1990.
TEMAS E DEBATES PARA A HISTRIA DO BRASIL. 75
POLTICAS E IMAGINRIOS
Se em relao escravido os trabalhos de Thompson estimularam inovaes
importantes, preciso lembrar outros aspectos da histria do Brasil que ainda esto
espera de uma reviso. este o caso do tratamento que tem sido dado ao estudo do
homem comum, suaculturaesua relao com as elites dominantes, apartir do surgimento
da modernidade. Tal lacuna pode ser observada quando voltamos nosso olhar para os
estudos sobre aindependnciado Brasil, e, conseqentemente, das "ideologias importadas"
que compem o quadro da formao do Estado Nacional Brasileiro. Neste terreno
bastante frtil aveiculao de concepes de histria informadas pela idia de progresso.
Afilma-se, em geral, que naquele momento a"pobreza ideolgica" dapopulao brasileira,
em sua maioria analfabeta, "inculta" e"atrasada", constitua-se em agente deformador
das idias iluministas que chegavam ao Brasil. 14 Contudo, possvel que tais argumentos
no se sustentem nem mesmo apartir da lgica de sua prpria constituio interna, pois
sabido que at mesmo na Frana pr-revolucionria, o ndice de analfabetismo da
populao era extremamente alto. As cidades maiores, como Paris, apresentavam cifras
que talvez chegassem a 60%. Aos escritos de Rousseau tinha acesso apenas uma elite
alfabetizada. Ofrancs comum s conseguia ter acesso a essas idias em segunda ou
terceira mos. Nem por isso a Frana deixou de ser um dos pases que mais criou,
sistematizou e difundiu o iderio iluminista.
1s
No se trata, pois, de vincular oanalfabetismo idia de atraso para apontar a
leitura "errada" e "deformante" que as "camadas populares" do Brasil fizeram do
Iluminismo. Talvez, o caminho mais rico seja o de investigar que tipo de leitura as
"camadas populares" aqui procederam, apartir de sua experincia cultural especfica.
Uma sociedade analfabeta recobre caractersticas que remetem s especificidades da cultura
oral em relao cultura letrada.16 Neste sentido, oimportante indagar a respeito do
processo que pode ter levado as "camadas populares" are-traduzirem todo um universo
intelectual da cultura letrada e, apartir de sua cultura, herdada pela transmisso oral,
14 Cf. CoSTA, E. V. da. Da monarquia Repblica: Momentos Decisivos. So Paulo: Grijalbo, 1978. pp. 27s.
I; Cf. RUD , G. Ideologia e Protesto Popular. Rio de]aneiro: Zahar, 1982. p. 31s.
16 So inmeros os trabalhos que discorrem sobre aespecificidade da cultura oral em relao cultura letrada.
Vale a pena mencionar, pelo menos: THOMPSON, E.P. li'adicion, Revuelta y Conscincia de Clase. Barcelona:
Editorial Crtica, 1979. Uma das caractersticas da cultura oral, para esse autor, reside no fato de que ela est
referida sobretudo a uma "sociedade analfabeta", razo pela qual a "memria popular" a
"extraordinariamente ampla". Cf. especialmente p. 102. Para um estudo sobre a oralidade como forma
especfica de comunicao das sociedades tradicionais, cf. CERTEAU, M. de. "Etnographie: L'oralit ou l'espace
de l'autre". In: L'cl'itul'e de I'Histoil'e. Paris: Gallimard, 1975. pp. 215-248.
76. MEDIAES VOL. 9-N.l/2004
.conseguir pensar diferente. 17 possvel que uma abordagem de tal natureza estimule
pelo menos areflexo sobre oque foi aprtica polticadas "camadas populares" brasileiras,
apartir do resultado da complexa combinao entre suas formas "menos estruturadas de
pensamento" (mitos, idias simples, tradio) com as chamadas "ideologias derivadas"
ou sistemas "mais estruturados" de idias (Direitos do Homem, Laissezjaire,etc.).
Thompson desenvolve, de forma instigante, oproblema da especificidade da
cultura oral, ao estudar os movimentos pr-industriais da Inglaterra do sculo XVIII.
No limiar da Revoluo Industrial apreservao da memria significar um poderoso
instrumento de luta contra a opresso imposta pelo livre-cambismo plebe inglesa.
Nos motins da fome contra olivre-cambismo aplebe exibia um modelo de conduta
cuj a ao central referia-se ao resgate de procedimentos de 150 anos atrs contidos
no Livro de Ordens, que determinavam para os funcionrios da justia afiscalizao
dos mercados para se certificarem de que eles estavam provendo os pobres dos gros
necessrios e, ao mesmo tempo, fixando os preos fora das leis da livre concorrncia.
Thompson diz ento que esta legislao de emergncia se foi desmoronando durante
as guerras civis. Porm a memria popular, especialmente em uma sociedade
analfabeta, extraordinariamente ampla. Pouca dvida existe de que h uma
tradio direta que se estende desde oLivro de Ordens de 1630 at os movimentos
dos trabalhadores de confeco no leste e oeste da Inglaterra do sculo XVIII. Aqui
tambm Thompson liberta-se da interpretao simplista segundo a qual a plebe
inculta eatrasada no consegue entender as novas idias eas novas prticas. Recorrer
aprticas medievais enquanto oliberalismo plantava asemente da "modernidade"
parece caracterizar, de fato, um comportamento atrasado da plebe. Porm, trata-se
de interrogar, mostra Thompson, de que forma os pobres experimentaram as novas
idias na Inglaterra do perodo.18 Na verdade, oliberalismo foi experimentado pela
plebe inglesa no como progresso, mas sim como retrocesso. Os cercamentos
retiraram-lhes direitos tradicionais. O livre-cambismo gerou uma situao de escassez
profunda efome entre os pobres.Thompson revela, enfim, que aquesto do "atraso"
no to linear. Ao procurar entender a histria social do sculo XVIII como uma
srie de confrontos entre uma inovadora economia de mercado e a economia moral
tradicional da plebe, o autor revela uma curiosa dialtica. Aplebe inglesa era
tradicional em suas formas, ao recorrer a um modelo medieval de conduta. Porm,
17 Cf. anlise de GINZBURG, C. Oqueijo e os vermes: o cotidiano e as idias de um moleiro perseguido pela
Inquisio. So Paulo: Companhia das Letras, 1987.
18 Cf. TliOMPSON, E.F 1989, Op. cito p. 102.
TEMAS E DEBATES PARA A HISTRIA DO BRASIL. 77
r
era revolucionria em seu contedo, ao lutar contra a opresso das novas formas
sociais epolticas. um pouco desta dialtica complexa que precisamos resgatar no
processo de reconstituio das lutas sociais no Brasil do sculo XIX.
Os ESPAOS NO,INSTITUCIONAIS
Thompson abriu caminhos instigantes para aelaborao de uma histria popular,
ao valorizar oestudo de seus espaos no especificamente institucionais. Ao aferirem a
ao poltica das camadas populares apartir da referncia institucional, exclusivamente,
muitos historiadores acabaram minimizando aquilo que, em suas obras, anunciava-se
como possibilidade frtil de recuperao da memria histrica das camadas populares,
porque desconsideraram a importncia de espaos de sociabilidade especificamente
populares. So ainda pouco expressivas, na historiografia brasileira, as pesquisas que
procuram entender a ao poltica das "camadas populares" a partir de espaos de
sociabilidade como os vinculados s feiras, pousadas e vendas de beira de estrada. Ao
estudar ce110s aspectos da organizao eda cultura das classes subalternas da sociedade
brasileirado sculo XIX, pudemos perceber, porexemplo, que nesses lugares entrecruzavam
se tradies variadas e desenvolvia-se o exerccio de negao das representaes e das
prticas sociais dominantes, que dava sentido s lutas sociais dos subalternos daquele
perodo. Assim, ao apontarmos para uma abordagem que considere os diversos nveis de
estruturao das "camadas populares", vamos tambm desfazendo aidia da referncia
institucional dos partidos, das associaes sindicais eda fbrica como espaos exclusivos
em que poderia ocon'er aconstituio do "sujeito revolucionrio".
Thompson no foi, evidentemente, o nico a discutir a importncia de tais
espaos. Oestudo de Benjamin, por exemplo, ao analisar a boemia na Paris do
sculo XIX, registra a relevncia social e poltica do espao das tabernas e critica
Marx por t-lo visto de forma depreciativa. 19 Mas de Thompson, ao estudar a classe
trabalhadora inglesa do sculo XVIII, otrabalho mais sugestivo neste aspecto, para
uma re-tematizao da histria das "camadas populares" do Brasil do sculo XIX.
Este autor acentua a necessidade de estudos sobre a taberna e seus freqentadores.
Diz, ao analisar o que se escreveu sobre o trabalhador ingls: "Os que pretenderam
19 Cf. BENJAMIN, W. AParis do Segundo Imprio em Baudelaire. In: KHOTE, F.R. (Org.). Watter Benjamin. (Coleo
Grandes Cientistas Sociais, vol. 50) . So Paulo: tica, 1985. p. 50.
78. MEDIAES VOL. 9-N. 1/2004
enfatizar os antecedentes constitucionais sbrios do movimento operrio por vezes
minimizaram seus traos mais robustos edesordeiros. Oque podemos fazer ter em
mente a advertncia. Precisamos de mais estudos sobre as atitudes sociais dos
criminosos, soldados e marinheiros, esobre avida de taberna; deveramos olhar as
evidncias, no com olhos moralizadores (nem sempre os "pobres de Cristo" eram
agradveis) , mas com olhos para os valores brechtianos - ofatalismo, a ironia em
face das homilias do Establishment, a tenacidade da auto-preservao. Edevemos
tambm lembrar o "submundo" do cantor de baladas e das feiras, que transmitiu
tradies para o sculo XIX (at o music-hall, a cultura de circo de Dickens ou os
contadores de histria eanimadores de Hardy); pois desta forma os 'sem linguagem
articulada' conservam certos valores - espontaneidade, capacidade para diverso e
lealdade mtua -, apesar das presses inibidoras de magistrados, usineiros e
metodistas" . 20
Nesta mesma linha de nfase aos nveis diversificados de socializao e
estruturao dos subalternos, preciso lembrar o exemplo dos moinhos, espao
similar venda, caractersticos de diversas regies emomentos da histria da Europa,
e que foi objeto de bastante ateno por parte de Ginzburg, ao discorrer sobre a
cultura popular europia do sculo XVI, apartir da vida do moleiro Menocchio. So
espaos como estes, analisados por Thompson, que precisam ser relevados na
reconstituio da memria cultural das "camadas populares" do sculo XIX brasileiro.
Aanlise desses espaos sociais pode ensejar oacesso afragmentos importantes da vida
cotidiana do homem comum. Embora no se possa libertar aqui do carter fugidio,
fragmentrio e esparso que define as ideologias populares, estudar a taberna e seus
freqentadores significa dar um passo decisivo no trabalho de reconstituio da memria
cultural das camadas populares do sculo XIX brasileiro.
RITUAIS POPULARES
Thompson devotou importante reflexo acertos rituais de protestos populares da
Inglaterra do sculo XVIII e s suas formas ricamente diversificadas, que receberam a
denominao genrica de rough musicY Ele estudou-a por comparao com seu
correspondente francs, ocharivari, e, sobretudo, acompanhou com uma erudio sem
20 Cf. THOMPSON, E. P. The Making of lheEnglish WOl'king C/ass. London, Penguin Books, 1968, p. 63-64.
21 Cf.TfIO)l PSON, E. P. Cus/OlnS in Common. NewYork: The New York University Press, 1991.
TEMAS E DEBATES PARA A HISTRlA 00 BRASIL. 79
par amigrao desses rituais para vrias partes da Inglaterra esuas colnias, bem como
para outras partes do mundo. Pde ento interpret-los e aferir a sua importncia nas
lutas populares do sculo XVIII, e sua dimenso como componentes expressivos do
vocabulrio simblico da poca. Com Thompson, entramos no universo fascinante eao
mesmo tempo complicado da decifrao do significado das rough music, termo
comumente usado para denotar cacofonia rude, com ou sem ritual mais elaborado,
normalmente empregado para dirigir zombarias ou hostilidades contra indivduos que
desrespeitavam certas normas da comunidade.
Thompson desenvolveu uma percepo terica bastante cuidadosapara apreender
osignificado das rough music, propondo um encaminhamento que negava qualquer
valor auma anlise estritamente estruturalista, em que os elementos mticos do ritual se
sobrepusessem ao processo social e o substitussem pela lgica formal. Por outro lado,
estava tambm bastante atento desintegrao das propriedades mticas do ritual, que
pudesse ser ocasionada por qualquer empirismo mais afoito. Este estudo oferece algum
amparo terico eabre perspectivas imensas para apesquisa das manifestaes populares
contra as formas excludentes com que as elites brasileiras encaminhavam aorganizao
do Estado brasileiro desde fins do sculo XVIII.
Se os rituais vinculados s rough music inglesas echarivari franceses eram
extremamente complexos e diversificados em suas formas, como reconhecia
Thompson, oque dizer de formas expressivas dessa mesma natureza, que emergiam
do interior de uma sociedade multirracial, como a brasileira, com elementos de
vrios povos eetnias compondo seu universo cultural? Trata-se, efetivamente, de um
grande desafio, entender como, no amplo movimento de povos eculturas que
caracterizou onascimento da modernidade, estas formas acomodaram-se ao caldo
cultural brasileiro, ganhando vida prpria.
No difcil encontrarmos no Brasil manifestaes populares com caractersticas
bastante similares s rough music, estudadas por Thompson na Inglaterra do sculo
XVIII . Em Pernambuco, os escritos de um folclorista
22
nos fazem reviver os momentos
que antecederam a partida de Dom Toms, quando este deixava em 1798 ogoverno da
Provncia. Naquela oportunidade ouvia-se o povo cantar em versos jocosos, o fato do
Governador ter sido "chifrado" por sua amante, Dona Brites. O povo cantava em versos
que quando Dom Toms partira, Dona Brites aparentou chorar de tristeza, mas
22 Cf. PEREIRA DA COSTA, F. A. Anais Pernambucanos. 1795-1817. Recife, Arquivo Pblico Estadual - Secretaria do
Interior eJustia, 1958, vol. VI.
L-______________________________________________________________________________________________
8O. MEDIAES VOL. 9-N.l/2004
.disfaradamente sorria, porque, to logo Dom Toms virara as costas ela j estava nos
braos de Chiquinho da Ribeira, oarrematante de dzimos do mercado pblico do Bairro
Santo Antnio, que D. Toms construra. No se tm detalhes a respeito dessa zombaria
hostil do povo contraseu Governador, exceto ade que os versos eram cantados com msica
prpria. Contudo, eram versos fceis de serem memorizados pela multido, os chamados
nominy.23 No h tambm informaes a respeito do acompanhamento instrumental
rude e primitivo que normalmente compunha esse tipo de ritual na Inglaterra e em
outras partes do mundo em que foi encontrado. Sabendo, contudo, da forma draconiana
com que o povo era tratado naquela provncia, possvel que essa zombaria fosse
desencadeada de forma mais ou menos contida, para evitar reprimendas. De qualquer
forma, tratava-se de uma manifestao popular que respondeu aos maus tratos eabusos
desfechados pelo Governador, ridicularizando-o no que havia de mais sagrado numa
sociedade de tipo patriarcal: a traio e a infidelidade.Estes eram temas sempre explorados
quando a plebe inglesa queria hostilizar seu rei ou autoridade importante do reino,
caracterizando tambm os rituais franceses denominados charivari.
Este ritual, zombando de D. Toms e sua amante, tem estreita conexo com
outro, que pudemos recolher do mesmo folclorista. Trata-se de um castigo imposto pelo
Governador em questo aSimplcio, um indivduo do segmento social livre esem posse
da poca. Por ter roubado uma tainha do viveiro do Governador, foi preso econdenado a
trabalho forado at secar opeixe furtado que trazia amarrado ao prprio pescoo. O
crime de Simplcio foi, neste episdio, considerado duplamente grave. Primeiramente,
porque aao criminal foi desencadeada contra oGovernador,que personificava opoder
de Estado. Em segundo lugar, o crime mereceu severa punio porque violava os preceitos
judiciais burgueses relativos propriedade privada, numa ordem social em que amesma
estava em pleno processo de constituio.
Em ambos os rituais, a publicizao aparece como componente importante
tanto do castigo imposto a um homem comum, quanto a hostilidade dirigida ao
Governador esua amante. Trata-se de estratgias que derivam seus recursos da transmisso
oral, numa sociedade que regula asua autoridade econduta moral por meio de formas
teatrais, do espetculo da justia e da punio pblica. possvel que o elemento da
publicizao dos castigos, instrumento comum das classes dominantes at incios do
sculo XIX, tenha se irradiado sobre a cultura popular e enriquecido seu vocabulrio
simblico de contestao.
23 Eram versos to fceis de serem memorizados como as rimas infantis e que tambm permitiam que se
acrescentassem improvisaes apropriadas vtima e ocasio. Cf. THOMPSON. 1991, op. cito
TEMAS E DEBATES PARA A HISTRIA DO BRASIL. 81
Mas preciso lembrar que no apenas os folcloristas so fontes nas quais
encontramos registros desses rituais. Os viajantes estrangeiros so muitas vezes as fontes
primrias de que se servem os prprios folcloristas.Debret, por exemplo, recolhe detalhes
preciosos de certos rituais cercados de componentes culturais e religiosos mais
especificamente portugueses,como amalhao do Judas. Trata-se de um ritual encenado
com efeito teatral extraordinrio, animado por um grupo bastante agitado ebarulhento
de pessoas, entremeadas por turbilhes de fumaas epetardos detonados. Dois bonecos
compem ocenrio central, um representandoJudas eoutro oDiabo, que serve de carrasco.
Desde a vinda da Corte portuguesa, as autoridades policiais tentavam impedir os
ajuntamentos em tomo desses rituais, temerosas de protestos populares. Aqui tambm
zombarias ehostilidades eram impingidas, sobretudo, contra personagens importantes
do governo,como foi ocaso dos rituais do sbado de Aleluia de 1831, em que vrios deles
foram submetidos ao simulacro do enforcamento, inclusive oministro intendente geral
e o comandante das foras militares da polcia. 24
Arua era sempre oprincipal cenrio utilizado pela populao para ridicularizar
personagens que se destacavam nas fileiras dos infames. Oviaj ante ingls Luccock assistiu
eregistrou no Rio de Janeiro, rituais cuja estratgia era ade introduzir letra jocosa com
onome do indivduo visado, em msica conhecida, que se tocava geralmente pelas ruas,
como, por exemplo, a que acompanhava diariamente os militares no Rio de Janeiro,
quando marchavam do quartel at o palcio. Oridculo era aplicado de forma to
eficiente que oindivduo visado s vezes perdia ocargo e tinha que desaparecer. Uma
dessas reprimendas foi aplicada em incios do sculo XIX aum ilustre membro das elites,
como castigo por liderar uma reforma do catolicismo no Brasil.2
5
Estes no constituem os nicos exemplos de rituais de protestos que podem
ser encontrados na histria da participao das classes subalternas e sua co
participao na formao do Estado eda nao no Brasil. Nem mesmo poderamos
dizer que se tratam de manifestaes desconectadas umas das outras. mais plausvel
conceb-las como parte da formao cultural complexa emultiforme da formao
das classes trabalhadoras no Brasil.
24 Cf. DEli RET, ].-B. Viagem pitoresca e hist6rica ao Brasil. So Paulo/Braslia: Martins Fontes/Instituto Nacional
do Livro e Ministrio da Educao e Cultura, 1975. tomo 11, vol. m. p. 190ss.
25 Cf. LuCCOCK,]. Notas sobre o Rio dejaneiro e partes meridionais do Brasil. (Coleo Reconquista do Brasil ,
vol. 21) . So PaulolBelo Horizonte: Edusp/Itatiaia, 1975.
82. M E D ~ E S VOL. 9-N.l/2004
Por fim, necessrio enfatizar que as reflexes deste artigo no se pretendem
como crtica exaustiva do percurso intelectual de Edward Thompson, nem tampouco da
historiografia clssica econtempornea do Brasil. Nosso objetivo foi muito mais explorar
possibilidades que aobrade Thompson oferece para apesquisahistrica no Brasil, algumas
das quais temos abraado como causa importante.
Você também pode gostar
- A história à prova do tempo - 2ª edição: Da história em migalhas ao resgate do sentidoNo EverandA história à prova do tempo - 2ª edição: Da história em migalhas ao resgate do sentidoAinda não há avaliações
- Resenha História Social de Hebe CastroDocumento7 páginasResenha História Social de Hebe CastroRubens Nunes Moraes71% (7)
- Teorias Da HistóriaDocumento10 páginasTeorias Da HistóriaAugusto RibeiroAinda não há avaliações
- Teorias Da História MestradoDocumento4 páginasTeorias Da História MestradomateusAinda não há avaliações
- Tese Murilo Leal Pereira Neto PDFDocumento499 páginasTese Murilo Leal Pereira Neto PDFErtonrsAinda não há avaliações
- Por Uma História Da Esquerda Brasileira - Maria Paula Nascimento AraújoDocumento21 páginasPor Uma História Da Esquerda Brasileira - Maria Paula Nascimento AraújoCastro RicardoAinda não há avaliações
- RAZÃO E UTOPIA Thompson e A HistóriaDocumento5 páginasRAZÃO E UTOPIA Thompson e A HistóriaEduardo LisboaAinda não há avaliações
- E. P. Thompson No Brasil Recepção e Usos Antonio Luigi Negro PDFDocumento11 páginasE. P. Thompson No Brasil Recepção e Usos Antonio Luigi Negro PDFreginaAinda não há avaliações
- A Escola Britânica Do MarxismoDocumento2 páginasA Escola Britânica Do MarxismoAntônio Marcos de LimaAinda não há avaliações
- Prova - Fundamentos Socio AntropológicosDocumento5 páginasProva - Fundamentos Socio AntropológicosGustavo RodriguesAinda não há avaliações
- As Guinadas LinguísticasDocumento14 páginasAs Guinadas LinguísticasiaventoAinda não há avaliações
- A Escola Britânica Do MarxismoDocumento4 páginasA Escola Britânica Do MarxismoGabriel DominguesAinda não há avaliações
- Correntes HistoriograficasDocumento5 páginasCorrentes HistoriograficasKarlReyes100% (2)
- Mario Ferreira Dos Santos - Filosofia e História Da Cultura 03Documento102 páginasMario Ferreira Dos Santos - Filosofia e História Da Cultura 03zelonh100% (2)
- (METODOLOGIA I) THOMPSON E. P. A Peculiaridade Dos Ingleses e Outros Artigos (Introduções e Algumas Observações Sobre A Falsa Consciência)Documento6 páginas(METODOLOGIA I) THOMPSON E. P. A Peculiaridade Dos Ingleses e Outros Artigos (Introduções e Algumas Observações Sobre A Falsa Consciência)Fábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- A História Social InglesaDocumento15 páginasA História Social InglesaSuzanaAinda não há avaliações
- Artigo - em Andamento História Das MentalidadesDocumento12 páginasArtigo - em Andamento História Das Mentalidadessaulo FerreiraAinda não há avaliações
- Olivia Pavani Naveira - Annales e A Influencia Com As Ciencias SociaisDocumento14 páginasOlivia Pavani Naveira - Annales e A Influencia Com As Ciencias SociaisMykel AlexanderAinda não há avaliações
- Marcelo Badaro Thompson e A Historiografia BrasileiraDocumento10 páginasMarcelo Badaro Thompson e A Historiografia BrasileiraLuiz Henrique BlumeAinda não há avaliações
- O Que É SociologiaDocumento4 páginasO Que É SociologiaNaellis Viana RodriguesAinda não há avaliações
- Teorias Raciais No Brasil. Um Pouco de História e HistoriografiaDocumento17 páginasTeorias Raciais No Brasil. Um Pouco de História e HistoriografiawsshistAinda não há avaliações
- A cidade celestial dos filósofos do século XVIII: baseado nas Storrs lectures apresentadas na Universidade de YaleNo EverandA cidade celestial dos filósofos do século XVIII: baseado nas Storrs lectures apresentadas na Universidade de YaleAinda não há avaliações
- Lynn Hunt Capítulo 5 FichamentoDocumento7 páginasLynn Hunt Capítulo 5 FichamentoJuan Peres de OliveiraAinda não há avaliações
- O Conceito de Experiência Histórica em Edward ThompsonDocumento11 páginasO Conceito de Experiência Histórica em Edward Thompsonsaraurrea0718Ainda não há avaliações
- Do Manifesto Comunista Ao Direito Do TrabalhoDocumento14 páginasDo Manifesto Comunista Ao Direito Do TrabalhoMarcelo HenriqueAinda não há avaliações
- Historia Do Cotidiano 07.07.11Documento252 páginasHistoria Do Cotidiano 07.07.11manuel mandebAinda não há avaliações
- Aula IDocumento53 páginasAula IMatheus EduardoAinda não há avaliações
- 09 História Oral ThomsonDocumento10 páginas09 História Oral ThomsonSheila SilvaAinda não há avaliações
- Priscila Gomes CorreaDocumento11 páginasPriscila Gomes CorreaMille LessaAinda não há avaliações
- Retornar À História - FoucaultDocumento7 páginasRetornar À História - FoucaultCláudia AlvesAinda não há avaliações
- Miséria Da Historiografia: Uma Crítica Ao Revisionismo ContemporâneoDocumento4 páginasMiséria Da Historiografia: Uma Crítica Ao Revisionismo ContemporâneoNeto FelixAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido Historiografia BrasileiraDocumento4 páginasEstudo Dirigido Historiografia Brasileiranathalia custódioAinda não há avaliações
- TEXTO 10 - STONE, L. O Ressurgimento Da Narrativa PDFDocumento23 páginasTEXTO 10 - STONE, L. O Ressurgimento Da Narrativa PDFMurilo GarciasAinda não há avaliações
- Dimensões do Político: temas e abordagens para pensar a História PolíticaNo EverandDimensões do Político: temas e abordagens para pensar a História PolíticaAinda não há avaliações
- Roteiro de Leitura Dos Textos 5 e 6 REIS e FONTANADocumento3 páginasRoteiro de Leitura Dos Textos 5 e 6 REIS e FONTANAIsabela BittencourtAinda não há avaliações
- Estado Novo: Novas HistóriasDocumento4 páginasEstado Novo: Novas HistóriasKenya AraujoAinda não há avaliações
- A CRISE DO HISTORISMO CLÁSSICO E O CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO DA HISTÓRIA SOCIAL AulaDocumento68 páginasA CRISE DO HISTORISMO CLÁSSICO E O CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO DA HISTÓRIA SOCIAL Aulaalexandre carvalhoAinda não há avaliações
- Sobre ThompsonDocumento218 páginasSobre ThompsonProf. Mekie - Laurindo Mekie PereiraAinda não há avaliações
- Resenha Texto ThompsonDocumento6 páginasResenha Texto ThompsonLuciano Cesar CostaAinda não há avaliações
- DAVIS, Ângela - Os Legados de MarcuseDocumento6 páginasDAVIS, Ângela - Os Legados de MarcusegouvedelAinda não há avaliações
- Sobre História, de Eric HobsbawmDocumento6 páginasSobre História, de Eric HobsbawmHelio CordeiroAinda não há avaliações
- A Contribuição de Thompson para Os Estudos HistoricosDocumento20 páginasA Contribuição de Thompson para Os Estudos Historicosnicacio18Ainda não há avaliações
- Sobre HistóriaDocumento6 páginasSobre HistóriadocsprofessorjoseguilhermeAinda não há avaliações
- A Nova História CulturalDocumento17 páginasA Nova História CulturalLia MacárioAinda não há avaliações
- Boaventura de Sousa Santos e A "Pós - Modernidade de Contestação - Unesp PDFDocumento17 páginasBoaventura de Sousa Santos e A "Pós - Modernidade de Contestação - Unesp PDFFlávia GabrielaAinda não há avaliações
- Czajka - Rodrigo - Livros Da Subversão - Imprensa Comunista e A Coleção Historia Nova Do BrasilDocumento15 páginasCzajka - Rodrigo - Livros Da Subversão - Imprensa Comunista e A Coleção Historia Nova Do BrasilKate KateAinda não há avaliações
- Folclore, Antropologia e História SocialDocumento15 páginasFolclore, Antropologia e História SocialFábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- A "Nova" Historiografia BrasileiraDocumento52 páginasA "Nova" Historiografia BrasileiraLuiza RiosAinda não há avaliações
- Annales PDFDocumento14 páginasAnnales PDFestevaofreixoAinda não há avaliações
- Texto Aula 11Documento16 páginasTexto Aula 11Renata M. SoaresAinda não há avaliações
- AULA 5 e 6Documento47 páginasAULA 5 e 6Caio CesarAinda não há avaliações
- 100 Anos da Revolução de Outubro (1917 – 2017): Balanços e PerspectivasNo Everand100 Anos da Revolução de Outubro (1917 – 2017): Balanços e PerspectivasAinda não há avaliações
- Fund. Teor. e Met. Do Ens. de História.Documento27 páginasFund. Teor. e Met. Do Ens. de História.Márcio Aurélio Miranda MoreiraAinda não há avaliações
- E.P. ThompsonDocumento24 páginasE.P. ThompsonPaulo Vitor da SilveiraAinda não há avaliações
- Aula 1-História Dos Movimentos Sociais No BrasilDocumento27 páginasAula 1-História Dos Movimentos Sociais No BrasilranieriksousaAinda não há avaliações
- Três Bês: Baltasar, Blimunda e Bartolomeu Transgridem Os Mecanismos Opressores em Memorial Do ConventoDocumento12 páginasTrês Bês: Baltasar, Blimunda e Bartolomeu Transgridem Os Mecanismos Opressores em Memorial Do ConventoPEDRO TIAGO SILVA FERREIRAAinda não há avaliações
- THOMPSON Edward P Senhores e Caçadores A Origem Da Lei NegraDocumento17 páginasTHOMPSON Edward P Senhores e Caçadores A Origem Da Lei NegraCarlos Alberto AfonsusAinda não há avaliações
- 1 Curso 2 Licenciatura Questionário Pedagogia Completo Faveni 2020 - Passei DiretoDocumento20 páginas1 Curso 2 Licenciatura Questionário Pedagogia Completo Faveni 2020 - Passei DiretosoeniAinda não há avaliações
- A Geografia e A Realidade Escolar ContemporâneaDocumento16 páginasA Geografia e A Realidade Escolar ContemporâneaGilberto Oliveira Jr.Ainda não há avaliações
- 35415-Texto Do Artigo-41706-1-10-20120731Documento19 páginas35415-Texto Do Artigo-41706-1-10-20120731Tania coutoAinda não há avaliações
- Nem Jardim Encantado Nem Clube Dos Intelectuais DesencantadosDocumento15 páginasNem Jardim Encantado Nem Clube Dos Intelectuais DesencantadosIsabel ArrudaAinda não há avaliações
- 129678514Documento10 páginas129678514felipeAinda não há avaliações
- RFP Calcário Nobres-MTDocumento71 páginasRFP Calcário Nobres-MTFelipeAinda não há avaliações
- CPMI RelatorioFinal VolumeI PDFDocumento415 páginasCPMI RelatorioFinal VolumeI PDFMarco Aurelio CaroneAinda não há avaliações
- Teoria Do Poder Michel FoucaultDocumento7 páginasTeoria Do Poder Michel FoucaultMulticopias CopiadoraAinda não há avaliações
- ÉticaDocumento10 páginasÉticaAny SouzaAinda não há avaliações
- Serviço Social e Processo de Trabalho 1Documento27 páginasServiço Social e Processo de Trabalho 1psithaiscasadamulherAinda não há avaliações
- Trabalho Final de AndreDocumento21 páginasTrabalho Final de AndreLezzio ElidioAinda não há avaliações
- Manual SSMADocumento51 páginasManual SSMAGetúlio JúniorAinda não há avaliações
- História Do Direito: Henrique AbelDocumento16 páginasHistória Do Direito: Henrique AbelLukas LobaskiAinda não há avaliações
- Geografia Agrária: Assentamento de Trabalhadores Rurais Dos Cocais - Município de Casa Branca-Estado de São PauloDocumento93 páginasGeografia Agrária: Assentamento de Trabalhadores Rurais Dos Cocais - Município de Casa Branca-Estado de São PauloQuenito JulioAinda não há avaliações
- Educação - Anísio Teixeira e A Escola PúblicaDocumento75 páginasEducação - Anísio Teixeira e A Escola PúblicaMaria EduardaAinda não há avaliações
- BNCC, Flexibilização Curricular e Protagonismo JuvenilDocumento18 páginasBNCC, Flexibilização Curricular e Protagonismo JuvenilDébora BarreirosAinda não há avaliações
- Trabalho de FilosofiaDocumento24 páginasTrabalho de Filosofiawairosse miguelAinda não há avaliações
- Resolução Sepm #696Documento5 páginasResolução Sepm #696walmirAinda não há avaliações
- OPERA RPG - Guia de Cenário Star Wars PDFDocumento34 páginasOPERA RPG - Guia de Cenário Star Wars PDFGensai KawakamiAinda não há avaliações
- Guia Didático História Moderna IIDocumento5 páginasGuia Didático História Moderna IIAlan TravaginAinda não há avaliações
- Lei Estadual 20922 - 2013 (Cartilha)Documento56 páginasLei Estadual 20922 - 2013 (Cartilha)Luciana LauthertAinda não há avaliações
- Manual Renovações Pré-Inscrições Através Do ECommunity e ESchoolingDocumento55 páginasManual Renovações Pré-Inscrições Através Do ECommunity e ESchoolingSusanaDuarteAinda não há avaliações
- Nao Faco Ideia Do Que Seja Mas Eh de Direito PenalDocumento198 páginasNao Faco Ideia Do Que Seja Mas Eh de Direito PenalPaulo Victor Souza SantosAinda não há avaliações
- Aula 9 - Estado LiberalDocumento10 páginasAula 9 - Estado LiberalAmílcar MagengeAinda não há avaliações
- Araribá Mais História CPDocumento24 páginasAraribá Mais História CPRudson BrenoAinda não há avaliações
- Avaliação Funcional Do IdosoDocumento45 páginasAvaliação Funcional Do IdosoDan SouzaAinda não há avaliações
- Avaliação Final IDocumento14 páginasAvaliação Final IJoão Ítalo100% (1)
- O Setor Madeireiro No AmapáDocumento25 páginasO Setor Madeireiro No AmapáallanjasperAinda não há avaliações
- Salto para o Futuro (1) PEIDocumento35 páginasSalto para o Futuro (1) PEIMarcília De Sousa SilvaAinda não há avaliações
- Ed 1891 - Toque e LeiaDocumento230 páginasEd 1891 - Toque e LeiaErnandes GuevaraAinda não há avaliações