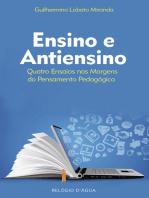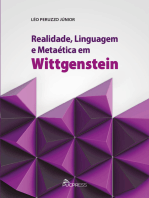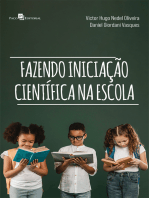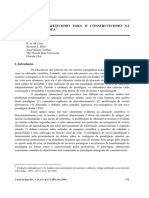Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Neutralidade Da Ciência
Enviado por
Whitney Simmons0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3K visualizações12 páginasTítulo original
A neutralidade da ciência
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3K visualizações12 páginasA Neutralidade Da Ciência
Enviado por
Whitney SimmonsDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
CONSIDERAÇÕES SOBRE
A NEUTRALIDADE DA CIÊNCIA1
Marcos BARBOSA DE OLIVEIRA2
n RESUMO: O texto apresenta uma discussão da tese da neutralidade da ciên-
cia, tomando como ponto de partida algumas formulações dos Parâmetros
Curriculares Nacionais. A neutralidade é analisada em três componentes: a
imparcialidade, a neutralidade aplicada e a neutralidade cognitiva. Procura-se
mostrar que, para não se cair no relativismo, a imparcialidade deve ser man-
tida, mas a neutralidade aplicada não se sustenta, nem como fato nem como
valor.
n PALAVRAS-CHAVE: Ciência; tecnologia; neutralidade; relativismo; imparci-
alidade; Lacey.
Nosso tema é a neutralidade da ciência. Trata-se de um tema muito
vasto e, como o título desta apresentação indica, não pretendo de forma
alguma discutir cada uma de suas facetas, meu objetivo é apenas desen-
volver algumas considerações, sumárias e parciais sobre ele.
Quanto à sua atualidade, acho que não é necessário dizer muito.
Qualquer pessoa que acompanhe, ainda que por alto, aquilo que se anda
dizendo sobre a ciência, com certeza terá encontrado com freqüência a
afirmação de que a ciência não é neutra. Para tornar a exposição mais
concreta, resolvi tomar como ponto de partida um texto em particular
onde a tese da não-neutralidade é afirmada com muita ênfase, a saber, o
texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais, nas partes referentes ao
1 Palestra proferida como parte da programação do III Encontro Internacional de Informação,
Conhecimento e Aprendizagem, realizado na UNESP – Campus de São Vicente, de 7 a 9 de
dezembro de 2001.
2 Professor Associado na Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo.
Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003 161
ensino de ciências naturais. Quando me dirijo a uma audiência de educa-
dores estas explicações são dispensáveis, mas como este não é o caso
aqui, convém esclarecer que os Parâmetros Curriculares Nacionais
(popularmente conhecidos como PCN) são o resultado de uma iniciativa
do Ministério da Educação, na gestão do ministro Paulo Renato, e refe-
rem-se ao ensino fundamental e médio. Seu objetivo é o de fornecer dire-
trizes para as várias facetas da prática educativa – conteúdos, métodos de
ensino e avaliação, etc. Os Parâmetros se materializam numa série de
volumes publicados pelo ministério a partir de 1997, e distribuídos a
todas as escolas do país. Embora não possuam força de lei, eles têm um
peso considerável, seu sentido é o de que o governo espera que todos os
trabalhadores envolvidos com a educação – professores, coordenadores
pedagógicos, diretores – façam o máximo para transformar suas reco-
mendações em realidade.
Desde o início de sua publicação, os PCN têm sido objeto de uma
intensa polêmica, e é impressionante, por exemplo, o número de disserta-
ções e teses sobre eles que vêm sendo produzidas nos programas de pós
da área de Educação. A maioria desses trabalhos têm a natureza de críti-
cas, e a crítica mais geral refere-se ao processo de elaboração dos textos,
que teria sido pouco democrático, ao não levar na devida conta as expe-
riências e as condições de trabalho daqueles que estão realmente com a
mão na massa, em particular os professores. Resultaria daí uma enorme
falta de realismo nas diretrizes prescritas. Para evitar malentendidos,
quero dizer que subscrevo tais críticas, além de outras objeções que têm
sido levantadas. Uma posição como essa não impede, entretanto, que se
reconheçam nos PCN aspectos positivos, e um destes diz respeito ao
nosso tema – a questão da neutralidade da ciência – ao qual podemos
agora retornar.
Na verdade, são surpreendentemente avançadas, a meu ver, as con-
cepções sobre a ciência e a tecnologia defendidas nos PCN. Os PCN – de
maneira geral, não somente as partes referentes às ciências naturais –
tomam como uma de suas premissas a idéia da educação para a cidada-
nia, ou seja, a tese de que além da formação necessária para o trabalho,
para o exercício de cada profissão, a educação deve contribuir para for-
mação de cidadãos, com tudo o que isso implica em termos de informa-
ção, da capacidade de refletir, de pensar com a própria cabeça, de partici-
par na vida pública, etc. Juntando esta premissa com a constatação da
enorme importância da ciência e da tecnologia no mundo de hoje, do
impacto que essas práticas têm em incontáveis aspectos de nossa vida,
tira-se a conclusão de que o ensino da ciência não pode se limitar a seus
162 Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003
aspectos por assim dizer “internos” – isto é, a suas teorias, experimentos
e métodos – mas deve explorar também seu papel na sociedade. Nos termos
dos próprios PCN:
Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do conhe-
cimento científico e com a crescente intervenção da tecnologia no dia-a-dia,
não é possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber
científico.
É importante que se supere a postura “cientificista” que levou durante
muito tempo a considerar-se o ensino de Ciências como sinônimo da descri-
ção de seu instrumental teórico ou experimental, divorciado da reflexão
sobre o significado ético dos conteúdos desenvolvidos no interior da Ciên-
cia e suas relações com o mundo do trabalho. (PCN, 1997, p.23-4)
É como manifestação desta postura crítica que os PCN enunciam a
tese da não-neutralidade da ciência. Já na “Apresentação” do volume em
pauta, p. ex., lê-se: “...este documento ... debate a importância do ensino
de Ciências Naturais para a formação da cidadania, [e] caracteriza o
conhecimento científico e tecnológico como atividades humanas, de
caráter histórico e, portanto, não-neutras. (Ibidem, p.15, itálico acres-
centado) E mais adiante: “Aos professores cabia a transmissão de conhe-
cimentos acumulados pela humanidade, por meio de aulas expositivas, e
aos alunos, a absorção das informações. O conhecimento científico era
tomado como neutro e não se punha em questão a verdade científica.”
(Ibidem, p.19, itálico acrescentado) E, para dar um último exemplo: “... é
intenção deste texto oferecer aos educadores alguns elementos que lhes
permitam compreender as dimensões do fazer científico, sua relação de
mão dupla com o tecnológico e o caráter não-neutro desses fazeres hu-
manos”. (Ibidem, p.26, itálico acrescentado)
Há ainda várias outras passagens deste teor, mas estas, acredito, já
são suficientes para trazer à tona aquilo que interessa. Porém agora vem a
pergunta: o que se quer dizer quando se afirma que a ciência e a tecnolo-
gia não são neutras? Se estamos falando de fenômenos elétricos, nós
sabemos o que significa dizer que um corpo é neutro, que o nêutron, por
exemplo, é neutro. No domínio da química, sabemos que uma substância
é neutra quando não é nem ácida nem alcalina. Mas dizer que a ciência
não é neutra, o que isto pode significar?
Os PCN não deixam isso claro; não há em parte alguma uma defini-
ção que estabeleça com um mínimo de rigor o significado da tese da
não-neutralidade. O contexto fornece algumas indicações, mas talvez o
máximo que se possa tirar delas é que a tese da não-neutralidade deve ser
Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003 163
interpretada como um convite, ou uma exortação para que se discuta, se
examine criticamente o papel da ciência na sociedade, seu impacto sobre
nossas vidas.
Nada tenho a objetar contra isso, muito pelo contrário, mas acho por
outro lado que, para realizar concretamente esse exame, é essencial esta-
belecer uma definição mais precisa. O que se segue a partir de agora são
alguns passos rumo a este objetivo. Para começar, vou enunciar dois
pré-requisitos que uma definição adequada deve satisfazer. O primeiro é
que de acordo com ela a tese deve – para usar uma expressão inglesa – ter
dentes, deve incorporar o espírito crítico em relação ao papel social da
ciência. O segundo requisito é o de que ela não implique alguma forma
de relativismo. Isto é importante porque formulações relativistas da tese
da não-neutralidade são muito comuns, especialmente na corrente
pós-moderna de crítica à ciência, e estas, a meu ver, tendem a alienar
muitas pessoas que, embora vendo com simpatia o questionamento da
ciência, são repelidas pelo irracionalismo implícito nas formulações
relativistas.
O grande problema do relativismo é seu caráter incoerente e, em
conseqüência, auto-destrutivo. Não há razão para que o princípio relati-
vista não seja aplicado a si próprio. Se não existe verdade objetiva, se
todo conhecimento é relativo a valores e interesses, então a própria afir-
mação de que isso é assim é também relativa, e seu reconhecimento uma
questão de preferência pessoal. Desta forma, o relativista nada teria a
dizer ao anti-relativista para fazê-lo mudar de idéia, e o relativismo se
esvaziaria de boa parte de seu conteúdo.
Para o racionalista, este argumento pode parecer absolutamente
conclusivo. O problema entretanto é que, por um lado, ele já é conhe-
cido há muito tempo – pelo menos desde os tempos de Platão – e é
mobilizado com bastante freqüência, em inúmeras versões, a maioria
delas muito mais eloqüente do que esta formulação extremamente abs-
trata e esquemática que acabei de apresentar. Por outro lado, a mobili-
zação freqüente do argumento não tem estancado a difusão do relativis-
mo.
A esta situação aplica-se bem o que se pode chamar de “princípio da
razão insuficiente” – o princípio segundo o qual não adianta nada ter
razão, se não conseguimos persuadir nossos interlocutores. O raciona-
lista coerente não pode simplesmente dar de ombros, e se contentar com
a convicção de que ele está certo, e o relativista está errado, pois esta
desistência de procurar um consenso significa, na prática, uma vitória do
irracionalista.
164 Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003
Diante do impasse, há pelo menos duas alternativas. A primeira con-
siste em procurar formulações ainda mais persuasivas do argumento do
caráter auto-destrutivo do relativismo, assim como de outros argumentos
anti-relativistas. Depois de tantas tentativas fracassadas ao longo de mais
de dois mil anos, esta a meu ver não é uma alternativa promissora. A
outra, que será adotada aqui, consiste numa estratégia de três etapas. A
primeira é entender as motivações que levam tantas pessoas a adotarem
posições relativistas; a segunda é identificar o que há de positivo nestas
motivações, e a terceira é mostrar como é possível contemplar este lado
positivo das motivações sem cair no relativismo.
Tudo isso está dito de uma forma muito abstrata; para tornar estas
afirmações mais inteligíveis, voltemos à nossa questão central, a da neu-
tralidade da ciência. Fomos levados a discutir o relativismo porque, em
algumas de suas possíveis interpretações, a tese da não-neutralidade da
ciência é uma tese relativista. Como observei anteriormente, o máximo
que o texto dos PCN nos permite dizer, em termos de interpretação da
tese da não-neutralidade, é que ela deve ser entendida como um convite
ao questionamento do papel da ciência e da tecnologia no mundo con-
temporâneo. Aceitando a premissa de que este questionamento deve de
fato ser promovido, já posso realizar os dois primeiros passos da estraté-
gia de três, dizendo que o que há de positivo nas motivações que levam
algumas pessoas a adotar a tese da não-neutralidade em alguma versão
relativista é esta postura crítica diante da ciência, claramente identificá-
vel na corrente pós-moderna.
O terceiro passo da estratégia torna-se então o objetivo a ser perse-
guido, qual seja, o de especificar um significado para a tese da não-neu-
tralidade que preserve seu espírito crítico, sem cair no relativismo.
Um filósofo cujas reflexões têm se dirigido a esse objetivo é Hugh
Lacey. Lacey é um filósofo da ciência australiano de nascimento, há
muito radicado nos Estados Unidos, mas que mantém uma relação muito
estreita com o Brasil. Foi professor do Departamento de Filosofia da
USP de 1969 a 1971, e desde essa época nos visita com freqüência para
dar cursos, participar de eventos, bancas, etc. Lacey publicou dois livros
recentemente: um em português, Valores e atividade científica, pela Dis-
curso Editorial, em 1998, e outro em inglês, Is science value free? Values
and scientific understanding, pela Routledge, em 1999. O primeiro é
uma coletânea de artigos, o segundo é um livro propriamente dito, que
desenvolve de maneira mais sistemática e rigorosa os temas abordados
nos artigos do primeiro. O motivo para mencionar Lacey é o de que a par-
Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003 165
tir de agora vou incorporar a esta reflexão alguns dos princípios que com-
põem sua estratégia visando o objetivo em pauta. Vou enunciar estes
princípios numa terminologia que difere um pouco da usada por ele; os
motivos para a alteração não vêm ao caso no momento. Então:
1 O conceito de neutralidade da ciência, num sentido amplo, deve
ser analisado em alguns componentes, um dos quais é a imparcialidade.
2 Outro dos componentes da neutralidade no sentido o amplo é a
neutralidade no sentido estrito, que por sua vez é formada pela neutrali-
dade aplicada e a neutralidade cognitiva.
3 O relativismo é evitado pela afirmação da tese da imparcialidade,
ou seja, a tese de que a ciência, nos termos a serem especificados, é
imparcial; o espírito crítico é mantido pela tese da não-neutralidade no
sentido estrito, ou seja, pela afirmação de que a ciência não tem como
atributos nem a neutralidade cognitiva nem a neutralidade aplicada.
Vejamos então em que consiste a imparcialidade. A imparcialidade
diz respeito ao processo de seleção de teorias no interior da ciência, ou
seja, dado um conjunto de teorias rivais sobre um domínio da realidade,
como decidimos qual delas é a melhor, qual deve ser aceita como parte
do conhecimento científico? A resposta de Lacey para esta pergunta
baseia-se numa distinção muito fundamental, a distinção entre valores
cognitivos e valores não-cognitivos. Os valores não-cognitivos são os
valores sociais e morais, ou, em outras palavras, os valores subentendi-
dos quando se afirma que a ciência é livre de valores. Os valores cogniti-
vos formam um conjunto do qual o mais importante, seguindo a tendên-
cia empirista que acabou prevalecendo na epistemologia moderna, é a
adequação empírica, a capacidade de uma teoria de dar conta dos dados
observacionais e experimentais disponíveis. Outros valores cognitivos
importantes: são a consistência lógica, o poder explicativo, a simplici-
dade, etc.
Com isso podemos definir o conceito de imparcialidade: a imparcia-
lidade consiste no uso exclusivo de valores cognitivos na seleção de teo-
rias. Na medida em que há interferência de valores não-cognitivos, a
ciência deixa de ser imparcial. Com o conceito de imparcialidade podem
ser formuladas duas teses sobre a ciência: uma normativa – a ciência
deve ser imparcial –; outra descritiva, ou factual – a ciência é imparcial.
A tese normativa por um lado pressupõe que a ciência pode ser impar-
cial, por outro ela é compatível com a negação, pelo menos até certo
ponto, da tese factual, ou seja, o fato de a ciência às vezes se afastar do
ideal de imparcialidade não implica que o ideal deva ser abandonado – da
166 Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003
mesma forma, por exemplo, que o fato de o mandamento “não matarás”
nem sempre ser obedecido não implica que ele deva ser revogado.
As versões mais radicais da tese da não-neutralidade são as que
abrem mão inclusive do ideal de imparcialidade, sustentando ser impos-
sível excluir os valores não-cognitivos do processo de seleção de teorias
no interior da ciência. Nesta linha de pensamento, a ciência não apenas
sempre foi e continua sendo parcial, mas o próprio ideal de imparciali-
dade deixa de fazer sentido. O grande problema com este radicalismo é o
que já foi apontado, a saber, que ele implica uma forma de relativismo.
Se quisermos evitar o relativismo, devemos portanto preservar a impar-
cialidade como um ideal, ou seja, como um valor. É apenas desta mane-
ira, inclusive, que se terá uma base para fazer uma crítica da ciência
quando ela deixa de ser imparcial.
Com isso dou por encerrada a discussão da imparcialidade, e passo à
neutralidade no sentido estrito, que, como vimos, divide-se em neutrali-
dade aplicada e neutralidade cognitiva. A neutralidade cognitiva constitui
um tema bem mais complexo que, devido à limitação de tempo, escapa dos
limites desta apresentação, e será tratado numa outra oportunidade.
A neutralidade aplicada diz respeito às aplicações da ciência, ou
seja, à tecnologia. Os termos em que a discussão é posta nos dias de hoje
derivam em grande parte de uma versão particular da tese da neutrali-
dade no sentido amplo, surgida num momento histórico determinado.
Trata-se de uma versão em que a neutralidade da ciência é afirmada em
contraste com a tecnologia, cuja não-neutralidade é admitida. O
momento histórico é o do pós-segunda-guerra-mundial, e neste ponto
vou recorrer a um livreto recentemente publicado, Thomas Kuhn and the
Science Wars, de Ziauddin Sardar. Sardar diz o seguinte:
Na percepção popular da ciência, a segunda guerra mundial completou
o que a primeira havia iniciado. Desta vez, via-se a ciência dirigindo o espe-
táculo no campo de batalha, e participando dos governos. Os cientistas eram
responsáveis não apenas pela invenção de formas novas e mais letais de
armas químicas e biológicas, mas por conceber, produzir e finalmente lan-
çar a bomba atômica. As nuvens em forma de cogumelo das bombas joga-
das sobre Hiroshima e Nagasaki significaram o fim da era da inocência
científica. Agora a conexão entre ciência e guerra havia se tornado mais que
evidente, a cumplicidade entre a ciência e a política tinha vindo à tona, e
todas as noções de autonomia científica haviam evaporado. O público, que
até então havia prestado atenção em grande parte nos benefícios da ciência,
viu-se de repente tendo de encarar seu lado devastador.
Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003 167
O processo contra a ciência militarizada começou com o lançamento
da publicação dissidente chamada Bulletin of the Atomic Scientists por um
grupo de físicos nucleares totalmente desencantados com o Projeto Manhat-
tan nos Estados Unidos, e se consolidou com o surgimento do CND (a Cam-
panha pelo Desarmamento Nuclear) no fim do anos 50. [...] Muitos
cientistas estavam preocupados, querendo que a Bomba não fosse vista
como uma conseqüência inevitável da física. [...] A tática consistia em ale-
gar que a ciência é neutra; é a sociedade que a pode usar para o bem ou para
o mal. Este argumento da neutralidade tornou-se a principal defesa da ciên-
cia durante as décadas de 50 e 60; e permitiu que muitos cientistas trabalhas-
sem em física atômica, até mesmo aceitando financiamentos de órgãos
militares, sem que deixassem de se considerar politicamente radicais. (Sar-
dar, 2000, p.13-4)
Como se pode ver então, a conjuntura histórica pós-segunda-guerra-
mundial gerou uma formulação particular da tese da neutralidade da ciên-
cia em que ela aparece contrastada com a não-neutralidade de suas apli-
cações, que podem ser voltadas para o bem ou para o mal. Esta
perspectiva tem em princípio certa validade. Não há dúvida de que não
apenas a ciência, mas qualquer artefato humano admite diferentes for-
mas de utilização. Uma faca de cozinha, por exemplo, pode ser usada
“para o bem” – para, digamos, descascar batatas – ou para torturar ou
assassinar uma pessoa, e neste sentido ela é neutra. Entretanto, como um
ponto de vista para a avaliação dos benefícios e malefícios da ciência
aplicada, ela deixa muito a desejar. Deixa a desejar porque de acordo
com ela, como no caso paradigmático da bomba atômica, o mal figura
como intenção explícita. Se nos limitarmos a casos desta natureza, deixa-
remos de enxergar os aspectos perniciosos das utilizações da ciência que
não fazem parte das intenções daqueles que as promovem, mas nem por
isso são menos importantes. Dentre os malefícios não-intencionais, vou
distinguir três categorias: 1) Os correspondentes aos efeitos colaterais,
2) os correspondentes às pré-condições sistêmicas, e 3) Os correspon-
dentes ao que os economistas chamam de custo de oportunidade, que
daqui a pouco vou explicar em que consiste.
Os efeitos colaterais são os mais fáceis de entender. Considerada
apenas do ponto de vista de sua conveniência, não há dúvida de que as
geladeiras são uma grande invenção, que facilita muito a vida das pes-
soas. Porém os gases usados nos sistemas de refrigeração das geladeiras,
pelo menos até recentemente, contribuem para a destruição da camada de
ozônio. É evidente que para avaliar até que ponto geladeiras são “do
bem”, ou “do mal”, não se pode desconsiderar este efeito. Em relação à
tecnologia como um todo, há uma quantidade enorme de efeitos colate-
168 Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003
rais a serem levados em conta. Eles incluem as inúmeras formas de des-
truição e degradação do meio ambiente, incluem perturbações sociais,
como por exemplo o desemprego, problemas de saúde causados pelos
aditivos químicos presentes em alimentos industrializados, incluem o
efeito estufa ... enfim, não é necessário ficar chovendo no molhado: acre-
dito que nenhum de vocês terá dificuldade em acrescentar novos itens a
essa lista.
Além destes, há ainda um outro tipo de conseqüência negativa das
inovações tecnológicas que convém incluir na categoria dos efeitos cola-
terais, embora isto envolva talvez uma ampliação do conceito. Estou me
referindo aos problemas éticos, como os associados às técnicas de clona-
gem dos seres humanos, muito em evidência recentemente. Não estou
querendo dizer que a humanidade deva recusar o desafio representado
por tais dilemas, rejeitando in limine qualquer inovação que possa provo-
cá-los. Mas é preciso não perder de vista que esses problemas são bem
reais, eles demandam uma considerável dose de energia para serem
resolvidos. Não uma energia que possa ser contabilizada em dólares;
uma energia espiritual, ou emocional, mas nem por isso menos significa-
tiva. Também não estou querendo dizer que esse dispêndio não possa ser
compensador. No caso da pílula anticoncepcional, para tomar um outro
exemplo, pode-se argumentar que sua invenção também deu origem a
um problema ético, mas – em que pesem as resistências ainda mantidas
pela Igreja Católica – que este já foi superado, e que no processo milhões
de mulheres e homens se beneficiaram com a libertação sexual tornada
viável pela pílula. Mas serão os dilemas colocados pela clonagem tão
fáceis de serem resolvidos? Será comparável o número de pessoas a
serem beneficiadas? Ou, em outras palavras, será que este tipo de inova-
ção não cria mais problemas do que resolve?
O segundo tipo de malefício não-intencional da tecnologia resulta
do fato de que algumas aplicações tecnocientíficas exigem para sua
implementação determinadas pré-condições sociais. Se estas não estão
presentes nas sociedades em que se planeja introduzir a inovação, é pre-
ciso promover as necessárias mudanças, as quais podem ter conseqüên-
cias negativas, previstas ou não. Tais conseqüências devem naturalmente
ser levadas em conta para se fazer o balanço dos benefícios e malefícios
decorrentes da inovação. Para ilustrar essas formulações abstratas, um
bom exemplo é o da chamada Revolução Verde, em que as alterações
sociais necessárias para viabilizar a introdução de técnicas agrícolas
baseadas no uso de variedade híbridas de cereais foram tão desastrosas
que no cômputo geral agravaram em vez de resolver os problemas da
Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003 169
fome nas regiões onde foi promovida, apesar do aumento de produtivi-
dade conseguido (produtividade medida apenas em termos de toneladas
por hectare).3
Passemos agora ao terceiro item de nossa lista, a saber, ao custo de
oportunidade. Esse conceito dos economistas refere-se ao processo de
tomada de decisões relativas à aplicação de recursos. A idéia, muito sen-
sata, é a de que a racionalidade de uma determinada aplicação de recur-
sos não pode ser estabelecida a partir de uma análise custo-benefício que
leve em conta apenas o montante dos recursos e o valor dos benefícios
esperados. Não pode porque é necessário considerar também os benefí-
cios que resultariam de aplicações alternativas. Para dar um exemplo
bem simples, a decisão de adquirir um telefone celular por parte de uma
família pode parecer racional se considerada isoladamente, mas não se a
família estiver em dificuldades financeiras e tiver de deixar de comprar
alimentos para adquirir o celular. O custo de oportunidade do celular
inclui assim, como elemento negativo, evidentemente, o benefício de
poder se alimentar, que seria decorrência da decisão alternativa de apli-
car o recurso na compra de comida.
Embora seja de uma sensatez cristalina, o princípio do custo de
oportunidade é muitas vezes escandalosamente esquecido. Há um tempo
atrás, por exemplo, houve uma grande controvérsia sobre a instalação de
uma fábrica da Ford no Rio Grande do Sul. Os defensores do projeto
apregoavam insistentemente o número de empregos que seriam criados,
mas faziam questão de deixar na obscuridade o número de novos empre-
gos que resultariam de aplicações alternativas dos recursos, por exemplo,
no financiamento de pequenos produtores rurais, ou na construção civil.
Aplicado à tecnologia, o princípio do custo de oportunidade dá ori-
gem a perguntas como esta: será que, do ponto de vista das condições de
saúde da totalidade dos seres humanos, os recursos destinados às pesqui-
sas de alta tecnologia, que na maioria dos casos são acessíveis apenas às
camadas mais ricas, não teriam um retorno muito maior se aplicados na
eliminação das causas dos problemas de saúde da imensa maioria pobre
da população do mundo?
Ou então consideremos a pesquisa agroecológica voltada para a pro-
dução orgânica de alimentos, em comparação com a biotecnológica rela-
cionada aos transgênicos. Assumindo não o critério limitado de produti-
vidade medida em toneladas por hectare, mas um critério amplo, que
3 Cf. Shiva (1991). Para um estudo da Revolução Verde como exemplo de falta de neutralidade nas
práticas tecnocientíficas, v. Lacey (1998), p. 79ss., e Lacey (1999), p.189ss.
170 Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003
inclua a dimensão dos riscos, bem como os impactos ambientais e sociais
dos métodos alternativos, será a pesquisa biotecnológica de fato mais
vantajosa que a agroecológica?4
Para concluir esta parte da exposição, eu diria que, quando se dei-
xam de lado esses três tipos de consideração, a defesa da alta tecnologia é
trivial, quase tautológica; fica muito fácil taxar os críticos de obscuran-
tistas, retrógrados ou mesmo ludditas. Quando eles são levados em
conta, é possível devolver a acusação. Obscurantista é quem se recusa a
discutir o papel social da ciência e da tecnologia, obscurantistas são os
países que embarcam cegamente nesta corrida de ratos pelo sucesso
científico e tecnológico, apesar do visível risco de que ela venha a termi-
nar num abismo.
Mas neste ponto, alguém poderá levantar a seguinte objeção: o tema
central em pauta é o da neutralidade ou não-neutralidade da ciência. Esta
última série de considerações diz respeito não à ciência, mas à
tecnologia. Não seria então possível aceitá-las todas, e ao mesmo tempo
continuar sustentando a tese da neutralidade da ciência?
A resposta a este questionamento baseia-se numa constatação que
vem a cada dia se tornando mais um lugar comum, a saber, a de que nos
últimos tempos a ciência e a tecnologia têm tantas dependências mútuas,
estão tão imbricadas uma na outra que a separação entre os dois domínios
vai se tornando impossível. Um entre os vários sintomas deste processo é
o neologismo tecnociência, de uso cada vez mais freqüente. Nessas con-
dições, a não-neutralidade da tecnologia por assim dizer contamina tam-
bém a ciência. O grau de imbricação não é uniforme ao longo dos vários
domínios. Atinge um máximo na biotecnologia, em setores mais tradici-
onais é menor. Embora a média geral seja alta, há um grau de
não-neutralidade aplicada em cada domínio que só pode ser estimada
com base em estudos concretos de suas particularidades. A conclusão,
em todo o caso, é a de que de maneira geral não se sustenta mais a estraté-
gia de separar a ciência da tecnologia, admitindo a relevância dos valores
sociais apenas para esta. Ou seja, no sentido da neutralidade aplicada, a
ciência não é neutra.5
Para concluir, eu diria que, conforme os objetivos estabelecidos,
esta tese da não-neutralidade aplicada atende o requisito de incorporar
4 Cf. Lacey (2002).
5 Para uma discussão mais elaborada sobre a realidade da tecnociência, v. Barbosa de Oliveira (no
prelo), seção 2.
Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003 171
uma visão crítica. Ela fornece um quadro de referência que permite acei-
tar o convite, ou exortação mencionados no início para que se examine
criticamente o papel social da ciência e da tecnologia no mundo em que
vivemos. Por outro lado – e isto pode ser demonstrado, se houver neces-
sidade – ela não ameaça a tese da imparcialidade, necessária para evitar o
relativismo. A meu ver, a análise proposta é então estruturalmente sólida.
Vejamos agora se vocês concordam comigo.
BARBOSA DE OLIVEIRA, M. B. Considerations on the neutrality of science.
Trans/Form/Ação, (São Paulo), v. 26, p.161-172, 2003.
n ABSTRACT: The work consists in a discussion of the thesis of neutrality of
science and technology, which takes as its starting point some formulations in
the Parâmetros Curriculares Nacionais. Neutrality is analised into three com-
ponents: imparciality, applied neutrality and cognitive neutrality. It is shown
that imparciality must be maintained, to avoid falling into relativism, but
applied neutrality cannot be sustained, neither as fact nor as value.
n KEYWORDS: Science; technology; neutrality; relativism; imparciality;
Lacey.
Referências bibliográficas
______. Parâmetros Curriculares Nacionais, 1a à 4a séries da Educação Funda-
mental, vol. 4 – Ciências Naturais. Brasília: Ministério da Educação e do
Desporto / Secretaria de Educação Fundamental, 1997.
LACEY, H. Valores e atividade científica. São Paulo: Discurso Editorial, 1998.
______. Is science value free?: values and scientific understanding. Londres e
Nova York: Routledge, 1999.
______. A tecnociência e os valores do Fórum Social Mundial. In: LOUREIRO,
I., CEVASCO, M.E. e LEITE, J.C. (org.), O espírito de Porto Alegre, São
Paulo: Paz e Terra, 2002.
BARBOSA DE OLIVEIRA, M.B. Desmercantilizar a tecnociência. In:
SANTOS, B.S. (org.). Um discurso sobre as ciências revisitado. São
Paulo: Cortez, no prelo.
SARDAR, Z. Thomas Kuhn and the science wars. Cambridge: Icon Books,
2000.
SHIVA, V. The violence of the green revolution : third world agriculture, eco-
logy and politics. Londres e Nova York: Zed Books, 1991.
172 Trans/Form/Ação, São Paulo, 26(1): 161-172, 2003
Você também pode gostar
- 1 Introdução e História PSICOLOGIA EDUCACIONALDocumento24 páginas1 Introdução e História PSICOLOGIA EDUCACIONALlulinhaalmeidaAinda não há avaliações
- Ciências Naturais - Atividade Avaliativa - 3BDocumento1 páginaCiências Naturais - Atividade Avaliativa - 3BJULIANA FERREIRA DO NASCIMENTOAinda não há avaliações
- Intervenção em orientação vocacional / profissional: Avaliando resultados e processosNo EverandIntervenção em orientação vocacional / profissional: Avaliando resultados e processosAinda não há avaliações
- Azanha, J.M.P.Documento8 páginasAzanha, J.M.P.Rimda SantosAinda não há avaliações
- A Psicologia TranspessoalDocumento50 páginasA Psicologia TranspessoalMihantezAinda não há avaliações
- MARQUES, Leis Gerais, Explicações e MecanismosDocumento7 páginasMARQUES, Leis Gerais, Explicações e MecanismosmauAinda não há avaliações
- Ciências Humanas e Complexidades - Rogério Lustosa Bastos-Www - LivrosGratisDocumento147 páginasCiências Humanas e Complexidades - Rogério Lustosa Bastos-Www - LivrosGratisRaphaela Caroline40% (5)
- Leotiradentes, RES Giovana e AlessandraDocumento5 páginasLeotiradentes, RES Giovana e AlessandraDanniih AlascaAinda não há avaliações
- Entrevista Com A Profa Olga PomboDocumento6 páginasEntrevista Com A Profa Olga PomboavblAinda não há avaliações
- PAVIANI, Jayme. Interdisciplinaridade - Conceitos e Distincoes (Ocr, Completo)Documento131 páginasPAVIANI, Jayme. Interdisciplinaridade - Conceitos e Distincoes (Ocr, Completo)Joice Buzzi100% (6)
- QOAM Módulo I - Janeiro e FevereiroDocumento185 páginasQOAM Módulo I - Janeiro e FevereiroAnderson AmorimAinda não há avaliações
- Sociologia - o Novo Movimento TeóricoDocumento29 páginasSociologia - o Novo Movimento TeóricoAlinne MayaraAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Educação - Unidade 3Documento25 páginasFundamentos Da Educação - Unidade 3Jucimar32Ainda não há avaliações
- Resenha CríticaDocumento2 páginasResenha CríticaCristiano AlvesAinda não há avaliações
- 2-Currículo - Teoria e PráticaDocumento12 páginas2-Currículo - Teoria e PráticaLeandro CabralAinda não há avaliações
- 7145-Texto Do Artigo-21507-1-10-20081003Documento12 páginas7145-Texto Do Artigo-21507-1-10-20081003Leonilde Fazine ChachineAinda não há avaliações
- Saber Escolar e Saber CientíficoDocumento12 páginasSaber Escolar e Saber CientíficoOscar VelezAinda não há avaliações
- Ciência Como ArgumentoDocumento24 páginasCiência Como Argumentoprof.carlaoliveira09Ainda não há avaliações
- Alexander 1987 O Novo Movimento TeóricoDocumento28 páginasAlexander 1987 O Novo Movimento TeóricoAna DanielleAinda não há avaliações
- Saber Científico Vs Saber EscolarDocumento12 páginasSaber Científico Vs Saber EscolarOscar VelezAinda não há avaliações
- 1.2 - O Método e A Pesquisa CientíficaDocumento21 páginas1.2 - O Método e A Pesquisa CientíficaEduarda TelesAinda não há avaliações
- Introdução Às Ciências SociaisDocumento54 páginasIntrodução Às Ciências SociaisPatrícia Baptista100% (4)
- Fred Kerlinger - Metodologia Da Pesquisa em Ciências SociaisDocumento198 páginasFred Kerlinger - Metodologia Da Pesquisa em Ciências SociaisLuiza Sassi100% (1)
- Artigo - DificuldadesDocumento34 páginasArtigo - DificuldadesSilvia SousaAinda não há avaliações
- Artigo Guy Berger PDFDocumento18 páginasArtigo Guy Berger PDFSara MendesAinda não há avaliações
- O Ensino de Química No Ensino CTS BrasileiroDocumento12 páginasO Ensino de Química No Ensino CTS BrasileiroGabriela AlmeidaAinda não há avaliações
- Indagações Sobre o Conhecimento No Campo Da EducaçãoDocumento32 páginasIndagações Sobre o Conhecimento No Campo Da EducaçãoCarla CristinaAinda não há avaliações
- O Novo Movimento TeóricoDocumento28 páginasO Novo Movimento TeóricoAna Luiza Rocha LimaAinda não há avaliações
- Artigo - Divulgação Científica No YouTubeDocumento15 páginasArtigo - Divulgação Científica No YouTubeAna Beatriz TumaAinda não há avaliações
- Disciplinaridade Multi Inter e Transdisciplinaridade Ivan DominguesDocumento11 páginasDisciplinaridade Multi Inter e Transdisciplinaridade Ivan DominguesHermes De Sousa VerasAinda não há avaliações
- Pedro Demo PalestraDocumento12 páginasPedro Demo PalestraEvellyn LapaAinda não há avaliações
- Análise de DiscursoDocumento281 páginasAnálise de DiscursoMichela FrançaAinda não há avaliações
- Minayo - Interdisciplinaridade e ComplexidadeDocumento8 páginasMinayo - Interdisciplinaridade e ComplexidadeMarcia MacedoAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio Supervisionado II - Yves TeixeiraDocumento21 páginasRelatório de Estágio Supervisionado II - Yves TeixeiraYvesAinda não há avaliações
- Fundamentos e Prática No Ensino de Ciências Da NaturezaDocumento6 páginasFundamentos e Prática No Ensino de Ciências Da NaturezaValter Alves Pequeno100% (1)
- Seminario 01Documento8 páginasSeminario 01Carlinha TeixeiraAinda não há avaliações
- (Kerlinger) - Metodologia Da Pesquisa em Ciências Sociais - Cap 1-5 PDFDocumento106 páginas(Kerlinger) - Metodologia Da Pesquisa em Ciências Sociais - Cap 1-5 PDFMichelle Robert100% (1)
- GARNICA - Filosofia Da Educação MatemáticaDocumento14 páginasGARNICA - Filosofia Da Educação MatemáticaVinicius SantosAinda não há avaliações
- O Lugar Da Pratica Pedagogica e Dos Saberes DocentDocumento7 páginasO Lugar Da Pratica Pedagogica e Dos Saberes DocentMiriã L OliveiraAinda não há avaliações
- Trabalho Filosofia No Ensino Médio I.Documento2 páginasTrabalho Filosofia No Ensino Médio I.Roberto AlvesAinda não há avaliações
- A Escola e A Abordagem Comparada - Rui CanárioDocumento10 páginasA Escola e A Abordagem Comparada - Rui CanárioChagas SouzaAinda não há avaliações
- Velhas e Novas ProfissionalidadesDocumento26 páginasVelhas e Novas ProfissionalidadesNair PiresAinda não há avaliações
- Metodologia e Pesquisa CientíficaDocumento37 páginasMetodologia e Pesquisa CientíficaVídeo Aulas PmmgAinda não há avaliações
- WALLERSTEIN I Analise Dos Sistemas Mundiais 1Documento13 páginasWALLERSTEIN I Analise Dos Sistemas Mundiais 1Edilson NguenhaAinda não há avaliações
- o Novo Movimento Teorico - Jeffrey Alexander - FragmentosDocumento11 páginaso Novo Movimento Teorico - Jeffrey Alexander - FragmentosLarissa Costa100% (1)
- N1 - Tri - Hugo Nilton Da SilvaDocumento3 páginasN1 - Tri - Hugo Nilton Da SilvaHugoSilvaAinda não há avaliações
- 20pgs Sven Ove Hanssson - Definindo Pseudociência e CiênciaDocumento20 páginas20pgs Sven Ove Hanssson - Definindo Pseudociência e CiênciaYgor CoelhoAinda não há avaliações
- WALLERSTEIN, I. Análise Dos Sistemas MundiaisDocumento13 páginasWALLERSTEIN, I. Análise Dos Sistemas MundiaisFelipe SimiqueliAinda não há avaliações
- E5437 Ebook Compilado Ciencias SociaisDocumento119 páginasE5437 Ebook Compilado Ciencias SociaisLaura Guimarães da Silveira100% (2)
- Dialética Na Pesquisa em EducaçãoDocumento12 páginasDialética Na Pesquisa em EducaçãoPamela FigueiredoAinda não há avaliações
- Crise Da Modernidade e Inovações Curriculares (Veiga Neto)Documento10 páginasCrise Da Modernidade e Inovações Curriculares (Veiga Neto)Diego MachadoAinda não há avaliações
- 2 - Memórias de Um Orientador de TeseDocumento14 páginas2 - Memórias de Um Orientador de TeseFlávio Henrique ShaddadAinda não há avaliações
- Artigo I - Uma Fresta Nos Bastidores - Questões Epistemologico-Metodologica Na Const Da PesquisaDocumento11 páginasArtigo I - Uma Fresta Nos Bastidores - Questões Epistemologico-Metodologica Na Const Da PesquisaCintiara MaiaAinda não há avaliações
- Teoria Da Cores de Newton-História Da Ciência PDFDocumento13 páginasTeoria Da Cores de Newton-História Da Ciência PDFIsaac MeloAinda não há avaliações
- Teoria e Metodologia Nas Ciências SociaisDocumento28 páginasTeoria e Metodologia Nas Ciências SociaisLemuel GuerraAinda não há avaliações
- Por Uma Interdisciplinaridade Focalizada Nas Ciências Humanas e Sociais - CharaudeauDocumento16 páginasPor Uma Interdisciplinaridade Focalizada Nas Ciências Humanas e Sociais - CharaudeauClayton MoreiraAinda não há avaliações
- Título Do Trabalho (Síntese Do Livro Introdução Aos Estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)Documento12 páginasTítulo Do Trabalho (Síntese Do Livro Introdução Aos Estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)Jackson Barbosa dos AnjosAinda não há avaliações
- Corradi, Dulcelena PeralisDocumento102 páginasCorradi, Dulcelena PeralisWhitney SimmonsAinda não há avaliações
- Saber e Saber Fazer No Ensino de QuímicaDocumento20 páginasSaber e Saber Fazer No Ensino de QuímicaWhitney SimmonsAinda não há avaliações
- Educação Não-FormalDocumento1 páginaEducação Não-FormalMadalena SimoesAinda não há avaliações
- Conectividade M GiordanDocumento5 páginasConectividade M GiordanWhitney SimmonsAinda não há avaliações
- Artigo JanerineDocumento17 páginasArtigo JanerineWhitney SimmonsAinda não há avaliações
- Algumas Consideracoes CriticaambientalDocumento11 páginasAlgumas Consideracoes CriticaambientalWhitney SimmonsAinda não há avaliações
- QNEsc 32 4 2010 Formad de ProfsDocumento10 páginasQNEsc 32 4 2010 Formad de ProfsWhitney SimmonsAinda não há avaliações
- ÉTICA - Curso de Depilação ProfissionalDocumento4 páginasÉTICA - Curso de Depilação ProfissionalDepiladora IsabelaAinda não há avaliações
- Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho Na Sociedade Inclusiva - Claudia WerneckDocumento217 páginasNinguém Mais Vai Ser Bonzinho Na Sociedade Inclusiva - Claudia WerneckLeonides P. Souza100% (6)
- A Importancia Da DeontologiaDocumento107 páginasA Importancia Da DeontologiaRicardo Pereira Alves100% (2)
- Jaeger SofistasDocumento27 páginasJaeger SofistasfilosofiasjbAinda não há avaliações
- Compreender e EnsinarDocumento34 páginasCompreender e EnsinarKimura97% (31)
- Questões de CH - Simulado CPPGDocumento2 páginasQuestões de CH - Simulado CPPGArtur Ferreira SilvaAinda não há avaliações
- Notas Sobre A Teoria Ator RedeDocumento9 páginasNotas Sobre A Teoria Ator RedeRodrigo Toniol100% (1)
- Plano de Ensino Direitos Humanos e Fronteiras - Caroline NogueiraDocumento4 páginasPlano de Ensino Direitos Humanos e Fronteiras - Caroline NogueiraBugarin BugarinAinda não há avaliações
- Jung e KantDocumento7 páginasJung e KantconservadorAinda não há avaliações
- Proposta de Solucao - Caderno Atividades - ClubedasIdeiais10Documento14 páginasProposta de Solucao - Caderno Atividades - ClubedasIdeiais10Stéphanie PintoAinda não há avaliações
- Praxis e Poiesis em AristotelesDocumento37 páginasPraxis e Poiesis em AristotelesAna De BarrosAinda não há avaliações
- Atena Editora SPZDocumento87 páginasAtena Editora SPZCarlos PachecoAinda não há avaliações
- A Vida e A Outra Vida de Roberto Do DiaboDocumento8 páginasA Vida e A Outra Vida de Roberto Do DiaboRoberto VascoAinda não há avaliações
- PPP Bernard CharlotDocumento4 páginasPPP Bernard CharlotWierly Lima BarbozaAinda não há avaliações
- O Lúdico em Clássicos Da Filosofia - Uma Análise em Platão, Aristóteles e RousseauDocumento11 páginasO Lúdico em Clássicos Da Filosofia - Uma Análise em Platão, Aristóteles e RousseauEduardo Lima de Melo Jr.Ainda não há avaliações
- O Medo SocialDocumento3 páginasO Medo SocialSilvana Vilela0% (1)
- Virtudes Humanas 3Documento15 páginasVirtudes Humanas 3nativaAinda não há avaliações
- Livro-Texto - Unidade IIDocumento85 páginasLivro-Texto - Unidade IIwill25808Ainda não há avaliações
- 33 Liçoes de Peter DruckerDocumento6 páginas33 Liçoes de Peter DruckerDiego RibeiroAinda não há avaliações
- O Sermão Da Montanha Segundo A Vedanta - Por Swami Prabhavananda (Português)Documento91 páginasO Sermão Da Montanha Segundo A Vedanta - Por Swami Prabhavananda (Português)Estudante da Vedanta100% (1)
- Ética Ambiental - ADocumento15 páginasÉtica Ambiental - Akharla_carla9343Ainda não há avaliações
- Existencialismo - Incertezas Da Vida HumanaDocumento25 páginasExistencialismo - Incertezas Da Vida HumanaAntônio Marcos de LimaAinda não há avaliações
- Apostila Processos AdministrativosDocumento225 páginasApostila Processos AdministrativosEcko100% (1)
- Conservador Is MoDocumento33 páginasConservador Is MoRobson MendanhaAinda não há avaliações
- Resolução 12/2005 Conselho Federal de Psicologia (CFP)Documento5 páginasResolução 12/2005 Conselho Federal de Psicologia (CFP)alepedraAinda não há avaliações
- AaaaaddsdDocumento79 páginasAaaaaddsdViktor Gracchia67% (3)
- Código de Ética Do DiáconoDocumento1 páginaCódigo de Ética Do DiáconoSr & Sra souzaAinda não há avaliações
- O Que Diria Foucault e ÜbermenschDocumento14 páginasO Que Diria Foucault e ÜbermenschMikeAinda não há avaliações
- Estatuto PmerjDocumento47 páginasEstatuto PmerjJoubert ViannaAinda não há avaliações
- Apostila - Estratégia Concursos - Aula 3Documento60 páginasApostila - Estratégia Concursos - Aula 3emanuelpatrickAinda não há avaliações