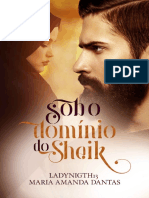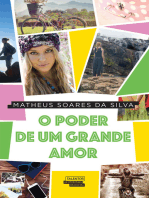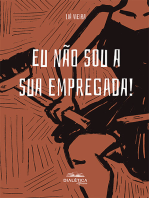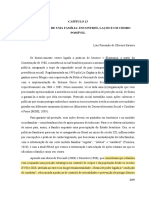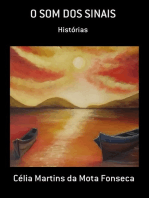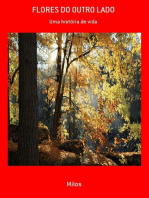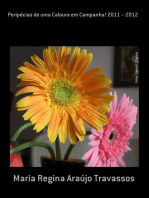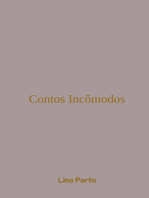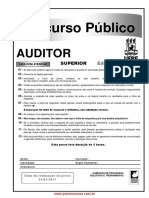Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Gilberto Velho - O Patrão e As Empregadas PDF
Gilberto Velho - O Patrão e As Empregadas PDF
Enviado por
alexrio2014Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Gilberto Velho - O Patrão e As Empregadas PDF
Gilberto Velho - O Patrão e As Empregadas PDF
Enviado por
alexrio2014Direitos autorais:
Formatos disponíveis
O PATRO E AS EMPREGADAS DOMSTICAS
Gilberto Velho
Museu Nacional/UFRJ, Departamento de Antropologia, Rio de Janeiro, Brasil
Dejanira de Oliveira
Este trabalho parte de minha experincia direta com empregadas domsticas.
1
Tem, portanto, um forte carter de depoimento pessoal. Procuro apresent-lo
como um tipo de etnografia acompanhada por reflexes, que visam antes apontar
pistas do que consolidar respostas definitivas sobre um mundo rico e complexo.
No um texto em que se pretenda dar conta da especificidade do trabalho e das
carreiras de emprego domstico, embora possa trazer contribuies sobre temas
especficos. Certamente os trabalhos de Everett Hughes (1971), Howard S. Becker
(1973 e 1977) e Erving Goffman (1959 e 1961) sobre carreiras so referncias impor-
tantes. No entanto, vejo este texto, sobretudo, como umcomentrio etnogrfico so-
bre relaes entre distintas categorias sociais numa sociedade em processo de
acelerada transformao. Implcita ou explicitamente, est presente tambm uma
problemtica de gnero, desde que narro e comento episdios e situaes em que
estou interagindo com mulheres. Ou seja, no h como desconsiderar essa dimen-
so de relacionamento, de patro homem com empregadas mulheres, com tudo
que a acompanha emtermos socioculturais. Assim, uma narrativa a partir de um
ponto de vista masculino, sobre aspectos das relaes domsticas na sociedade
brasileira contempornea.
Durante 35 anos Dejanira trabalhou emminha casa como empregada doms-
tica. Em1973, tinha 36 anos. Eu tinha dez anos menos do que ela e era casado. Deja,
como era conhecida, fora indicada por afins de minha mulher. Era, como se diz,
cozinheira de forno e fogo, solteira e no tinha filhos. Negra, sua famlia era de
pequenos agricultores do interior fluminense que, em sua maioria, migrara para o
Rio, a partir dos anos 1950.
2
Irms e primas suas tambm trabalhavam como do-
msticas para amigos e conhecidos meus. Assim, nos primeiros trs anos e pouco,
Deja trabalhou para ns, um jovem casal de professores universitrios. Depois de
nossa separao, em1976, ficoucomigo, tomandoconta nosda casa, mas dopr-
prio patro. Cozinhava, arrumava, lavava e passava. Havia sempre uma faxineira,
pois Deja tinha medo de limpar vidros e janelas, devido a um trauma provocado
por um episdio em que assistira queda e morte de um trabalhador.
Antes da chegada de Deja, morava em Copacabana, mas no seu perodo mo-
rei em outros bairros. O primeiro apartamento, ainda da poca do casamento, era
na Gvea, e os outros dois em Ipanema. Deja dormia no trabalho. Ia para casa, em
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
1 Agradeo os comentrios e sugestes da Dra. Mariza Peirano.
2 Fluminense uma referncia ao estado do Rio de Janeiro, como umtodo, enquanto carioca cida-
de do Rio de Janeiro, propriamente dita.
Padre Miguel, distante subrbio, na sexta ouno sbado. Sua competncia culinria
permitia-me receber amigos para almoos e jantares. Isso inclua tambmreunies
de trabalho com alunos, que adoravam os seus lanches. Eu era um orientador que
tinha uma tima cozinheira. Provavelmente era um fator de atrao
Deja, alm dessas habilidades, era pessoa discreta e bem educada sob qual-
quer critrio vigente. s vezes, parecia triste e um tanto melanclica. Morava com
irms e sobrinhos numconjunto de casas emtorno de umterreno comum. No era
dada a grandes manifestaes afetivas, mas foi pessoa solidria nos momentos di-
fceis. Trabalhara anteriormente com algumas poucas famlias, sendo uma delas
francesa, coma qual aprendera parte do seu rico repertrio, somando-se a uma co-
zinha brasileira mais tradicional que dominava amplamente.
Os anos forampassando e ns envelhecemos. Deja, que j tinha uma aposen-
tadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), retirou-se do servio cansa-
da e com problemas de sade. Continuei ajudando-a financeiramente e nos
falamos pelo telefone regularmente. Impossvel substitu-la altura, nemde longe.
Ceclia, uma moa que a ajudava nos ltimos anos, ficou algum tempo como efeti-
va. Branca,
3
originria da Baixada Fluminense,
4
com pouco mais de 40 anos. Com-
pletara o segundo grau enquanto Deja s tinha estudado no antigo curso primrio,
ambas emescolas pblicas. Asubstituta, Ceclia, no dormia emminha casa. Tinha
marido, alis taxista que me atendia, e umfilhode uns oitoanos adotadopelocasal.
Ceclia trabalhava trs dias na semana. No cozinhava mal, lia receitas, mas tinha
outras ambies e projetos. J trabalhara no comrcio e emsalo de beleza. No era
uma empregada domstica por vocao ouopo. Depois, mudou-se coma famlia
para outra cidade, na Regio dos Lagos,
5
onde seria gerente de uma casa de shows.
Voltei a falar comela umas duas vezes pelo telefone nos ltimos trs anos. Ao todo,
incluindo o perodo que trabalhou com Deja, deve ter sido minha empregada por
uns quatro anos. Era falante e desenvolta, sabia usar o computador e fizera cursos
de arte marcial. Frequentemente mencionava seu interesse em fazer algum curso
superior. Enquanto Deja correspondia plenamente ao papel mais tradicional de
empregada domstica, Ceclia via essa atividade como passageira e tinha clara-
mente umprojeto, nos termos de Schutz (1970 e 1976), de atingir objetivos de ascen-
so e reconhecimento social. No perodo em que trabalhou em minha casa,
mudou-se da Baixada Fluminense para umapartamento no Rocha, bairro da Zona
Norte da cidade do Rio de Janeiro. Depois, como disse, forampara a Regio dos La-
gos. Deja era catlica e Ceclia evanglica, mas nenhuma das duas aparentava ade-
so religiosa particularmente forte, nempresena intensa e regular nas respectivas
igrejas, embora Deja e seus familiares, frequentemente, fizessem romarias ao san-
turio de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. Emtermos esquemti-
cos, Ceclia apresentava atitudes e discurso mais individualistas, enquanto Deja,
14 Gilberto Velho
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
3 Estas classificaes so, como sabemos, variadas e polmicas. Em princpio, utilizo um senso
comum brasileiro com as prprias autodefinies das pessoas citadas.
4 rea predominantemente habitada por camadas populares, que inclui um conjunto de bairros
da regio metropolitana do Rio de Janeiro.
5 rea, de intensa atividade turstica, no litoral do estado do Rio de Janeiro, a leste da capital.
emsuas relaes comigo, comsua famlia e nas relaes sociais emgeral, expressa-
va uma viso de mundo tradicional e hierrquica (Simmel, 1971, e Dumont, 1966 e
1977). Depois de Ceclia, entrou emcena uma senhora Ana, empregada domstica,
que trabalhava para uma famlia muito prxima a uma amiga minha que se disps
a me ajudar a encontrar uma soluo, indicando algum. Ana parecia ser figura
central emuma rede de domsticas comas quais tinha contato e que se dispunha a
indicar, desde que ela prpria era considerada pessoa sria e de confiana, nos
termos de minha amiga e de uma srie de outras donas de casa de classe mdia
superior.
Umaspecto fundamental era a minha condio de homemdivorciado, viven-
dos. Se, de umlado, eupoderia ser consideradoumbompatro por essas carac-
tersticas, de outro, fazia com que dependesse basicamente da experincia e
conselhos de mulheres, fossem amigas e conhecidas ou fossem profissionalmente
reconhecidas, como Ana. Por esse caminho chegou Zilda, originria de cidade do
interior da Paraba, de quarenta e poucos anos e residente no Rio j algum tempo.
Morava com o marido, porteiro de um prdio no Humait, na Zona Sul da cidade.
No era permitido ter filhos no apartamento do porteiro e o casal tinha cinco, espa-
lhados pelo Brasil. Afilha mais velha, de vinte anos, morava emRio das Pedras, fa-
vela/comunidade situada na Zona Oeste do Rio, j casada, por sua vez, e com um
filho. Assim, Zilda era me e av. Sua filha tomava conta de um irmo mais novo
que no podia viver com os pais. Outra filha de Zilda, a menor, de menos de cinco
anos, ficara na Paraba, aos cuidados da av materna. Eu tinha alguma dificuldade
de acompanhar a dinmica das relaes familiares de Zilda, que era uma pessoa
simptica, muito veloz e de instruo de nvel elementar. Sua competncia culin-
ria estava, mais ou menos, no mesmo nvel de Ceclia, mas ao contrrio desta lti-
ma, Zilda ia todo dia a minha casa. Seus padres de etiqueta erammuito diferentes
de Deja e, tambm, de Ceclia. Por exemplo, aproxima-se muito fisicamente dos in-
terlocutores, sempre demonstrando boa vontade e simpatia. Seu ritmo podia ser
um pouco atordoante e invasivo para os meus hbitos. Isso durou alguns meses.
Seus familiares na Paraba foramvtimas indiretas de umepisdio de violn-
cia. Uma casa, vizinha de sua me, foi assaltada e invadida por bandidos que agre-
diramos moradores, inclusive crianas. Zilda decidiuque precisava voltar, mesmo
que temporariamente, para o Nordeste, principalmente porque sua filha pequena
ficara muito abalada, no conseguindo dormir de medo, entre outras manifesta-
es. Entendi que eram frequentes essas viagens de sua famlia entre o Rio e Cam-
pina Grande, na Paraba, com deslocamentos e idas e vindas de pessoas de vrias
geraes. Zilda era, assumidamente, uma empregada domstica que se orgulhava
de ter boas referncias. Esta uma expressocentral nesse universopara orelaci-
onamento com os possveis patres. Zilda no completou trs meses em minha
casa e no cheguei a assinar sua carteira de trabalho. Com seu afastamento, mais
uma vez com intermediao de Ana, recebi candidatas, sempre trocando ideias e
ouvindo sugestes de duas ou trs amigas. Uma das mais recomendadas era a
senhora Genoveva, mais velha, na casa dos 60 anos. Tinha currculo, referncias
de cozinheira experiente. Nesse sistema, cabia-me telefonar para antigos pa-
tres/oas e ouvi-los sobre as candidatas. No caso de Genoveva, sua competncia e
O PATRO E AS EMPREGADAS DOMSTICAS 15
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
honestidade foram enfatizadas. No entanto, ela assustou-se com a minha bibliote-
ca, estantes e quantidade de livros. Cheguei concluso de que mais umsexagen-
rio na casa no ia funcionar e no estava disposto a reintroduzir a figura da
faxineira. Ana, a intermediria, tinha outra indicao, Snia, que j havia sidomen-
cionada anteriormente. Contudo, disse que h algum tempo no tinham contato.
Fez observaes de praxe sobre suas qualidades de empregada domstica. Snia
era mulata, talvez negra, dependendo das variaes de ponto de vista de classifica-
otnico-racial. Zilda, que a conhecia, avisou-me que era negra, pois sabia que ha-
via patres que no gostavam de empregar negros. Expliquei-lhe que no era o
meucaso e que, durante 35 anos, trabalhara comigo uma mulher negra a quemres-
peitava e estimava. Assim, Snia substituiu Zilda. Andava em torno dos 50 anos.
Na poca, morava na serra Carioca, perto de Petrpolis, onde habitavam familia-
res, inclusive a me, senhora idosa. Tinha tambm, pelo menos, umfilho, morador
da Rocinha,
6
casado e comumfilho seu, neto de Snia. Esta sabia ler e tivera alguns
anos de estudo. Falou de suas referncias. Telefonei para uma antiga patroa que
afianou suas qualidades, embora eu a tivesse achado um pouco reticente. Sobre
sua confiabilidade, pergunta padro, respondeu que Snia nunca tinha mexido
nas coisas dela. Oincio j no foi muito bom. Anova domstica vinha da Serra na
segunda-feira e ficava at sexta pela manh. Comfrequncia saa noite. Dizia ir a
uma igreja evanglica e outras vezes Rocinha visitar o filho. Andava para cima e
para baixo com uma mochila. Cozinhava bem, mas no se empenhava muito em
outras tarefas. Uma de suas habilidades era costurar e fazia estofados em sua resi-
dncia na Serra. Era uma fonte de renda para atender a despesas que eu no sabia
aquilatar. Foi agressiva e rspida em duas oportunidades em que fiz observaes
sobre suas tarefas. Por outro lado, Snia tinha o hbito de pedir adiantamentos e
emprstimos. Com poucos dias de casa solicitou trs mil reais para saldar uma d-
vida comuma agiota que a explorava. Algumtempodepois, pediuuma quantia se-
melhante para fazer obras na casa de sua me. Ao primeiro pedido, atendi,
doando-lhe o dinheiro solicitado. Osegundo defini como umemprstimo a ser sal-
dado mais adiante. Mas Snia, almde seusalrio, equivalente na poca a trs sal-
rios mnimos, quase que semanalmente pedia outros emprstimos. Tentei lhe
explicar que esse sistema no funcionaria emminha casa. Ela foi bastante agressiva
nas suas demandas, alegando que antigos patres lhe atendiam os pedidos, ano-
tando as dvidas.
Oambiente foi se tornando desagradvel at que, emumdia emque foi parti-
cularmente desrespeitosa, me vi decidido a interromper nossa relao de trabalho.
Uma amiga minha conversou comSnia e os acertos trabalhistas foramefetivados
e anotados emsua carteira. Resolvi perdoar uma dvida que se arrastava h tempos
e encerrar, de vez, o assunto. Snia deve ter ficado uns cinco meses trabalhando em
minha casa. Foi a nica profissional, nesse perodo, com quem tive atritos e uma
discordncia sria quanto s noes e expectativas de relacionamento patro e
16 Gilberto Velho
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
6 Maior favela/comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro, possivelmente de toda a regio metro-
politana cuja populao chegava a ser calculada em torno de cem mil pessoas.
empregada. Ela ganhava trs salrios mnimos, quantia que estipulei, ouvindo e
consultando amigas e colegas. Snia, claramente, demonstrava acreditar ser natu-
ral e necessrio que ela pedisse mais, em toda oportunidade que julgasse adequa-
da. Opior problema era o seu modo de cobrar ajuda, agressivo e, nos meus termos,
desrespeitoso. Nesses momentos ela expressava raiva de forma muito explcita.
Algumas semanas depois de sua sada, dei por falta de umjogo de pratos de valor,
antes sentimental do que monetrio. Inevitavelmente, atribu Snia o furto, dian-
te das circunstncias de nosso relacionamento. No tinha certeza, nada iria fazer a
no ser lamentar a perda de uma pequena lembrana material de uma pessoa esti-
mada. O fato que a experincia com Snia explicitou alguns dos piores aspectos
da relao patro e empregada, com sua tenso e potencial de conflito.
O porteiro do meu prdio j me indicara, meses antes, uma vizinha sua de
bairro. Essa moa de 30 anos chegou a ir em minha casa mas tinha acabado de ter
um segundo filho a quem amamentava. No tinha horrio compatvel com as mi-
nhas necessidades, mas me deixara excelente impresso. Com a sada de Snia,
pedi ao porteiro que verificasse a situao de Vera. De fato, ela j podia e precisava
voltar a trabalhar num emprego regular. Moradora da Baixada Fluminense, com
marido e duas crianas, no foi muito simples construir um horrio satisfatrio
para ambos. Vera no tinha grandes experincias nem muita vocao para a ativi-
dade culinria, mas a sua correo, boa vontade e gentileza discretas levaram-me a
contrat-la. Morena e alta, caso tivesse tido acesso a melhor educao, possivel-
mente poderia aspirar a outro tipo de emprego. Muito calada e lacnica, no tinha
facilidade de expresso e desenvoltura vocabular. Catlica, sempre que podia esta-
va lendo a Bblia. Pareceu-me ser de orientao carismtica, ouvindo programas de
rdio compreces e msica religiosa. Praticamente s saa para fazer as compras da
casa na feira ou no mercado. Seu marido trabalhava, como motoqueiro, na entrega
de jornais. Morava na casa da me, num terreno em Nova Iguau, na Baixada Flu-
minense. Seu esforo estava voltado para a construo de uma casa, no mesmo ter-
reno, para abrig-la, marido e filhos. Prximo casa da me residiam ainda uma
outra irm com seu marido e duas filhas adolescentes. Outros parentes moravam
prximos. Vera chamava oterreno, que dizia ser grande, de quintal. Avida familiar
parecia bastante movimentada.
Umdia chegoua notcia de que uma das sobrinhas tinha fugidode casa e Vera
julgou que precisava ir para Nova Iguau ajudar a encontrar a fugitiva. Isso ocor-
reuemmeioa algumnervosismoe choro. Vera saiue, poucas horas depois, a fugiti-
va era encontrada na casa de uma colega. Fiquei impressionado pois achei que no
era umcaso grave e que a adolescente embreve apareceria. Mas esta no foi a viso
de Vera, que considerou o evento como algo srio e ameaador. Assim, ela, como
tia, tinha que se mobilizar. Foi uma pequena discordncia porque julguei que havia
um certo exagero naquela movimentao de Ipanema Baixada. Ela explicou-me
que tinha de resolver as mais diversas questes que ocorressemno mbito familiar.
Suas irms, por diferentes razes, pouco faziame a me j era uma senhora. Enten-
di que o pai j falecera. Vera era a mais jovemdas profissionais que trabalharamco-
migo. Regulava com minha sobrinha, afilhada e com outras filhas de amigos, de
trinta e poucos anos. O fato de ter filhos pequenos me sensibilizava, j mais
O PATRO E AS EMPREGADAS DOMSTICAS 17
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
acostumado com essa problemtica no contato com as jovens citadas. No posso
prever as prximas etapas emdetalhes, mas provvel que a dinmica familiar de
Vera possa produzir dificuldades para o seu desempenho no trabalho. De minha
parte, achoque desenvolvi uma maior compreensodesses altos e baixos docotidi-
ano de pessoas pobres, moradoras de bairros distantes.
A cabe uma reflexo sobre a minha condio de antroplogo, do patro an-
troplogo. At os 62 anos nunca tive que procurar empregada. Na casa dos meus
pais, minha me cobria esse setor, lidando com os serviais. Lembro-me de algu-
mas situaes difceis. Quando moramos nos Estados Unidos de 1948 a 1951, nos
primeiros meses estvamos com uma empregada brasileira que levamos conosco.
Era negra e gorda. Tenho vagussima lembrana dela, creio que mais de ouvir di-
zer. No se adaptou e teve uma crise emque chegou a ameaar a famlia, na ausn-
cia de meu pai. Voltou para o Brasil. No mais, vrias empregadas passaram por
nossa casa. As que demorarammais tempo ficaramconosco por perodos de trs a
quatro anos. Amaioria permanecia alguns meses ou pouco mais de um ano. Mas
sempre havia essa personagem presente, com pequenos intervalos na procura de
substituta para a que tivesse sado. Morvamos emCopacabana e, nessa poca dos
anos 1950 e 1970, sempre havia candidatas mais ou menos qualificadas. Lembro
que, pelo menos, duas vezes meupai, comsua autoridade de oficial do Exrcito, foi
chamado a interferir para despedir empregadas consideradas mal educadas ou
agressivas. Os filhos pouco se envolviam com a poltica interna domstica, o que
no significava ausncia de interao que podia variar muito na sua natureza.
Casei-me em1968 e fomos atendidos por uma veterana empregada que j tra-
balhava h muitos anos para a famlia de minha mulher. Era competente e calma.
Em nosso primeiro apartamento, em Copacabana, no havia acomodaes desti-
nadas a serviais (Velho, 1973). AssimIsaura passava ali algumas horas, quase todo
dia, cuidandoda casa, cozinhando, etc. Continuouconoscoquandofomos para um
apartamento maior, na Gvea, a j podendo dormir no trabalho. Passamos umano
nos Estados Unidos e, quando voltamos, Isaura retornou ao nosso servio. Assim,
entre 1968 e 1972, tivemos o seu apoio. Adoentada e com problemas familiares, foi
substituda por Dejanira, que me acompanhou por 35 anos. Por ocasio do fim de
nosso casamento, ficou trabalhando comigo e foi fundamental para o funciona-
mento de meu cotidiano. Mudei-me para Ipanema, saindo da Gvea, e estou aqui
at hoje, agora em minha segunda residncia no bairro.
Deja aposentou-se, definitivamente, em 2007, com 72 anos. dez anos mais
velha do que eu. Tivemos raros desentendimentos nesse longo perodo. Comparti-
lhvamos, emprincpio, omesmocdigohierrquicoacompanhadode confiana e
afeto, creio que mtuos. Certamente era um exemplo de algumas reflexes de Gil-
bertoFreyre sobre desigualdade, afetividade e reciprocidade (Freire, 1933 e 1936).
Minha casa, cominevitveis adaptaes, j funcionava comuma organizaodo
tempo de casado. Assim, nunca tive que enfrentar de modo mais agudo o funciona-
mento domstico, at a retirada de cena de Deja. Esta resistira sempre a indicar uma
substituta, pois s recomendaria algumemquemtivesse plena confiana. Dizia que
as novas geraes buscavamoutras atividades, diferentes do emprego domstico. Foi
por isso que tive que enfrentar, de modo indito, a situao. Sexagenrio, divorciado,
18 Gilberto Velho
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
pouco afeito ao mundo prtico, tive que contar com o apoio e sugestes de pessoas
amigas, inclusiveminhas assistentes depesquisa. Nomomento, continuo, comojdis-
se, com Vera, indicao do porteiro do prdio, figura chave da vida urbana carioca
(Velho, 1981). Nesse caso, trata-se de profissional h muitos anos funcionrio do con-
domnio, pessoa muito eficiente e habilidosa, resolve problemas, faz consertos, res-
ponsabiliza-se por pequenas obras, etc.
Fica evidente que nesse perodo estive s voltas comredes de relaes emque
emprego era tema central. Embora parea indiscutvel que, de fato, tem declinado
o nmero e o interesse por emprego domstico, ainda h umuniverso no despre-
zvel de mulheres que atua nesse ramo de atividade. No disponho de nmeros ab-
solutamente confiveis, mas o declnio quantitativo notrio.
7
Por outro lado,
segundo a sociologia de Deja, as novas geraes buscam outras alternativas. Isso
parece confirmado pela observao e informaes de vrias origens. Mais rara ain-
da a figura da profissional que dorme noemprego. Predominam, segundooInsti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), as diaristas que, frequentemente,
trabalham em mais de uma residncia. Geralmente dormem em suas prprias ca-
sas. Por outro lado, desenvolve-se uma especializao. O trabalho de Liane Maria
Braga da Silveira aponta nessa direo no caso das babs (2011). Os salrios, em
princpio, somais elevados. Assim, empregadas para todooservio, dormindona
casa dos patres, aparecem como uma categoria em declnio, embora, pelo que
pude perceber, esteja longe de ter desaparecido. No meu caso, as profissionais, de-
pendendo do nmero de dias e horrio, recebiam remuneraes que variavam en-
tre dois e trs salrios mnimos, que em 2011 era R$545,00. Diziam pessoas mais
entendidas do ramo que eu era um bom candidato a patro. Vivia s, trabalhava
fora e pagava um salrio satisfatrio. O problema era o ajustamento de expectati-
vas, caractersticas de temperamento, simpatia, etc.
Falei sobre minhas avaliaes a respeito das empregadas. O que achariam
elas de mim? No fiz esta pesquisa mas tenho algumas impresses. Como cientista
social procurava estar atento s diferenas de cdigos socioculturais. Havia, em
certos casos, umproblema de vocabulrio, de parte a parte. Snia, numdos atritos
que teve comigo, no entendia, percebi depois, o sentido de palavras que utilizei.
Certamente o portugus empregado por todas elas afastava-se da norma culta com
variaes significativas. Deja entendia, emgeral, aparentemente, comanos de pr-
tica, o que lhe dizia. Ceclia que cursara o nvel mdio, lia jornais e assistia TV ou
ouvia pelo rdio noticirios. Era uma pessoa mais prxima de umwell informed citi-
zen, nos termos de Schutz (1976). Zilda e Snia, no contato que tive, revelavamno
se interessar por maiores informaes, fora do seu cotidiano familiar e de trabalho.
Oque no quer dizer que no estivessemexpostas a elas, de modos variados, atra-
vs da mdia, televiso, rdio e de suas interaes do dia a dia. Vera, por sua vez,
tinha um forte vnculo com a religio catlica. Tinha hbitos e rotinas que confir-
mavam isso. Diariamente colocava as garrafas de gua da minha casa junto ao seu
O PATRO E AS EMPREGADAS DOMSTICAS 19
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
7 Segundo o IBGE, o nmero de empregados domsticos no Brasil era de 16.500.000 em2009, pas-
sando para 15.000.000 em 2011. J na regio metropolitana do Rio de Janeiro havia 416.000 em
2008, incluindo mulheres e homens (IBGE, 2011).
rdio, no qual escutava um programa em que um padre rezava e abenoava.
Assim, a gua que consumamos era abenoada. Nolia jornais, mas via novelas na
televiso que tinha no seu quarto. Sua leitura era dedicada Bblia. No se interes-
sava pelos livros de receitas que lhe fornecia a no ser excepcionalmente. Falava
comseus familiares pelo telefone, incluindo-se os seus dois filhos, ambos menores
de sete anos.
Snia, enquantotrabalhouemminha casa, onde pernoitava de segunda sex-
ta, saa frequentemente, depois de servido o jantar. Disse-me, em algumas oca-
sies, que ia a uma igreja evanglica. Outras vezes ia visitar o filho e sua famlia na
Rocinha, na poca ainda ostensivamente refgio e, emparte, territrio de trafican-
tes. Zilda vivia em funo de sua problemtica com os numerosos filhos, espalha-
dos pelo pas. Lembro que tinha uma filha na Paraba e outra, como j disse, bem
pequena, aos cuidados de uma terceira, j adulta, moradora da favela/comunidade
de Riodas Pedras, na Zona Oeste, almdos filhos homens moradores de outras re-
as da regio metropolitana. Zilda se deslocava entre essas diferentes localidades
tendo como base o apartamento emque morava, no prdio emque o marido traba-
lhava como porteiro, no Humait.
Todas essas trabalhadoras domsticas sabiam que eu era professor. Deja me
acompanhara desde a minha condiode doutorandona USPe j docente da UFRJ.
Conhecera colegas e alunos meus, alm dos amigos de fora da Universidade.
Assim, tinha uma viso relativamente rica e extensa de minha vida. Testemunhava
as minhas aparies na imprensa, visitas de jornalistas e de equipes de TV minha
casa. Ou seja, tinha uma noo de minha condio de intelectual pblico. As que se
seguiram, sabiamque euera professor. Ceclia tinha mais informaoa meurespei-
to, pois seu marido, taxista, me serviu regularmente por cerca de cinco anos. Tinha
alguma ideia e interesse pela minha figura pblica. Conhecia pessoas que j ti-
nhamouvidofalar de mim. Zilda e Snia passaramrelativamente poucotempotra-
balhando para mim e, pelo que sei, sabiam apenas que eu era professor. Snia
disse-me umdia que o porteiro havia lhe dito que eu era umprofessor importante.
Comentou que tinha uma sobrinha, suponho no ensino mdio, com dificuldades
de estudo. No sei se imaginava a possibilidade de uma ajuda minha Mas no
voltoua falar noassuntoe poucodepois foi embora, depois dos atritos j citados.
Quanto Vera, que est trabalhando comigo h um ano, tenho a impresso
que temuma vaga ideia do que fao. Mas, sobretudo, creio que no umgrande in-
teresse seu. Procura fazer as suas tarefas, trata-me bem e, sobretudo, preocupa-se
com sua famlia. Deja envelheceu junto comigo num processo de trinta e cinco
anos. Acompanhou altos e baixos de minha vida, muitas vezes sem saber de deta-
lhes, mas era um apoio que me garantia um certo tipo de segurana. Caracteriza-
va-se por uma atitude discreta e sbria. De minha parte, tive oportunidade de
apoi-la em situaes variadas. Ajudei a empregar irms e sobrinhas suas. Era, de
algummodo, umtipode clientelismotradicional, misturadocomamizade baseada
em escolhas individuais. No era apenas uma troca de servios mas, consistente
com anlises de autores como Gilberto Freyre (1933 e 1936) e Srgio Buarque de
Holanda (1936), alimentava-se de uma lealdade afetuosa recproca. As suas su-
cessoras estavam, claramente, lutando por suas vidas e de suas famlias numa
20 Gilberto Velho
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
conjuntura em que trabalhar comigo era mais uma etapa, um meio para atender a
esses projetos. Ouso conjeturar que, para Deja, trabalhar para mim era um fim em
si mesmo, almde ser naturalmente ummeio de subsistncia e apoio. Vera j disse
que gosta de trabalhar emminha casa. uma pessoa de poucas palavras e bastante
contida. Assim, creio que essa declarao tem um certo peso, diferenciando-a de
Snia e Zilda que expressavam plenamente seus interesses e aspiraes indivi-
duais. Penso que Snia me via como umpatro que ela aturava, na falta de melho-
res opes, e Zilda, embora fosse amvel e simptica, no me inclua em suas
prioridades. Os seus filhos eram motivo suficiente para mobiliz-la permanente-
mente. importante salientar que nunca entrevistei as minhas empregadas no sen-
tido mais formal da atividade de pesquisa. Conversei com elas, de acordo com as
variaes j descritas, e observei-as em minha casa at home (Peirano, 2008, e Ve-
lho, 2011). De algum modo, dialogamos, embora eu na condio de patro e elas
como trabalhadoras a meu servio. No entanto, creio que no d para reduzir a re-
lao a esse nvel, pois a prpria proximidade e relativa intimidade da vida doms-
tica fazia com que as interaes se dessem em mltiplos planos.
Quanto ao poder envolvido nas relaes, devo dizer que, semignorar a gran-
de diferena financeira, a importncia que os seus servios tinham para mim fazia
com que a minha dependncia as fortalecesse em inmeras situaes. Snia, espe-
cificamente, falava, comfrequncia, emir embora. Isso ocorria, sobretudo, quando
queria que eu lhe fornecesse dinheiro almdo salrio. Alis, por diversas ocasies,
acedi s suas pretenses at me dar conta que isto no ajudaria o nosso relaciona-
mento, j que a referida solicitao era feita de modo agressivo.
Essas reflexes, emparte foramfeitas no decorrer do meucotidiano da poca.
Sem dvida a distncia temporal permite novos ngulos e perspectivas. Foi um
convvio, comdimenso de pesquisa pouco convencional. Alimentava-me, perma-
nentemente, a ideia de que estava, atravs daquela vivncia, ampliando meu co-
nhecimento sobre as camadas populares brasileiras, valendo-me de umcontexto e
circunstncias de minha vida pessoal. Intelectual de classe mdia, comlimitada ex-
perincia de administrao domstica, vi-me na posio de ter de interagir, negoci-
ar e procurar compreender a viso de mundo de mulheres de origem modesta e
pobre. Ceclia, at certo ponto, se distinguia no pequeno universo, estando, por sua
trajetria, na fronteira da classe trabalhadora com uma pequena classe mdia de
subrbio.
8
Seu marido, afinal, era proprietrio de um txi, seu instrumento de tra-
balho, e ela, com seu curso mdio, estava qualificada a pensar num vestibular. Por
seu padro de consumo e aspiraes, possivelmente se enquadraria no que vem
sendo chamado pela mdia de classe C, segmento social emascenso. Mas o fato
que, contando desde o perodo emque funcionou como auxiliar de Deja, ficou na
condio de trabalhadora domstica por uns trs anos. Era importante para ela e o
marido que o filho estudasse em escola particular paga. Todas as outras per-
sonagens s conheciam a escola pblica, fosse por sua experincia direta, fosse
pelos filhos em idade escolar. Quase sempre s tinham o curso bsico, s vezes
O PATRO E AS EMPREGADAS DOMSTICAS 21
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
8 Para finalidades comparativas ver Duarte e Gomes (2008).
incompleto, e sCeclia conclura oensinomdio, tambmeminstituiopblica.
Queria enfatizar que, a despeito de minha desconfiana de Snia, quanto a
um provvel furto, me chamou a ateno a honestidade dessas trabalhadoras do-
msticas. Eramprofissionais comreferncias. Sei de pessoas de outras categorias
sociais, supostamente mais educadas, que no compartilhavam os mesmos pa-
dres de lisura e correo. Detalhes como troco, prestaes de contas, localizao e
cuidado comobjetos, roupas, etc., eramcaractersticas que, talvez por preconceitos
meus, muito me impressionaram.
Todas diziamoudavama entender que eramreligiosas. Deja era catlica e re-
zava regularmente. s vezes, ia igreja, alm de, como j disse, fazer romarias, de
quando em quando, com seus familiares. Snia e Ceclia frequentavam igrejas
evanglicas. Zilda era catlica mas, como Deja, no parecia ser seguidora regular.
Vera, aparentemente, era a mais engajada na vida religiosa. Lia sempre a Bblia, re-
zava oteroregularmente, ouvia diariamente programas de rdioligados aomovi-
mento carismtico. Criticava uma de suas irms que se convertera a uma igreja
evanglica. Atacava especialmente os pastores e a instituio do dzimo. Havia,
portanto, variaes na experincia religiosa de meu pequeno universo mas todas
eram crists. As diferenas tambm apareciam quanto relao com os cultos
afro-brasileiros, desde total afastamento at contato indireto atravs de suas redes
de relaes.
No creio que tenha elementos, nemestouconvicto de at que ponto impor-
tante, neste momento, distinguir uma moral laica de uma religiosa. Certamente o
trabalho um valor, fortemente associado vida familiar, com suas expectativas,
padres de interao e reciprocidade. Assim, pais, irmos, filhos, netos e primos
apareciam regularmente, nas redes de relaes. Os cnjuges e os afins eram em al-
guns casos citados, mas com menos nfase. Deja nunca tinha casado e no pudera
ter filhos. Ceclia adotara com o marido uma criana. Ele tivera vrios casamentos
anteriores e produzira quatro filhos de trs mes diferentes.
9
Zilda, pelo que perce-
bi, s tivera um esposo com quem vivia e tiveram juntos vrios filhos. Snia tinha
pelo menos um filho, e morava perto de sua me, mas estava aparentemente sem
companheiro na poca. Houve queixas de afins, especificamente sogras. Acompa-
nhei uma separao, depois refeita, mas neste e em outros episdios, a explicao
sobre os problemas conjugais concentrava-se nos afins e seucomportamentoconsi-
derado inadequado. Deja compunha com seus irmos, particularmente as irms,
umslidogrupofamiliar que abarcava uma rede mais ampla comtios e primos que
se aproximava de um tipo de famlia extensa. De origem rural, mantinham laos
com seus parentes que permaneceram no interior do estado do Rio de Janeiro. De
vez em quando organizavam excurses para rev-los. Passavam alguns dias no
que chamavam de roa mas estavam, h dcadas, estabelecidas em Padre Mi-
guel, subrbio da regio metropolitana. Embora Deja pudesse falar nostalgica-
mente de seu passado rural, estava desde muito jovem na grande cidade. Seus
laos familiares mantinham-na morando junto com duas irms e seus filhos numa
22 Gilberto Velho
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
9 Casamentoaqui temosentidode viver juntos por umperodode tempo, gerandoounofilhos.
casa com puxados, ampliaes produzidas no imvel no decorrer dos anos.
Enquantotrabalhoucomigo, dois de seus irmos homens e umcunhadofaleceram.
Mesmo os que no residiam na mesma habitao moravam no mesmo bairro. Co-
nheci pessoalmente irms e sobrinhas de Deja. Duas chegarama fazer servios em
minha casa, ajudando, por exemplo, em dias de festa. Sempre foi uma relao
amistosa.
evidente que desproporcional ovolume de informaes que obtive nolon-
go perodo em que convivi com Deja, comparando-o com os meses de Zilda e S-
nia, o ano de Vera, e os poucos anos de Ceclia. No caso desta ltima, o fato de seu
marido me atender regularmente como taxista durante cerca de cinco anos e ter
sido o intermedirio de seuemprego temconsequncias bvias para a minha viso
de seu modo de vida.
Sobre a natureza dessas reflexes, emboa parte de retrospectiva antropolgi-
ca, creioser importante sublinhar que nunca visitei nemconheci as casas de minhas
empregadas. Moravamcomigo, na minha residncia, por perodos variados. Divi-
dimos o mesmo teto. Com toda a ambiguidade eram relaes muito prximas,
mesmo fisicamente. Havia claramente regras implcitas de evitao e de manuten-
ode distncia social. Uma das mais evidentes era a de noexposiodocorpo, de
parte a parte. Tanto eu, como elas, cumpramos uma rotina em que havia uma eti-
queta, em princpio, compartilhada por todos. Sempre fui tratado como senhor
ou professor, enquanto eu as tratava por voc.
Deja, comoj disse, conheceumeus pais, meuirmoe alguns outros parentes.
Euno tinha uma vida familiar muito intensa mas ela dominava o mapa bsico que
inclua minha rede de amigos. Cabe lembrar que eu estava casado nos primeiros
quatro anos de seu trabalho comigo. Alis, dava-se muito bem com a minha mu-
lher. Ficou discretamente triste com a nossa separao e sempre se esforou para
cuidar bem de mim e da residncia.
Com a possvel exceo de Ceclia, portanto, eram todas profissionais assu-
midas de emprego domstico. Havia, certamente, um trnsito entre esferas de
relacionamentosocial commultipertencimentos e dinmicade papis. Snia, especi-
ficamente, queria, a todo custo, obter emdinheiro mais do que seucontrato de traba-
lho. As outras, emprincpio, compartilhavamos valores segundo os quais se espera
apoio e solidariedade do patro em momentos difceis como doena, problemas le-
gais, habitacionais, emprego para parentes, etc. O auxlio financeiro podia ser im-
portante e necessrio, mas o sentimento de uma certa proteo e solidariedade eram
cruciais. Por outro lado, aparecia tambm a reciprocidade em que iam alm de suas
obrigaes formais em acontecimentos especiais, como, por exemplo, na morte de
meu pai e nas minhas dificuldades de sade, que se multiplicaramcomo correr dos
anos. Neste ltimo caso, sobretudo Deja e Vera deram apoio importante, ao lado de
meus amigos. Comisso, demonstraramque, almda relaode trabalho, estabelece-
ram laos de natureza pessoal (Coelho, 2001).
Emoutros termos, impossvel separar, emcertos momentos, as obrigaes
profissionais das cumplicidades afetivas. Foram, assim, minhas amigas, com
uma interpretao mais cordial das distncias sociais. Na minha autoavaliao
improvvel que pudesse ficar indiferente ao ouvir uma pessoa doente tossir
O PATRO E AS EMPREGADAS DOMSTICAS 23
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
horas seguidas ou quando algum perde um ente querido e entra num estado de
profunda tristeza, situaes, entre tantas, emque pude apoiar Deja. Vera, por sua
vez, teve sua casa inundada numa dessas fortes tempestades de vero do Rio de
Janeiro, causando prejuzo, medo e insegurana. Seus filhos, tambm, so fonte
de permanente preocupao. Vivem todas envolvidas com suas famlias, num
tipo de comunidade social que implica redes mas mais do que um sistema de
relacionamento articulado por papis, regras e padres claros, para ser um terri-
trio de emoes fortes, para o bem ou para o mal (sobre redes, ver Bott, 1972, e
Mitchell, 1971, entre outros). A solidariedade aparece misturada com competi-
o, inveja e ressentimentos (ver Simmel, 1971). A generosidade , com fre-
quncia, dramaticamente ambgua, com momentos de agressividade verbal ou
mesmo fsica. Isso, obviamente, varia nos casos observados. Acomunidade social
de Deja pareceu-me ser a que melhor resolvia seus conflitos, sem elimin-los to-
talmente. As relaes conjugais de Ceclia e Vera, as mais moas, apresentavam
momentos de fortes desequilbrios, com ameaa ou mesmo efetivao de separa-
es temporrias.
Quanto representao de sua atividade profissional, umdado que achei in-
teressante foi o dos uniformes. Deja os utilizava normalmente. Ceclia, variava, po-
dia us-los ou no. Tinha uma concepo de elegncia mais ou menos informal.
Zilda e Snia, aparentemente, gostavamde utiliz-los, sendo que Snia parecia ter
particular gosto em enverg-los. Como fosse de natureza mais robusta, no podia
simplesmente herd-los assim comprei dois uniformes, um mais simples e des-
pojado, o outro mais formal, azul marinho, comuma espcie de insgnia, o que lhe
dava um ar garboso. A nica que claramente demonstrou vontade de no utili-
z-los foi Vera, que ao v-los perguntou com um ar abatido: Uniforme? De ime-
diato garanti-lhe que era desnecessrio. Preferia trabalhar com uma espcie de
bermudas, compondo seu tipo longilneo e esguio. No era apenas um problema
dotraje adequado robusta Snia nocaber na esbelta Vera, era uma questode es-
tilo de apresentao de si, uma temtica goffmaniana. Certamente haveria umpro-
blema de dimenso fsica, mas o que estava em jogo era, basicamente, uma
autorrepresentao de trabalhadora e mulher. Snia usava umas botinas e Vera es-
tava, quase sempre, com sandlias havaianas, mesmo quando ia rua fazer com-
pras. Esta, alis, era uma tarefa fundamental. Acredito que, paralelamente a gostos
pessoais, a pertencimentos a culturas de gosto (Gans, 1975), a rejeio ou resis-
tncia ao uso de uniformes expressava um afastamento do papel de empregada
domstica. Justamente Ceclia e Vera, as mais novas, por razes prprias, evita-
vam essa marca que poderia ser considerada desvalorizante ou mesmo estigmati-
zante (Goffman, 1959 e 1963). interessante pois se Ceclia tivera outras atividades,
Vera strabalhara emservios domsticos. Comocorrer dos anos, Dejanira utiliza-
va cada vez mais o servio de entrega por telefone, limitando-se a eventuais expe-
dies s feiras do bairro. As outras frequentavamos supermercados. Ceclia, certa
vez, teria sido alvo dos galanteios excessivos de umsenhor mas, segundo seu rela-
to, colocou-se emposio de combate de carat, arte marcial que frequentava, afu-
gentando o atrevido. Deja uma vez foi agredida por uma mulher transtornada que,
do nada, atacou-a de sbito causando-lhe susto e leves escoriaes. Em outra
24 Gilberto Velho
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
ocasio caiu num buraco de obras da prefeitura, chegando a machucar-se. Levei-a
a uma emergncia particular prxima a minha casa, onde foi socorrida. Levou al-
gum tempo para recuperar-se, o que diminuiu ainda mais sua vontade de sair.
Cada qual tinha seus mapas da cidade, com trilhas prprias em que o transporte
pblico era o instrumento bsico. Trem(comboio), nibus (autocarro), vans (carri-
nhas) e metr eram utilizados de modos diferenciados. Zilda morava perto, na
Zona Sul e chegava rpido, sem maiores desconfortos. Ceclia, na maior parte do
tempo, vinha de carona (boleia) com seu marido taxista, voltando de metr e ni-
bus. Deja utilizava trem e nibus e Vera trem, nibus e metr. Tinham todas sua
prpria cartografia urbana com semelhanas e variaes, em funo do local de
moradia e circunstncias pessoais. Assim, Deja morava nodistante subrbiode Pa-
dre Miguel, Ceclia depois da Baixada Fluminense mudou-se para a Zona Norte,
Zilda morava num prdio da Zona Sul e frequentava favelas/comunidades da
Zona Oeste. Snia descia da Serra Carioca e ia regularmente Rocinha, favela/co-
munidade da Zona Sul onde morava um filho, e Vera fazia o percurso da Baixada
Fluminense, rea de sua morada, para Ipanema. Em geral, no citavam nomes de
locais, ruas, praas, etc. Utilizavam, sobretudo, os verbos descer e subir. Esse
era umpontode dificuldade na minha comunicaocomelas, pois me orientobasi-
camente pelos nomes dos logradouros, no percebendo claramente para onde se
subia ou descia.
Adiferena de idade temcertamente consequncias para seumodo de viver e
de percepo da realidade. Deja comentava que poucas jovens atualmente aprecia-
vamo trabalho domstico. Suas sobrinhas buscavamoutros tipos de insero soci-
al, procurando estudar mais para qualificao, mas nenhuma completou o curso
superior, embora duas tivessemchegado a entrar para faculdades particulares. De-
sistiram por razes financeiras e por outras alternativas no mercado de trabalho,
principalmente como comercirias.
Creio estar claro que no se trata de umuniverso homogneo que, por seu ta-
manho, impede generalizaes apressadas. No entanto, creio que a experincia
que tenho tido permite observar algumas caractersticas importantes. A prpria
natureza do trabalho domstico, e suas transformaes, faz comque essas profissi-
onais transitem espacial e socialmente. No decorrer de suas carreiras, trabalham
embairros diferentes, comfamlias de estilos de vida diferenciados embora aproxi-
madas pelos recursos financeiros que lhes permitem contratar servios domsti-
cos. No caso de Deja, antes de trabalhar por 35 anos em minha casa, teve outras
experincias no universo de camadas mdias superiores. Isso tinha sido importan-
te para o desenvolvimento de suas qualificaes, que a tornavamumobjeto de de-
sejo. Cozinheira admirada, era solicitada a fornecer receitas para pessoas que
frequentavama minha residncia. Por exemplo, a sua musse de chocolate mereceu
ser incorporada aocardpiode embaixadas brasileiras noexterior. Recebeuelogios
rasgados de uma amiga francesa que me dizia, talvez com certo exagero, que em
Paris no se encontrava musse como a de Deja O fato interessante que essa re-
ceita foi obtida inicialmente por ela quando trabalhou para uma famlia francesa,
no incio de sua carreira. Suas receitas brasileiras mais tradicionais eramcompara-
das s de livros famosos, como o de Dona Benta. O que quero destacar que,
O PATRO E AS EMPREGADAS DOMSTICAS 25
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
atravs da culinria, se estabelecia umcanal de comunicao entre diferentes cate-
gorias sociais. Por outro lado, Deja aprendeu outras receitas em minha casa, fosse
atravs de minha ex-mulher, fosse atravs de outras amigas. Em geral, parece-me
relevante chamar a atenodesse trnsitode que todas participavam, nosnoter-
reno da culinria, mas de outros variados, como vesturio, tcnicas de limpeza, vo-
cabulrio, sade e tudo o que a acompanha, como medicamentos, tratamentos, etc.
O mais significativo para uma viso mais ampla deste processo perceber que se
trata de uma estrada de mo dupla, numefetivo sistema de troca cultural. Embora
isso j tenha sido comentado emrelao a modelos mais tradicionais, penso que as
mudanas aceleradas socioeconmicas no Brasil, nas ltimas dcadas, derammar-
gem ao aparecimento de tipos de relao e de categorias sociais que, embora mar-
cadas por uma distncia hierrquica, desenvolvem modos de vida atravs dos
quais produzem e atuam em novas situaes. H uma combinao de atitudes e
comportamentos, ancorados emrelaes tradicionais, comvalores individualistas
de ascenso e afirmao social. O fato que quando terminava uma verso deste
texto, Vera me trouxe, do fimde semana, umpedao de bolo e meia dzia de briga-
deiros do aniversrio de trs anos de seu filho menor. Fiquei gratssimo.
As empregadas domsticas, nesse cenrio, parecem desempenhar um inte-
ressante papel de levar e trazer experincias e informaes de modo crescente e di-
nmico. As motivaes passam por, como vimos, desde uma luta bsica pela
sobrevivncia para uma vontade de consumo e mesmo ambio profissional/fi-
nanceira. Parece-me que os casos de Ceclia e Snia, principalmente, so bastante
ilustrativos dessas pretenses. Abusca por uma melhor educaoque possa chegar
mesmo at o diploma universitrio nos casos que acompanhei se aplicava, sobretu-
do, a projetos envolvendo as novas geraes de filhos, sobrinhos e netos. Tambm
acho importante ressaltar que, embora o trabalho domstico profissional possa ter
declinado em certos aspectos, continua sendo uma alternativa importante para as
camadas populares. Assim, se toda a gerao de Deja e de suas irms sexagenrias
e septuagenrias dedicou-se a servios domsticos, tambmna de Vera, de trinta e
poucos anos, encontramos irms e primas sobrevivendo s custas dessa atividade.
verdade que, como j foi dito acima, hoje tendema predominar solues interme-
dirias, como a de diarista ou folguista, contrastando com o esquema tradicional
de emprego permanente emuma s casa, caracterstica da mencionada gerao de
Deja. Dormir em casa, cuidar dos filhos e do casamento so preocupaes funda-
mentais, tornando-se cada vez mais prioritrias. Dentro de meu campo restrito de
observao, vale registrar que interagi tambmcomacompanhantes e enfermeiras,
cujas caractersticas sociais pareciam ser muito prximas quelas do universo que
at agora comentei. Esse meu acesso deveu-se, sobretudo, aos cuidados com a mi-
nha me, hoje nonagenria. Algumas dessas pessoas que desempenhamessas fun-
es eram, originalmente, empregadas domsticas. Portanto, de algum modo,
estavam ascendendo, no necessariamente s em termos financeiros, mas como
marcas de reconhecimento social. Embora no seja inevitvel e irreversvel, a con-
dio de empregada domstica, implica algum grau de desvalorizao. H dife-
renas significativas, no entanto, quando se coloca a questo salarial, para quemse
trabalha e as condies gerais de emprego (Kofes, 2001, e Silveira, 2011).
26 Gilberto Velho
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
Saliente-se que a sua condio modesta no exclui um significativo papel de
mediao e comunicao entre categorias sociais e nveis de cultura. Sobretudo, h
que destacar as suas caractersticas de transitar entre diferentes contextos, meios,
situaes, e vendo, ouvindo e comparando.
10
Nessa atuao, com maior ou menor
clareza quanto aos seus projetos, so agentes de mudana social, reinterpretando e
reinventandorelaes, costumes e cdigos. Percorrema metrpole, emritmos e ve-
locidades diversificados, fazendo novas combinaes, juntando fragmentos e
pedaos de vrios mundos, numa fascinante bricolage. Longe de serem meras so-
brevivncias de umpassado arcaico, so ativas construtoras de novos mundos, em
que hierarquia e individualismos, tradio e modernidade so transformados em
instigantes metamorfoses. importante conseguir identificar situaes e contextos
propcios a diferentes combinaes de valores individualistas e hierarquizantes
nos termos de Simmel (1971) e Dumont (1966 e 1977), at para superar modelos que
possam congelar processos sociais complexos e dinmicos. O fato que essas mu-
lheres esto envolvidas, como participantes ativas, emprocessos de negociao da
realidade emque so intrpretes e sujeitos na leitura de significados antigos e pro-
duo de novos.
Referncias bibliogrficas
Bakhtin, Mikhail B. (1987), ACultura Popular na Idade Mdia e no Renascimento. O Contexto de
Franois Rabelais, So Paulo, Hucitec/Edusp, Braslia, Ed. Universidade de Braslia.
Becker, Howard S. (1973), Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, Nova Iorque, The
Free Press. Publicao em portugus: Howard S. Becker (2008), Outsiders. Estudos
de Sociologia do Desvio, Rio de Janeiro, Zahar.
Becker, Howard S. (1977), Sociological Work. Method and Substance, New Brunswick,
Transactions.
Bott, Elizabeth (1972), Family and Social Network, Londres, Tavistock. Publicao em
portugus: Elizabeth Bott (1976), Famlia e Rede Social, Rio de Janeiro, Francisco
Alves.
Burke, Peter (1989), Cultura Popular na Idade Moderna, So Paulo, Companhia das Letras.
Coelho, Maria Claudia (2001), Sobre agradecimentos e desagrados: trocas materiais,
relaes hierrquicas e sentimentos, em Gilberto Velho e Karina Kuschnir (orgs.),
Mediao, Cultura e Poltica, Rio de Janeiro, Aeroplano.
Duarte, Luiz Fernando Dias, e Edlaine Gomes (2008), Trs Famlias. Identidades e
Trajetrias Transgeracionais nas Classes Populares, Rio de Janeiro, Fundao Getulio
Vargas, 2008.
Dumont, Louis (1966), Homo Hierarchicus. Essai sur le Systme des Castes, Paris, Gallimard.
Dumont, Louis (1977), Homo Aequalis. Gense et panouissement de lIdologie conomique,
Paris, Gallimard.
O PATRO E AS EMPREGADAS DOMSTICAS 27
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
10 Sobre relaes entre nveis de cultura, registro a importncia da leitura de trabalhos de M. B.
Bakhtin (1987), Peter Burke (1989) e Carlo Ginzburg (1987), que podem nos ajudar a pensar o
mundo contemporneo.
Freyre, Gilberto (1933), Casa Grande e Senzala. Formao da Famlia Brasileira sob o Regime
da Economia Patriarcal, Rio de Janeiro, Jos Olympio.
Freire, Gilberto (1936), Sobrados e Mucambos. Decadncia do Patriarcado Rural e
Desenvolvimento Urbano, Rio de Janeiro, Jos Olympio.
Gans, Herbert J. (1975), Popular Culture and High Culture. An Analysis and Evaluation of
Taste, Nova Iorque, Basic Books.
Ginzburg, Carlo (1987), O Queijo e os Vermes. O Cotidiano e as Idias de um Moleiro
Perseguido pela Inquisio, So Paulo, Companhia das Letras.
Goffman, Erving (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Nova Iorque, Doubleday,
Anchor Books. Publicao em portugus: Erving Goffman (1975), A Representao
do Eu na Vida Cotidiana, Petrpolis, Vozes.
Goffman, Erving (1961), Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other
Inmates, Nova Iorque, Doubleday. Publicao em portugus: Erving Goffman
(1974). Manicmios, Prises e Conventos, So Paulo, Perspectiva.
Goffman, Erving (1963), Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity,
Englewood Cliffs, Prentice-Hall. Publicao em portugus: Erving Goffman
(1975), Estigma. Notas Sobre a Manipulao da Identidade Deteriorada, Rio de
Janeiro, Zahar.
Holanda, Srgio Buarque de (1936), Razes do Brasil, Rio de Janeiro, Jos Olympio.
Hughes, Everett C. (1971), The Sociological Eye. Selected Papers on Institutions and Race,
Chicago, Aldine Athernon.
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (2011), Pesquisa mensal de
emprego. Principais destaques da evoluo do mercado de trabalho nas regies
metropolitanas abrangidas pela pesquisa: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, So Paulo e Porto Alegre (2003-2010), em IBGE, Indicadores do IBGE,
setembro de 2011, Rio de Janeiro, IBGE, pp. 34-136.
Kofes, Suely (2001), Mulher, Mulheres. Identidade, Diferena e Desigualdade na Relao entre
Patroas e Empregadas, Campinas, Editora da Unicamp.
Mitchell, J. Clyde (1971), Social Networks in Urban Situations, Manchester, Manchester
University Press.
Peirano, Mariza (2008), Brazil: otherness in context, em Deborah Poole (org.),
A Companion to Latin American Anthropology, Oxford, Blackwell Publishing, pp. 56-71.
Schutz, Alfred (1970), On Phenomenology and Social Relations, Chicago, The University of
Chicago Press. Publicao em portugus: Alfred Schutz (1979), Fenomenologia e
Relaes Sociais, Rio de Janeiro, Zahar.
Schutz, Alfred (1976), Collected Papers II. Studies in Social Theory, Haia, Martius Nijhoff.
Silveira, Liane Maria Braga da (2011), Como se Fosse da Famlia. A (In)Tensa Relao
entre Mes e Babs, Rio de Janeiro, PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, tese de
doutorado.
Simmel, Georg (1971), Georg Simmel on Individuality and Social Forms, em Donald Levine
(org.), Chicago, The University of Chicago Press.
Velho, Gilberto (1973), A Utopia Urbana. Um Estudo de Antropologia Social, Rio de Janeiro,
Zahar.
Velho, Gilberto (1981), Individualismo e Cultura. Notas para Uma Antropologia da Sociedade
Contempornea, Rio de Janeiro, Zahar.
28 Gilberto Velho
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
Velho, Gilberto (2011), Antropologia urbana: interdisciplinaridade e fronteiras do
conhecimento, Mana, 17 (1), pp. 161-185.
Gilberto Velho. Foi professor titular e decano do Departamento de Antropologia
do Museu Nacional/UFRJ e membro da Academia Brasileira de Cincias.
Resumo/abstract/rsum/resumen
O patro e as empregadas domsticas
Este artigo baseado na experincia direta do autor com empregadas domsticas.
Trata-se, assim, de uma etnografia marcada por um depoimento pessoal que refe-
re-se a vrios anos de interao e convvio com essa categoria social. Pretende ser,
sobretudo, um comentrio etnogrfico sobre relaes entre categorias sociais na
sociedade brasileira contempornea, emprocesso de transformao. Est presente
tambm a questo de gnero, desde que est sendo analisada a relao entre um
patro e suas empregadas domsticas. H inteno tambm de valorizar a pesqui-
sa do cotidiano domstico contemporneo.
Palavras-chave patres e emprego domstico, cotidiano, gnero, projetos e aspiraes,
mudana social.
Bosses and domestic workers
This article is based on the authors personal experience with female domestic
workers. It is thus an ethnography marked by a personal testimony about various
years in which the author interacted and spent time with this social category. The
idea is above all to offer an ethnographic commentary on relations between social
categories in contemporary Brazilian society, which is in a process of transforma-
tion. The gender question is also present, inasmuch as the article analyses the rela-
tionship between a male employer the boss and his female domestic
servants. Another intentionbehindthe text is toshowthe value of researchondaily
life in contemporary homes.
Keywords bosses and domestic work, daily life, gender, projects and aspirations, social
change.
Le patron et les femmes de mnage
Cet article est fond sur lexprience directe de son auteur avec ses femmes de m-
nage. Il sagit dune ethnographie marque par un tmoignage personnel qui porte
O PATRO E AS EMPREGADAS DOMSTICAS 29
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
sur plusieurs annes dinteractionavec cette catgorie sociale. Il sagit surtout dun
commentaire ethnographique sur les relations entre catgories sociales dans la so-
cit brsilienne actuelle, en cours de transformation. Il soulve aussi la question
de genre, puisquil analyse la relation entre un patron et ses employes, tout en
mettant laccent sur le quotidien domestique actuel.
Mots-cls patrons et employs de maison, quotidien, genre, projets et aspirations,
changement social.
El patrn y las empleadas domsticas
Este artculo est basado en la experiencia directa del autor con empleadas doms-
ticas. Se trata, as, de una etnografa marcada por un testimonio personal que se re-
fiere a varios aos de interaccin y convivio con esa categora social. Pretende ser,
sobretodo, un comentario etnogrfico sobre relaciones entre categoras sociales en
la sociedad brasilea contempornea, en proceso de transformacin. Est presente
tambin la cuestin de gnero, desde que est siendo analizada la relacin entre un
patrn y sus empleadas domsticas. Tambin hay intencin de valorar la pesquisa
del cotidiano domstico contemporneo.
Palabras-clave patrones y empleo domstico, cotidiano, gnero, proyectos y
aspiraciones, cambio social.
30 Gilberto Velho
SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRTICAS, n. 69, 2012, pp. 13-30. DOI: 10.7458/SPP201269784
Você também pode gostar
- Mulher de Impacto - Aprendendo C - Cristiane Tuma PDFDocumento187 páginasMulher de Impacto - Aprendendo C - Cristiane Tuma PDFEveline80% (5)
- As Sete Linhas Da Umbanda Janaina AzevedoDocumento125 páginasAs Sete Linhas Da Umbanda Janaina AzevedoCarlos Nascimento100% (1)
- Sob o Domínio Do SheikDocumento645 páginasSob o Domínio Do SheikMarcela LopesAinda não há avaliações
- David Boadella - O Que É BiossinteseDocumento30 páginasDavid Boadella - O Que É BiossinteseEttore Dias Medina100% (5)
- 1 Atividade Diagnostica 6 AnoDocumento32 páginas1 Atividade Diagnostica 6 AnoGiordana Fróes100% (1)
- Conflitos Na Escola - Modos de Transformar PDFDocumento207 páginasConflitos Na Escola - Modos de Transformar PDFEttore Dias Medina100% (2)
- AtravesDeVoce CorrigidoDocumento25 páginasAtravesDeVoce Corrigidoa988356141Ainda não há avaliações
- Gerda Boyensen - O Que É Psicologia BiodinâmicaDocumento5 páginasGerda Boyensen - O Que É Psicologia BiodinâmicaEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Humberto Maturana - Emoções e Linguagem Na Educação e Na Política PDFDocumento95 páginasHumberto Maturana - Emoções e Linguagem Na Educação e Na Política PDFRafael Rossignoli100% (4)
- Vdocuments - MX - Tradicoes Negras Politicas Brancas PDFDocumento113 páginasVdocuments - MX - Tradicoes Negras Politicas Brancas PDFDiego Beck100% (1)
- Ecléa Bosi - A Atenção em Simone Weil PDFDocumento10 páginasEcléa Bosi - A Atenção em Simone Weil PDFEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Rui Canário - A Escola Da PonteDocumento95 páginasRui Canário - A Escola Da PonteEttore Dias Medina100% (1)
- As Consequências Da Escravidão Na História Do Negro No BrasilDocumento11 páginasAs Consequências Da Escravidão Na História Do Negro No BrasilLuana FontesAinda não há avaliações
- Bio Tensao Estrutura Carater Davi Boadella Ana Luiza MentzDocumento68 páginasBio Tensao Estrutura Carater Davi Boadella Ana Luiza MentzAndré BXimenesAinda não há avaliações
- Literatura e Afrodescendência No Brasil - Rafael ZinDocumento30 páginasLiteratura e Afrodescendência No Brasil - Rafael ZinLu Ain ZailaAinda não há avaliações
- Da favela para o mundo: Não importa de onde você vem, mas para onde você vaiNo EverandDa favela para o mundo: Não importa de onde você vem, mas para onde você vaiAinda não há avaliações
- John Austin - Sentido e PercepçãoDocumento41 páginasJohn Austin - Sentido e PercepçãoEttore Dias Medina100% (3)
- Esther Frankel - Espiritualidade e FinitudeDocumento3 páginasEsther Frankel - Espiritualidade e FinitudeEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- História Da América II - 2020.1Documento6 páginasHistória Da América II - 2020.1Thiago CláudioAinda não há avaliações
- Annateresa Fabris - Discutindo A Imagem Fotográfica - AnotaçõesDocumento12 páginasAnnateresa Fabris - Discutindo A Imagem Fotográfica - AnotaçõesEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- 21 Lampiao Da Esquina Edicao 17 Outubro 1979 PDFDocumento20 páginas21 Lampiao Da Esquina Edicao 17 Outubro 1979 PDFYgor Silva100% (2)
- Texto Ina Von BinzerDocumento2 páginasTexto Ina Von BinzerYasmin FarahAinda não há avaliações
- PARENTELA Marilia NeriDocumento269 páginasPARENTELA Marilia NeriMARILIANERIAinda não há avaliações
- GizinhaDocumento7 páginasGizinhaOrlando BrandãoAinda não há avaliações
- O Herdeiro - Joice BittencourtDocumento302 páginasO Herdeiro - Joice BittencourtBruna CostaAinda não há avaliações
- Caso Clínico 3Documento1 páginaCaso Clínico 3Karla SantosAinda não há avaliações
- Nativos Histórias e Lutas IndígenasDocumento79 páginasNativos Histórias e Lutas IndígenasdanyclarolimaAinda não há avaliações
- Três Contra Todos - Deco RodriguesDocumento94 páginasTrês Contra Todos - Deco Rodriguesjaynejade304Ainda não há avaliações
- A MInha Vida Depois Do VermelhoDocumento4 páginasA MInha Vida Depois Do Vermelhomimisafi0810Ainda não há avaliações
- PRIDEDocumento20 páginasPRIDEAlícia Peres100% (1)
- Trabalho Psicopatologia.Documento5 páginasTrabalho Psicopatologia.Eduardo CarvalhoAinda não há avaliações
- Atividade - Crônica - 1 SérieDocumento2 páginasAtividade - Crônica - 1 SérieGlenio MoraisAinda não há avaliações
- Trabalho de Historia Mariana NepomucenoDocumento3 páginasTrabalho de Historia Mariana NepomucenoMariana NepomucenoAinda não há avaliações
- Débora Muramoto - Ensaio de Antropologia CulturalDocumento7 páginasDébora Muramoto - Ensaio de Antropologia Culturalmuramoto_deboraAinda não há avaliações
- Familia e CentralidadeDocumento16 páginasFamilia e CentralidadeJéssica LimaAinda não há avaliações
- NOS TEUS BRACOS - Caminhos Do Am Daiana MachadoDocumento191 páginasNOS TEUS BRACOS - Caminhos Do Am Daiana MachadoBrisa PereiraAinda não há avaliações
- Recordações 2020 2Documento4 páginasRecordações 2020 2Nympha Aparecida Alvarenga SipaviciusuAinda não há avaliações
- 2920 Dias de LutaDocumento16 páginas2920 Dias de Lutavvpa.brazilAinda não há avaliações
- Graças ou Coincidências: Valores, Família, TrabalhoNo EverandGraças ou Coincidências: Valores, Família, TrabalhoAinda não há avaliações
- Recur SoDocumento10 páginasRecur SoJúlia GracielaAinda não há avaliações
- EncruzilhadaDocumento58 páginasEncruzilhadaMarco LimaAinda não há avaliações
- Psicanalises Especiais... Caso IsadoraDocumento12 páginasPsicanalises Especiais... Caso IsadoraRosita NuvungaAinda não há avaliações
- Peripécias De Uma Caloura Em Campanha! 2011 – 2012No EverandPeripécias De Uma Caloura Em Campanha! 2011 – 2012Ainda não há avaliações
- Njia - CaminhosDocumento53 páginasNjia - CaminhosStelvio QuizolaAinda não há avaliações
- Pátina do tempo: Lembranças da filha de uma imigrante italiana no sul do BrasilNo EverandPátina do tempo: Lembranças da filha de uma imigrante italiana no sul do BrasilAinda não há avaliações
- Nildes AlencarDocumento19 páginasNildes AlencarCarol MariaAinda não há avaliações
- Ana Mesquita e Emilia Carvalho - A Escuta TerapêuticaDocumento10 páginasAna Mesquita e Emilia Carvalho - A Escuta TerapêuticaEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Marilene Grandesso - Dizendo Olá Novamente PDFDocumento24 páginasMarilene Grandesso - Dizendo Olá Novamente PDFEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Carlos Rogrigues Brandão - Reflexões Sobre Como Fazer Trabalho de CampoDocumento17 páginasCarlos Rogrigues Brandão - Reflexões Sobre Como Fazer Trabalho de CampoEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Amilton Camargo - Terapia ComunitáriaDocumento181 páginasAmilton Camargo - Terapia ComunitáriaEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Litza Andrade Cunha - Texturas Do Sofrimento SocialDocumento123 páginasLitza Andrade Cunha - Texturas Do Sofrimento SocialEttore Dias Medina100% (2)
- Haroldo de Campos A Arte No Horizonte Do ProvávelDocumento240 páginasHaroldo de Campos A Arte No Horizonte Do ProvávelEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Enio Passani - Afinidades Eletivas Entre Bourdieu e WilliamsDocumento16 páginasEnio Passani - Afinidades Eletivas Entre Bourdieu e WilliamsEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- APC - OUTUBRO - Empreendedorismo Social - 2ADocumento4 páginasAPC - OUTUBRO - Empreendedorismo Social - 2AEder Mauricio OliveiraAinda não há avaliações
- Historia Exercicios Idade Contemporanea Nazismo FacismoDocumento14 páginasHistoria Exercicios Idade Contemporanea Nazismo FacismoSarah Meneses0% (1)
- A Mistura Do Povo BrasileiroDocumento1 páginaA Mistura Do Povo Brasileirosara cmAinda não há avaliações
- 1 - Apostila - Lingua PortuguesaDocumento61 páginas1 - Apostila - Lingua PortuguesaGivanete DiasAinda não há avaliações
- Jogos Africanos PDFDocumento104 páginasJogos Africanos PDFLu Dias100% (1)
- Anotações - Vida Privada e Ordem Privada No ImpérioDocumento9 páginasAnotações - Vida Privada e Ordem Privada No ImpérioGuilherme StuhrAinda não há avaliações
- A Educação de Jovens e Adultos e A Promoção Da Igualdade Racial No BrasilDocumento24 páginasA Educação de Jovens e Adultos e A Promoção Da Igualdade Racial No BrasilDanilo SilvaAinda não há avaliações
- Racismo CordialDocumento27 páginasRacismo Cordialvalberto rodriguesAinda não há avaliações
- ARTIGO - A Escravaria Da Vila de São CristóvãoSE No Século XVIII Um Perfil DemográficoDocumento15 páginasARTIGO - A Escravaria Da Vila de São CristóvãoSE No Século XVIII Um Perfil DemográficoPedrianne DantasAinda não há avaliações
- Viva o Povo Brasileiro Estudo Sobre Joao Ubaldo Ribeiro e A Ideia de Povo Na Sociedade BrasileiraDocumento141 páginasViva o Povo Brasileiro Estudo Sobre Joao Ubaldo Ribeiro e A Ideia de Povo Na Sociedade BrasileiracaarolesAinda não há avaliações
- Diversidade Étnico-Racial Iii: Iv - População NegraDocumento8 páginasDiversidade Étnico-Racial Iii: Iv - População Negraanderson.sillva9999Ainda não há avaliações
- Aleijadinho - Texts by Rodrigo Moura and Mario de AndradeDocumento28 páginasAleijadinho - Texts by Rodrigo Moura and Mario de AndradeIsadora Soares Belletti100% (2)
- Organizador História - BNCCDocumento9 páginasOrganizador História - BNCCalinecarlindoAinda não há avaliações
- Aula 5.artigo. E Agora Falamos Nós PDFDocumento25 páginasAula 5.artigo. E Agora Falamos Nós PDFMaybel SulamitaAinda não há avaliações
- Mineiração No Brasil ColonialDocumento7 páginasMineiração No Brasil ColonialRodrigo SilvaAinda não há avaliações
- UEMA Modelo de Artigo Ciencias Biologic AsDocumento7 páginasUEMA Modelo de Artigo Ciencias Biologic AsHermenildo CardozoAinda não há avaliações
- Escravidão Negra e IndígenaDocumento31 páginasEscravidão Negra e IndígenaJoaquim Teles de FariaAinda não há avaliações
- Racismo e Hipocrisia Na Sociedade Contemporânea Através Da Campanha Publicitária "United Colors of Benetton"Documento8 páginasRacismo e Hipocrisia Na Sociedade Contemporânea Através Da Campanha Publicitária "United Colors of Benetton"Mateus Nascimento100% (1)
- Resenha 1 - Munanga. Kabengele. "Arte Afro-Brasileira o Que É Afinal "Documento2 páginasResenha 1 - Munanga. Kabengele. "Arte Afro-Brasileira o Que É Afinal "Mariana Souza SantosAinda não há avaliações
- A Campanha AbolicionistaDocumento9 páginasA Campanha AbolicionistaAna CarvalhoAinda não há avaliações
- Dantas Mota - Um Banquete Nos Trópicos (1 - Pensamento Social Brasileiro)Documento8 páginasDantas Mota - Um Banquete Nos Trópicos (1 - Pensamento Social Brasileiro)Rafael Zacca100% (1)
- Impedidos de Entrar em Wakanda Por Beatriz BuenoDocumento17 páginasImpedidos de Entrar em Wakanda Por Beatriz BuenoOzaias RodriguesAinda não há avaliações
- 03 AuditorDocumento18 páginas03 AuditorAndreia AlmeidaAinda não há avaliações