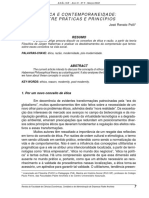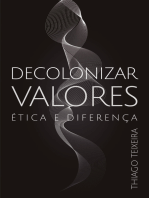Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Texto 1 - Ética e Educação - A Formação Do Homem
Texto 1 - Ética e Educação - A Formação Do Homem
Enviado por
Sandra MariaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Texto 1 - Ética e Educação - A Formação Do Homem
Texto 1 - Ética e Educação - A Formação Do Homem
Enviado por
Sandra MariaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
tica e educao
A formao do homem no contexto de crise da razo
Renato Jos de Oliveira
Universidade Federal de Juiz de Fora
Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro
Introduo
A poucos anos do fim da dcada, vivemos uma
era de perplexidades e incertezas, ante-sala do novo
milnio que se anuncia, repleto de desafios para os
educadores. Afinal, que papel cumpre a educao
em um mundo simultaneamente atravessado pelo
desenvolvimento tcnico avassalador e pelo crescimento vertiginoso da fome e da misria? Que significa educar em um tempo em que a violncia (poltica, tnica, religiosa, esportiva) atinge escala planetria, tornando tnues as fronteiras entre civilizao e barbrie?
Nesse contexto, mltiplas aes pedaggicas,
muitas delas visceralmente antagnicas, se do simultaneamente no dia-a-dia. No crculo familiar,
nas salas de aula, nas ruas, nos morros, nas seitas
religiosas, nas gangues de jovens, nas torcidas organizadas, enfim, nos mais diversos espaos sociais,
diferentes valores morais, ticos e polticos constrem diferentes concepes de mundo e de homem.
Essas diferenciaes saudveis em toda sociedade
que se pretende democrtica e pluralista , quan-
Revista Brasileira de Educao
do cozidas em um caldo de desigualdades sociais
gritantes, degeneram em obsesses e fanatismos diversos, os quais querem afirmar suas verdades a
partir da coao e do exerccio da violncia, pondo sob risco constante os mais elementares direitos
da cidadania.
Ser cidado poder apropriar-se dos bens socialmente produzidos, atualizar todas as possibilidades de realizao humana abertas pela vida
social em cada contexto historicamente determinado (Coutinho, 1994, p. 2). Tal possibilidade de
apropriao deixa de existir se no seio da sociedade se instala a competio exacerbada, expressa
pelo que aqui no Brasil se conhece por lei de Grson: querer levar vantagem em tudo.
O que sustenta essa lei , sem dvida, uma
razo de natureza pragmtica, a qual se ergue sobre os escombros da chamada razo universal. Esta
certamente teve no passado seus dias de glria, mas,
segundo afirma Baudrillard (1995), em um mundo
onde o que importa o que aparece, no h mais a
possibilidade de fazer a crtica racional dos valores
artsticos, morais ou polticos, j que o sistema tem
33
Renato Jos de Oliveira
a inesgotvel capacidade de absorver qualquer crtica, convertendo-a em instrumento de reafirmao
de si mesmo. Na viso baudrillardiana, vivemos um
tempo em que o aparente deixa de ser aparente pois
tudo na verdade superfcie e imagem, o que permite proclamar o fim da histria.
Vendo o momento atual no como terminalidade, mas enquanto transio marcada pelo fim
da centralidade da razo, que no mais desempenha o papel de guia seguro para as aes humanas,
Maffesoli (1995) destaca o fenmeno do tribalismo.
Por no acreditarem mais nos grandes valores morais e espirituais pregados pelas religies nem nos
ideais democrticos perseguidos pela ao poltica
coletiva, as pessoas se fecham em grupos ou seitas,
os quais so capazes tanto de construir algum tipo
de ao solidria como toda a sorte de fanatismos.
Embora Maffesoli aposte no ajustamento dos diversos grupos ou seitas, em um processo de cinestesia
social,1 a crescente tendncia converso do existir
humano em instrumento exclusivo de realizao de
fins particulares, de interesses concernentes a esta
ou aquela tribo, sem dvida preocupante.
A discusso aqui projetada pretende, ento,
suscitar questes capazes de contribuir para a reflexo do educador dentro e fora da sala de aula,
visto que as questes ticas atravessam, nos mais
diferentes nveis, o cotidiano das relaes humanas.
tica: do esquecimento notoriedade
Alain Badiou (1995) assinala que certos termos
eruditos, semelhana de uma solteirona esquecida que repentinamente se torna a grande atrao de
um salo de festas, tm s vezes o privilgio de ocupar os espao da mdia e da publicidade. Tal fenmeno se aplicaria, por exemplo, tica.
A despeito da referncia pouco lisonjeira s solteiras de mais idade, a questo levantada pelo autor
merece ser apreciada. Antes, porm, cabe perguntar:
1
Maffesoli faz a uma analogia com o ajuste natural
das diferentes funes do organismo humano, processo que
os mdicos chamam de cinestesia.
34
o que significa ser tico ou agir eticamente? No que
a tica difere da moral, se que cabe a distino?
Lalande (1993, p. 348) destaca que historicamente a palavra tica foi aplicada moral sob
todas as suas formas, quer como cincia, quer como
arte de dirigir a conduta. No seu entender, cabe
ento definir tica enquanto cincia cujo objeto so
os juzos de apreciao sobre os atos humanos, encarados como bons ou maus. Como freqentemente
o juzo comum mistura as questes ticas com as
morais, o autor sublinha a importncia de separar
as duas instncias. Moral seria o conjunto das prescries admitidas em uma poca e em uma sociedade determinadas, o esforo para que possa haver
conformao a tais prescries, a exortao a seguilas. J a tica, agraciada com o galardo da episteme, posto que situada como cincia, deve possuir carter mais genrico.
A maior generalidade da tica sustentada por
Kant (Vancourt, 1987), que situa como morais os
eventos que dizem respeito conduta subjetiva e
como ticos aqueles associados moralidade incorporada nas prticas e instituies de determinada
comunidade, fornecendo critrios consensuais para
que qualquer pessoa faa distino entre bem e
mal, entre justo e injusto, entre certo e errado. Para
Kant, alis, uma norma moral pode ser generalizada e atingir a condio de norma tica, desde que
seja aplicvel a todos os seres dotados de razo.
Esta, tomada enquanto princpio fundante das normas ticas, estabelece que agir eticamente significa
orientar-se segundo mximas capazes de estabelecer as formas corretas de conduta. Tais mximas
so, na viso kantiana, normas estabelecidas pela
faculdade do discernimento, que, tendo em vista o
universal, institui regras para as situaes particulares. Assim, um juzo tico pode ser qualificado de
concreto quando engloba tanto a mxima universal, ou seja, o princpio genrico que norteia a ao,
quanto a regra particular, aplicvel a cada situao
especfica do viver humano.
J Maffesoli (1994) considera a moral instncia universal e universalizvel. A Revoluo Francesa teria sido um exemplo tpico de movimento que
Mai/Jun/Jul/Ago 1996 N 2
tica e educao
difundiu uma certa moral, a burguesa, para todos.
A tica, por sua vez, estaria referida aos costumes
particulares, sendo tributria de grupos. Para Maffesoli a Mfia seria um bom exemplo de grupo cujo
comportamento condenado pela moral vigente na
sociedade mas que possui uma tica prpria, seguida por seus integrantes. Ainda segundo esse autor,
a entrada na ps-modernidade anuncia a saturao
do que se poderia chamar de moral universal, a qual
se faz acompanhar pelos particularismos ticos caractersticos das tribos.
tica e moral podem ser, portanto, tomadas
enquanto instncias intercambiveis. Considerando
as razes etimolgicas dos dois termos, verifica-se que
o vocbulo grego ethos e o latino mos possuem significados correspondentes, referidos conduta e aos
costumes humanos. Para os fins da discusso aqui
proposta, interessa trabalhar nos marcos do arcabouo conceptual kantiano, construdo com base no
que se convencionou chamar de razo universal.
Enquanto instncias generalizveis, as normas
ticas supem, conforme foi dito, a clara distino
entre os conceitos de bem e mal. Badiou (1995) relativiza esses conceitos: acaso a imagem do bem feita
por um homem branco, ocidental, cristo a mesma feita por um muulmano xiita? Ou em termos
mais genricos: as idias de bem e mal so suficientemente bvias para se imporem por sobre as diferenas culturais?
Do ponto de vista da antropologia contempornea, o campo axiolgico se acha fragmentado,
revelando uma pluralidade infinita de sistemas normativos excludentes, cada qual possuindo sua validade especfica, conforme o contexto cultural em
que formulado. Nenhum deles , portanto, melhor
que o outro pois as culturas so incomensurveis
entre si.
No cerne desse debate, como ficaria, ento, o
problema do retorno ao tico enquanto modismo
patrocinado pela mdia? Tratar-se-ia da revalorizao da tica kantiana ou de pr em evidncia uma
tica assentada sobre outros princpios?
Sonia Marrach (1993) aprecia com destaque
essa questo. Considerando que a mdia exerce po-
Revista Brasileira de Educao
der sobre as massas, pois capaz de produzir fascnio, a autora faz uma anlise do caso Collor, salientando que os meios de comunicao teriam atuado
no sentido de produzir um simulacro de realidade
para crucificar o pecador (Collor) e perdoar o pecado, isto , o projeto neoliberal em vias de implantao no Brasil. Ao sarem s ruas para pedir o impeachment, as massas teriam agido mais em funo
de um espetculo teatral (pintar a cara, vestir-se de
preto etc.) do que em defesa dos ideais ticos e de
cidadania. As relaes entre massa e mdia haveriam,
ento, fundado uma nova tica, corriqueira, descartvel, prtica, assentada no princpio da emoo.
Se essa a tnica do agir tico da atualidade,
no a Kant que se retorna, mas ao ceticismo de
Hume, para quem no h possibilidade de legitimar
racionalmente os juzos ticos, isto , conferir-lhes
o carter de verdade. Se h regras a seguir, estas no
derivam da razo mas dos sentimentos, sendo a utilidade o critrio norteador de qualquer julgamento tico. Tal como no pode garantir no dia de amanh o nascer do Sol, crena que nos garantida pelo
hbito ou costume de observar cotidianamente o
mesmo fenmeno, a razo incapaz de formular
juzos ticos por ser lenta em suas operaes e
estar extremamente exposta ao erro e ao equvoco (Hume, 1939, p. 97-98).
Nessa perspectiva, possvel dizer que o retorno ao tico mais um fenmeno produzido no nvel do discurso institucional (governos, meios de
comunicao, entidades civis, ONGs etc.) do que
no nvel dos interesses humanos, os quais estariam
marcados, neste final de sculo, pelo recrudescimento dos egosmos, pela precariedade das polticas de
emancipao e pela multiplicao das violncias
(Badiou, 1995).
A partir das consideraes de Marrach e de
Badiou, cabe levantar, entretanto, uma questo:
mesmo sendo modismo a tica deve, como todo
produto posto venda, visar a compradores. Como
algo s comprvel se existe algum potencialmente
disposto a compr-lo, que disposies seriam essas?
Em outras palavras, a quais anseios concretos das
massas o retorno ao tico estaria respondendo?
35
Renato Jos de Oliveira
Na medida em que a escalada mundial da violncia atenta contra aquilo que todo indivduo tem
como fundamental, ou seja, o direito prpria vida,
a preservao desta se coloca como condio-limite. A partir da foroso reconhecer a necessidade
de demarcar fronteiras entre um bem e um mal,
de sorte que a relativizao extremada desses referenciais no pode ser admitida por conduzir a um
vale-tudo cuja conseqncia nada mais nada menos que a destruio da espcie humana.
Portanto, se o retorno ao tico possui o carter de modismo, ele no se resume apenas a isso, j
que esto em jogo aspiraes maiores que o simples
mercado de imagens sustentado na teatralizao do
agir cotidiano. Contudo, em que frum pode se dar
a demarcao das fronteiras referidas supra? Que
dimenso do humano pode tra-las? A razo universal? A emoo?
Essas questes permitem constatar que o problema tico no pode ser suficientemente discutido
se for posto ao largo do que hoje se chama de crise
da razo.
Crise da razo ou de um
modelo de razo?
Quando se fala em razo tem-se a idia de que
esta se constitui em algo nico, universal, capaz de
conservar-se inclume atravs dos tempos histricos.
Bem mereceria, nesse caso, ser chamada A Razo e
respeitada como possuidora de estatuto divino. Contra ela Nietzsche (1993) dirigiu sua crtica, identificando-a com a dimenso apolnea do existir, caracterizada pela busca da beleza, da clareza, da retido
e da justia. Para esse filsofo, enquanto divindade
tica, Apolo exige dos homens o senso da medida e
o autoconhecimento, condicionando o belo a esses
dois princpios. Todavia, a existncia humana possui outra dimenso, a dionisaca, ligada ao xtase,
busca do prazer, s potncias da paixo. Em dado
momento, as duas dimenses opostas achavam-se
harmonizadas, momento este representado, segundo Nietzsche, pelo teatro trgico de squilo (525456 a.C.) e de Sfocles (496-405 a.C.). Em Sfocles,
36
por exemplo, a saga edipiana permite vislumbrar a
comunho entre o apolneo e o dionisaco: dipo tem
a sabedoria e com ela decifra o enigma que lhe prope a esfinge; contudo, justamente o saber que o
condena ao erro e miserabilidade expressos pelo
ato de matar o pai e desposar a prpria me. S que
o erro moral inseparvel do xtase, constituindose o prazer e a dor em sentimentos que se harmonizam no curso da existncia humana: tudo que existe
justo e injusto e em ambos os casos igualmente
justificado. Isso o teu mundo! Isso se chama um
mundo! (Nietzsche, 1993, p. 69).
A harmonia teria terminado quando Eurpedes
introduziu na tragdia o prlogo, recurso explicativo cujo objetivo era racionalizar o drama. A partir da, Nietzsche v a derrocada do dionisaco e o
conseqente triunfo do apolneo, porm no Apolo quem fala pela boca de Eurpedes e sim um intrprete: Scrates.
Avesso a tudo quanto se ligasse ao irracional,
Scrates teria dirigido seu olhar retificador contra
as iluses que mascaram a realidade, impedindo a
verdadeira compreenso das coisas. A pretenso
socrtica era corrigir o mundo pela razo, desiludir o homem, ensin-lo a se colocar no caminho da
verdade. Por trs do sei que nada sei haveria, no
entender de Nietzsche, um projeto nada modesto:
fazer da razo, alada ao patamar da universalidade, o grande guia da conduta humana.
O primado da razo teria ento gerado a infelicidade, j que implica em renunciar ao aqui e
agora, ao momentneo, ao transitrio, ao precrio,
aos desejos em funo de um ascetismo intelectual
fundado na busca da verdade. Como conseqncia
da ciso entre pensamento e vida surge esse homem abstrato, guiado sem mitos, a educao abstrata, os costumes abstratos, o direito abstrato, o
Estado abstrato (Nietzsche, 1993, p. 135).
Essa crtica peca, entretanto, justamente por
considerar que uma mesma e nica razo se impe
no mundo ocidental, subjugando o homem h vrios
sculos. Entretanto, como salienta Pessanha (1989),
as racionalidades grega e moderna diferem substancialmente. A razo grega no tinha os mesmos fun-
Mai/Jun/Jul/Ago 1996 N 2
tica e educao
damentos da razo moderna, construda sobre o pensamento cientfico dos sculos XVI e XVII, mas erguia-se, outrossim, sobre a palavra, sobre o argumento, o qual deveria convencer, persuadir.
O homem grego era eminentemente poltico,
isto , respirava a atmosfera da polis, caracterizada, sobretudo no perodo clssico (sculos V e IV
a.C.), pelos laos de philia (amizade) entre os cidados. A despeito da posio social ocupada, um cidado via o outro como semelhante (hmoioi), sujeito de direitos e deveres. certo que a condio
cidad variava bastante de cidade para cidade, havendo, como sublinha Aristteles (1991), profundas diferenas entre habitante e cidado propriamente dito. Segundo o estagirita, o habitante no
fazia seno participar de um modo imperfeito da
vida da polis, seja por estar na condio de escravo, por ser estrangeiro ou por no possuir, como
no caso do arteso, tempo livre suficiente para cultivar os ideais de civismo necessrios participao
no governo. Os cidados, ao contrrio, no se dedicando s atividades servis, podiam participar das
reunies pblicas (ekklesias) que deliberavam sobre
as questes de Estado.
Embora restritiva do ponto de vista humano,
j que a condio cidad no era desfrutada pela
maioria da populao das cidades, a sociedade grega no via o tico e o poltico enquanto esferas separadas. Para deliberar sobre a justeza dessa ou
daquela questo, era preciso pr em confronto as
diferentes opinies, sendo as controvrsias, alm de
inevitveis, sadias para o exerccio da cidadania. A
razo que sustentava as deliberaes possua, portanto, natureza argumentativa, no cabendo dela
exigir, conforme assinala Aristteles (1992), a preciso de uma demonstrao matemtica. Em conseqncia, o discurso de um orador era construdo
sobre as ambigidades da situao analisada, no
sobre as verdades intrnsecas das premissas que fundamentam os raciocnios cientficos. Ele visava um
auditrio que iria escolher, aps um perodo de reflexo, entre alternativas possveis, como por exemplo condenar ou absolver Scrates do crime de corromper espiritualmente a juventude.
Revista Brasileira de Educao
Para Chaim Perelman (1988, p. 21), a razo
argumentativa, apoiada sobre as bases da retrica
clssica, declina a partir do sculo XVI com o advento do pensamento burgus, que generalizou o
papel da evidncia, quer se tratasse da evidncia pessoal do protestantismo, da evidncia racional do cartesianismo ou da evidncia sensvel do empirismo.
A razo moderna, tendo como um de seus pilares o cartesianismo, busca fundamentos nas evidncias matemticas. Afinal, para Descartes, Deus,
o grande gemetra, criara o universo tendo por ferramenta bsica a clareza dos nmeros e das relaes
geomtricas, no a ambigidade das palavras. O
mtodo cartesiano exorta o homem a evitar o erro,
o qual pode ter origem na preveno e na precipitao a que est sujeito nosso juzo. Tais atitudes,
certamente danosas ao esprito, ligam-se ao que
incorporado a partir dos costumes, os quais tendem
a produzir falsos julgamentos:
Desse modo [...] passei a no crer com demasiada firmeza em nada do que fora inculcado por influncia da exemplificao e do costume. E assim me
libertei, pouco a pouco, de inmeros erros que podem
obscurecer nossa lucidez natural e tornar-nos menos
capazes de entender a razo (Descartes, 1989, p. 57).
Mas a razo moderna possui tambm outro
pilar na cincia experimental, que tem por objetivo dominar a natureza, colocando-a a servio do
homem. O empirismo baconiano condena, ento,
a investigao filosfica por consider-la construda
sobre alicerces frgeis, ou seja, por basear-se mais
na especulao que na coleta de dados em quantidade e qualidade desejveis para formular os raciocnios. A correta investigao , para Bacon, a de
cunho experimental, que deve ser judiciosamente
dirigida, sob pena de se ver reduzida a um mero
tatear em meio escurido:
Mas a verdadeira ordem da experincia [...] comea por, primeiro, acender o archote e, depois, com
o archote mostrar o caminho, comeando por uma
experincia ordenada e medida nunca vaga e errtica , dela deduzindo os axiomas e, dos axiomas,
37
Renato Jos de Oliveira
enfim, estabelecendo novos experimentos (Bacon,
1973, p. 56).
Os tempos modernos vo se caracterizar, ento, pela confiana quase cega no progresso da cincia, vista no s como instrumento de dominao
da natureza mas tambm como redentora da humanidade. Para os iluministas, somente uma razo
alicerada sobre as slidas bases do conhecimento
cientfico poderia arrancar o homem das trevas da
superstio e da ignorncia, em ltima anlise responsveis pela penria e pelos flagelos sofridos por
boa parte do gnero humano.
Como as leis do mundo fsico se achassem bem
estabelecidas, permitindo o controle e previso dos
fenmenos naturais, o pensamento cientfico do sculo XIX busca agora estabelecer as leis do desenvolvimento biolgico e histrico-social. Surgem,
pois, a teoria de Darwin sobre a evoluo das espcies, a qual abala significativamente as teses criacionistas sustentadas pela religio, e o positivismo
comtiano, crtico contundente da metafsica. Se a
natureza possui uma ordem intrnseca que lhe confere funcionamento harmnico, para Comte a sociedade lhe segue o exemplo. Quando o homem
abandonar as elucubraes estreis, substituindoas por formas positivas2 de pensar, compatveis com
sua inteligncia, haver de encontrar essa harmonia.
Embora contrrios viso de que a sociedade se constitua em todo harmnico, os pensadores
socialistas no se opem idia de progresso. Marx
dir, alis, que este movido pelos conflitos, pela
necessidade de superao do velho por um novo que
nasce das contradies geradas no interior do pr-
Para Comte (1978), o termo positivo possui vrias
acepes. Ope-se ao quimrico (representado pelas elocubraes teolgicas e metafsicas), indeciso (caracterizada pelas dvidas e pelos debates que no encontram solues para as questes que se propem a discutir), ociosidade (vista como expresso de uma curiosidade estril, que
nada traz de proveitoso para o desenvolvimento do indivduo e da espcie) e negatividade (ligada ao conhecimento
desordenado que nada constri).
38
prio velho. Mesmo sem se arriscar a ditar receitas para os caldeires do futuro,3 Marx entendia
que a superao do capitalismo no era to-somente
uma questo de desejo mas conseqncia de uma
lei do desenvolvimento histrico cientificamente
determinada.
Feito esse breve panorama do processo de
construo das bases cientficas da razo moderna,
possvel compreender ento por que a razo argumentativa, centrada no domnio da opinio, do
provvel, do plausvel e no no campo das certezas
definitivas (Pessanha, 1989), foi sendo progressivamente desqualificada. Embora esse declnio no
tenha implicado desaparecimento, representa, no
curso da modernidade, um evidente desprestgio
da argumentao enquanto instncia capaz de intervir na busca de solues para os mais diferentes problemas humanos.
Reivindicando o estatuto de universalidade, a
razo moderna se declara, portanto, como a nica
legtima, quando na verdade constitui apenas um
tipo de razo. Em conseqncia, com a crise dos
ideais da modernidade,4 a razo moderna permite
que sejam generalizadas contra outras formas de
racionalidade as crticas dirigidas contra si. O questionamento empreendido por Nietzsche ento retomado por autores ps-modernos, como por exemplo Maffesoli.
A abordagem maffesoliana da realidade humano-social nega que exista uma verdade ou um em
si por trs das aes humanas. O mundo tosomente espetculo no qual o que acontece jus3
Segundo Konder (1992, p. 45), Marx acrescentou
esse comentrio ao posfcio da segunda edio do primeiro volume de O capital, polemizando contra os discpulos
de Comte.
4
Conforme dito anteriormente, o esgotamento dos
ideais democrticos e da crena na emancipao coletiva
seriam, no entender de Maffesoli (1995), sintomas caractersticos do colapso do projeto da modernidade. A luta pela
liberdade e pela transformao social substituda pela
busca de liberdades intersticiais que se colocam como as
conquistas possveis no espao social de atuao das mltiplas tribos.
Mai/Jun/Jul/Ago 1996 N 2
tica e educao
tia e injustia, liberdade e opresso etc. encontra sua justificativa no prprio palco das aes humanas e no em qualquer sistema normativo que,
apontando para um dever-ser, procure explicar desvios constatados.
Nessa perspectiva, os valores ticos se relativizam e o poltico se configura enquanto espao de
representao teatral onde no h credulidade ou
logro, apenas personagens cujos papis no constituem simulacros, mas o prprio viver:
difcil opor um pas real a um pas poltico,
no existem enganadores e enganados, mas uma atitude global que faz com que a lucidez no impea o
investimento, ou mais exatamente uma situao que
faz com que a paixo tenha uma grande importncia
no funcionamento da razo, perturbando-lhe os efeitos (Maffesoli, 1986, p. 110-111).
Ao afirmar que a imagstica popular fala da
precariedade, da finitude, do carter efmero da
realidade com muito mais pertinncia que a razo,
Maffesoli atesta a falncia do projeto filosfico da
modernidade, decretando o triunfo da aparncia
sobre a essncia, do xtase em relao sobriedade,
do dionisaco sobre o apolneo. Os esquemas macroestruturais concebidos pela razo moderna com
o intuito de analisar o tecido social, como o positivismo e o materialismo histrico, no podem dar
conta de um mundo catico no qual os mais exticos arranjos humanos se fazem e desfazem sem obedecer a princpios previamente estabelecidos:
As partculas elementares constitutivas da matria social, se nos permitem esta metfora, formam
configuraes particulares que podem ser harmoniosas ou absolutamente aberrantes, mas elas no obedecem a nenhuma outra lei, salvo aquela da sua dinmica prpria, essa dana nietzscheana que proporciona o mais belo e o pior, essa dana que probe a
explicao causal e impede a imposio planificadora
do controle social, da mesma maneira que probe o
julgamento moral num ou noutro sentido (Maffesoli,
1986, p. 117).
Revista Brasileira de Educao
Habermas (1990) assinala que, para ser total,
a crtica da razo feita por Nietzsche deve se colocar fora dos horizontes desta ltima, projetando-se
a partir da dimenso dionisaca do existir. Em conseqncia, no h outro caminho seno hipostasiar
o no-racional e o esttico enquanto o outro da
razo. Trata-se, assim, no do resgate da harmonia
entre os contrrios existente no esprito trgico esquiliano (ou sofocliano), mas do af de que Dioniso,
qual Messias, venha redimir a humanidade sufocada por sculos de racionalidade. A mesma matriz
de pensamento serve tambm de apoio ao ps-modernismo de Maffesoli.
Tendo claro que a crise da razo moderna no
representa a crise de toda a racionalidade, Habermas busca retomar o projeto da modernidade, vendo como alternativa a chamada razo comunicativa. Os pontos de contato e as diferenas em relao razo argumentativa sero apreciadas no prximo tpico, em que se buscar situar a educao
em relao problemtica at aqui discutida.
No contexto de crise, qual
o papel da educao?
De acordo com Kramer (1993), a educao
pode ser tomada enquanto prtica social qual se
vincula determinada viso de mundo, transformadora da realidade ou no. Considerando a dimenso transformadora, a educao persegue, entre outros fins, promover o autoconhecimento do educando enquanto ser pensante e construtor de sua existncia subjetiva e histrico-social. Trata-se, ento,
de levar quem se educa a se posicionar criticamente em relao natureza, sociedade, ao mundo e
ao tempo em que vive.
Nos marcos de uma viso confirmadora do
existente, os processos educativos desenvolvidos
na famlia e nos primeiros nveis escolares levam
primeiro a criana a conhecer o que ela no deve
fazer. Segue valendo, como princpio geral, a norma tica do senso comum: seu direito termina quando comea o do outro. Caminhando um pouco
pelas sendas abertas por Badiou (1995), que no-
39
Renato Jos de Oliveira
ditos podem emergir desse dito popular? O outro,
esse desconhecido annimo, algum que potencialmente me ameaa. Respeito-o, porque no quero ser desrespeitado, no invado seu espao porque no quero ter meu espao invadido, enfim, o
que norteia minhas aes uma srie de nos. A
partir da, o outro ser to mais reconhecido, quanto mais se aproximar de minha imagem refletida
no espelho. a mim mesmo que desejo respeitar,
no a um outro diferente de mim (Badiou, 1995,
p. 36).
Nesse ponto, um desafio se coloca para a educao: h como superar essa tica do no-mal, construindo as bases de uma nova tica?
Na medida em que o bem no , como foi
dito, um universal abstrato nem tampouco pode ser
relativizado a extremos que atentem contra a prpria existncia humana, a questo central colocada para a nova tica como validar ou no um dado
conjunto de aes humanas. A razo comunicativa defendida por Habermas pretende atacar esse
problema, vislumbrando o consenso entre indivduos, construdo em um contexto de dilogo, enquanto alternativa vivel. Segundo Rouanet (1992),
a interlocuo se d visando estabelecer critrios de
validade quanto a trs proposies bsicas: as referentes ao mundo dos objetos (proposies objetivas), as referentes ao mundo social das normas
(proposies normativas) e as referentes ao mundo
das vivncias e emoes (proposies subjetivas). A
diferena bsica com relao razo moderna
que, no agir comunicativo, no existe validao a
priori do que quer que seja: as verdades so construdas pela interao mtua dos indivduos, cujo
debate desembocar em solues consensuais para
as diferentes questes em jogo.
Endossando a proposta habermasiana que
no seu entender tem o mrito incontestvel de oferecer uma sada para a crise da razo moderna sem
descambar para o irracionalismo , Rouanet (1992,
p. 347) resume bem seu esprito quando afirma:
Mas, na dvida, prefervel apostar em Habermas no sentido de Pascal: se ganharmos, ganharemos
40
tudo; se perdermos, no perderemos nada, porque no
podemos ficar mais pobres do que j estamos.
Tendo em vista a complexidade das relaes
humanas, possvel apostar no consenso como a via
que resolve todos os problemas? Ou h domnios,
como a poltica, impensveis sem o dissenso (Rancire, 1995)?
Na medida em que as aes polticas se desenvolvem na disputa pela vitria deste ou daquele projeto ancorado em determinados sistemas de valores, h, sem dvida, um auditrio que deve ser convencido, persuadido da justeza desse ou daquele
argumento. Conforme frisa Perelman:
Toda argumentao, qualquer que seja, propese influenciar um auditrio no sentido amplo dessa palavra, que engloba no apenas auditores mas tambm leitores e esse auditrio no uma tbua rasa,
antes j admite certos fatos, certas pressuposies,
certos valores e certas tcnicas argumentativas (apud
Pessanha, 1989, p. 235).
Para a razo argumentativa, o importante
obter o aval do auditrio e no alcanar o consenso, o qual se configura em elemento circunstancial,
transitrio, precrio, efmero. Os fruns de deciso
que, entre outras questes, devem resolver o problema da demarcao de fronteiras entre um bem
e um mal, no so, portanto, outros seno os
diversos auditrios cuja persuaso necessria.
cabvel objetar que, ante as desigualdades
sociais existentes no mundo de hoje, os diferentes
sujeitos do dilogo no disputam os auditrios em
p de igualdade, impondo por outros mecanismos
seus pontos de vista. Isso mostra, porm, que no
s a argumentao mas o prprio solo argumentativo precisa ser construdo. Se um dos interlocutores possui meios para publicizar seu discurso
e o outro, no, j no h mais disputa: tudo passa
a ser simulacro, aparncia, iluso.
Educar para uma nova tica significa, pois, ter
conscincia dessas limitaes, no perdendo de vista
o fato de que o discurso tico, tal como ocorre com
o discurso filosfico, construdo em estado de per-
Mai/Jun/Jul/Ago 1996 N 2
tica e educao
manente tenso entre a contingncia histrica e o
desejo de universalidade (Pessanha, 1989), tenso
esta que caracteriza o prprio existir do homem.
RENATO JOS OLIVEIRA professor-assistente do
Departamento de Fundamentos da Educao da Faculdade de Educao da Universidade Federal de Juiz de Fora e
doutorando em Educao da PUC/RJ. Seus trabalhos mais
recentes so: As revistas de divulgao cientfica e a transmisso do conhecimento: uma abordagem sobre o ensino
informal de cincias (Contexto & Educao, v. 8, n 32);
Cincia e divulgao: metas e mitos (Cadernos de Pesquisa, n 83) e Anlise epistemolgica da viso da cincia dos
professores de qumica e fsica do municpio do Rio (Revista
Brasileira de Estudos Pedaggicos, v. 72, n 172).
Referncias bibliogrficas
ARISTTELES, (1991). A poltica. So Paulo: Martins Fontes. Traduo de Roberto Leal Ferreira.
__________, (1992). 2 ed. tica a Nicmacos. Braslia:
Edunb. Traduo de Mrio da Gama Cury.
BACON, Francis, (1973). Novum Organum. Col. Os Pensadores. So Paulo: Abril Cultural.
BADIOU, Alain, (1995). tica: um ensaio sobre a conscincia do mal. Rio de Janeiro: Relume-Dumar. Traduo
de Antnio Trnsito e Ari Roitman.
BAUDRILLARD, Jean, (1995). O assassinato do mundo
real. Entrevista. O Globo, 15 abr.
KRAMER, Sonia, (1993). Por entre as pedras: arma e sonho na escola. So Paulo: tica.
LALANDE, Andr, (1993). Vocabulrio tcnico e crtico da
filosofia. So Paulo: Martins Fontes. Traduo de Ftima S Correia, Maria Emlia V. Aguiar, Jos Eduardo
Torres e Maria Gorete de Souza.
MAFFESOLI, Michel, (1986). A conquista do presente. Rio
de Janeiro: Rocco.
__________, (1994). A crise da modernidade. In: WEYRAUCH, C.S., VINCENZI, L.B. (orgs.). Moderno e psmoderno. Rio de Janeiro: UERJ.
__________, (1995). Entrevista. O Globo, 15 abr.
MARRACH, Sonia., (1993). O caso Collor ou a poltica na
era dos meios de comunicao de massa. Educao e Sociedade, v.XIV, n 44, p. 135-52.
NIETZSCHE, Friedrich, (1993). O nascimento da tragdia
ou helenismo e pessimismo. So Paulo: Cia. das Letras.
Traduo de J. Guinsburg.
PERELMAN, Chaim, (1988). Lempire rhtorique. Paris:
Vrin.
PESSANHA, J.A.M, (1989). A teoria da argumentao ou
a nova retrica. In: CARVALHO, M.C.M. (org.). Paradigmas filosficos da atualidade. Campinas: Papirus.
RANCIRE, Jacques, (1995). Os riscos da razo. Entrevista.
Folha de So Paulo, Caderno Mais, 10 set.
ROUANET, Srgio Paulo, (1992). Razo negativa e razo
comunicativa. In: ROUANET, S.P. (org.) As razes do
iluminismo. So Paulo: Companhia das Letras.
VANCOURT, Raymond, (1987). Kant. Lisboa: Edies 70.
COMTE, Auguste, (1978). Discurso sobre o esprito positivo. Col. Os Pensadores. So Paulo: Abril Cultural.
COUTINHO, Carlos Nelson, (1994).Cidadania e modernidade. Palestra proferida na Embratel, Rio de Janeiro,
20 mai. Mimeo.
DESCARTES, Ren, (1989). Discours de la mthode. Paris: Vrin.
HABERMAS, Jrgen, (1990). O Discurso filosfico da modernidade. Lisboa: Dom Quixote.
HUME, David, (1939). Investigacin sobre el entendimiento
humano. Buenos Aires: Espasa.
KONDER, Leandro, (1992). O futuro da filosofia da prxis:
o pensamento de Marx no sculo XXI. Rio de Janeiro:
Paz e Terra.
Revista Brasileira de Educao
41
Você também pode gostar
- Ética: Gisele VaraniDocumento17 páginasÉtica: Gisele VaraniAmanda SouzaAinda não há avaliações
- Letramento em Libras Vol 2 PDFDocumento322 páginasLetramento em Libras Vol 2 PDFjanainagomesrecicla100% (3)
- Ética Na ContemporaneidadeDocumento11 páginasÉtica Na ContemporaneidadeJúlia MaiaAinda não há avaliações
- Escola Clássica Da AdministraçãoDocumento7 páginasEscola Clássica Da AdministraçãoJuarez JuniorAinda não há avaliações
- TCC FinalDocumento97 páginasTCC FinalTHAYSE ALVES100% (1)
- O Lugar Da Ética Na Reflexão FilosóficaDocumento6 páginasO Lugar Da Ética Na Reflexão FilosóficaLuis GustavoAinda não há avaliações
- Tendências Da Ética Profissional Na ModernidadeDocumento7 páginasTendências Da Ética Profissional Na ModernidadeLyu AngelAinda não há avaliações
- Ética Na Escola PDFDocumento20 páginasÉtica Na Escola PDFpradofariaAinda não há avaliações
- ETICA - Aula 3Documento8 páginasETICA - Aula 3ManutAinda não há avaliações
- 13 02 Anexo NL FilosofiaDocumento5 páginas13 02 Anexo NL FilosofiaCatarina Branco R. CarvalhoAinda não há avaliações
- Aulas Filosofia e Etica Profissional 2Documento39 páginasAulas Filosofia e Etica Profissional 2JoãoBaptistaNetoAinda não há avaliações
- Apostila Etica e Responsabilidade SocialDocumento36 páginasApostila Etica e Responsabilidade SocialAK ConsultoriaAinda não há avaliações
- Moral Etica VirtudeDocumento7 páginasMoral Etica VirtudeRicardo BuchaulAinda não há avaliações
- Etica SocialDocumento10 páginasEtica SocialEusebio Bernardo Fortunato100% (2)
- Ética MínimaDocumento16 páginasÉtica MínimaSergio MolinaAinda não há avaliações
- Sete Matizes Da ÉticaDocumento13 páginasSete Matizes Da ÉticaDaphne Arvellos DiasAinda não há avaliações
- Capítulo Do LivroDocumento12 páginasCapítulo Do LivroFrancis ThurmannAinda não há avaliações
- Ética - Leila MachadoDocumento18 páginasÉtica - Leila MachadoTuane DevitAinda não há avaliações
- Execicios Ética 1 - 20Documento10 páginasExecicios Ética 1 - 20Alan MarcosAinda não há avaliações
- Os Sete Matizes Da ÉticaDocumento6 páginasOs Sete Matizes Da ÉticaThaís Amorim Da S. NascimentoAinda não há avaliações
- 1066 1639 1 PBDocumento16 páginas1066 1639 1 PBMalena RufinoAinda não há avaliações
- Moral Ou Ética - PondéDocumento4 páginasMoral Ou Ética - Pondéal_cf100% (1)
- Artigo - Ética e SociedadeDocumento6 páginasArtigo - Ética e Sociedadereitor stnbAinda não há avaliações
- O Conceito de ÉticaDocumento6 páginasO Conceito de ÉticajuniorAinda não há avaliações
- Livro-Texto - Unidade IIDocumento85 páginasLivro-Texto - Unidade IIwill25808Ainda não há avaliações
- Bases FilosoficasDocumento35 páginasBases FilosoficasGeorgea AlexandraAinda não há avaliações
- Princípios e Ética Maçônica - Ir PucciDocumento6 páginasPrincípios e Ética Maçônica - Ir PucciWagner Cruz da Cruz100% (1)
- 3 Ano - Apontamentos de Todas As CadeirasDocumento187 páginas3 Ano - Apontamentos de Todas As CadeirasricardoAinda não há avaliações
- Ética e Moral - Com - QuestõesDocumento19 páginasÉtica e Moral - Com - QuestõesAna Paula PortoAinda não há avaliações
- 364-Texto Do Artigo-639-1-10-20190604Documento11 páginas364-Texto Do Artigo-639-1-10-20190604Escola Arlivande RochoAinda não há avaliações
- A CRISE +ëTICO MORAL EM NOSSA SOCIEDADEDocumento10 páginasA CRISE +ëTICO MORAL EM NOSSA SOCIEDADELeandro FidelisAinda não há avaliações
- Etica SocialDocumento12 páginasEtica SocialLaice Fernando LaiceAinda não há avaliações
- A Evolução Conceitual Da ÉticaDocumento4 páginasA Evolução Conceitual Da ÉticaMônica CamposAinda não há avaliações
- STI UA03 r1Documento7 páginasSTI UA03 r1Gabrielly ApostoloAinda não há avaliações
- Monografia Sobre ÉticaDocumento11 páginasMonografia Sobre ÉticaDanilo CostaAinda não há avaliações
- Vol II 12 Etica Servico PublicoDocumento56 páginasVol II 12 Etica Servico PublicoplatmaiaAinda não há avaliações
- Os Problemas Da ÉticaDocumento5 páginasOs Problemas Da ÉticaTiago ZorteaAinda não há avaliações
- Conflito ÉticoDocumento4 páginasConflito Éticodomingos beula fortunatoAinda não há avaliações
- Ética Na PesquisaDocumento22 páginasÉtica Na PesquisaLIVISTON RUBERTH100% (1)
- O Que É Ética - Álvaro L. M. VallsDocumento41 páginasO Que É Ética - Álvaro L. M. VallsSILENOAinda não há avaliações
- Trabalho Final Ética, Ideologia e EducaçãoDocumento8 páginasTrabalho Final Ética, Ideologia e EducaçãoFilloíMendonçaMieraGonzalesAinda não há avaliações
- La Fórmula Del Pluralismo (Sem 11)Documento6 páginasLa Fórmula Del Pluralismo (Sem 11)Camila DíazAinda não há avaliações
- Ética e Educação Na HipermodernidadeDocumento15 páginasÉtica e Educação Na HipermodernidadeLucas Santos CostaAinda não há avaliações
- Etica Geral e ProfissionalDocumento37 páginasEtica Geral e ProfissionalHernani GarciaAinda não há avaliações
- CORPO E CULTURA Cartografias Da ContemporaneidadeDocumento16 páginasCORPO E CULTURA Cartografias Da ContemporaneidadeFernanda Oliveira100% (2)
- Ética PlatonicaDocumento3 páginasÉtica PlatonicaWirlan Pajeú100% (1)
- Texto - Base - TIL - II - 2008 Tradução e Interpretação PDFDocumento41 páginasTexto - Base - TIL - II - 2008 Tradução e Interpretação PDFPedro MagalhaesAinda não há avaliações
- Ponderações Introdutórias Sobre A Importância Da Ética Nas Relações de Vida em Sociedade Sob A Óptica Da Filosofia Do DireitoDocumento8 páginasPonderações Introdutórias Sobre A Importância Da Ética Nas Relações de Vida em Sociedade Sob A Óptica Da Filosofia Do DireitoJoaquim Saldeira ManuelAinda não há avaliações
- Adela Cortina Etica MinimaDocumento10 páginasAdela Cortina Etica MinimaiurimiguelAinda não há avaliações
- As Tres Peneiras de SocratesDocumento5 páginasAs Tres Peneiras de Socrateslorena.v.t.f.soaresAinda não há avaliações
- Distinguindo A Moral Da Etica - Gilberto KronbauerDocumento2 páginasDistinguindo A Moral Da Etica - Gilberto KronbauerVinicius DanielAinda não há avaliações
- Texto Base - Seminário 3 M3 - Ética, Democracia e CidadaniaDocumento3 páginasTexto Base - Seminário 3 M3 - Ética, Democracia e CidadaniaDéborah KainneAinda não há avaliações
- Apostila BioéticaDocumento39 páginasApostila BioéticaLailton Vicente SoaresAinda não há avaliações
- Monogra PDFDocumento115 páginasMonogra PDFItaceni de Araujo SousaAinda não há avaliações
- Escola de Governo - Curso de Ética No Serviço PúblicoDocumento29 páginasEscola de Governo - Curso de Ética No Serviço PúblicoPaula lAinda não há avaliações
- Documento Trab. NubiaDocumento6 páginasDocumento Trab. NubiaKim SaxAinda não há avaliações
- Introdução FlavioDocumento11 páginasIntrodução FlavioEstalone AntonioAinda não há avaliações
- Fundamentos Metodológicos Das Ciências SociaisDocumento205 páginasFundamentos Metodológicos Das Ciências SociaisJulio RibeiroAinda não há avaliações
- Act 1 - Mentefacto ÉticaDocumento4 páginasAct 1 - Mentefacto ÉticaFabian Beleño ArangoAinda não há avaliações
- Ética AldaDocumento9 páginasÉtica AldaDinis Santos SilepoAinda não há avaliações
- Ética, educação e memória: diálogos filosóficosNo EverandÉtica, educação e memória: diálogos filosóficosAinda não há avaliações
- HIstória Do Teatro AULASDocumento44 páginasHIstória Do Teatro AULASJanaína AlvesAinda não há avaliações
- Resumo Homem e SociedadeDocumento2 páginasResumo Homem e Sociedadeescuta ativaAinda não há avaliações
- Trilhas Do Refúgio Biológico Bela Vista Da Itaipu Binacional-Me, Como Instrumento de Educação AmbientalDocumento13 páginasTrilhas Do Refúgio Biológico Bela Vista Da Itaipu Binacional-Me, Como Instrumento de Educação AmbientalFlavio Zen100% (3)
- A Ambigüedade Da Docência, Entre o Profissionalismo e A ProletarizaçaoDocumento12 páginasA Ambigüedade Da Docência, Entre o Profissionalismo e A ProletarizaçaoMariano Fernández Enguita50% (2)
- Interpretacao de TextoDocumento19 páginasInterpretacao de TextoWelliton Bispo100% (1)
- Fichamento IntertextualidadeDocumento2 páginasFichamento IntertextualidadeLego DickAinda não há avaliações
- Manual Do Estudante Hab. de Vida e HIV & SIDA PDFDocumento119 páginasManual Do Estudante Hab. de Vida e HIV & SIDA PDFPaizan Pinhar100% (2)
- Dança CircularDocumento6 páginasDança CircularMayra PereiraAinda não há avaliações
- O Desporto em AnaliseDocumento129 páginasO Desporto em AnaliseMarcos FreitasAinda não há avaliações
- Renascimento e Humanismo - HistóriaDocumento4 páginasRenascimento e Humanismo - HistóriaNelson FernandoAinda não há avaliações
- PB Parecer Consubstanciado Cep 1732251Documento6 páginasPB Parecer Consubstanciado Cep 1732251Jaciany SerafimAinda não há avaliações
- Como Realfabetizar Um AdultoDocumento4 páginasComo Realfabetizar Um AdultoLuanna OliveiraAinda não há avaliações
- Tabela Barca Do InfernoDocumento1 páginaTabela Barca Do InfernoMartaAinda não há avaliações
- Modelo de Plano de Aula Aula 3Documento6 páginasModelo de Plano de Aula Aula 3Samara SilvaAinda não há avaliações
- Sociologia Geral-ConteudoDocumento3 páginasSociologia Geral-ConteudoninabonviciniAinda não há avaliações
- Saturnália e o NatalDocumento2 páginasSaturnália e o Natalrcunha35100% (1)
- Acta CorrigidaDocumento5 páginasActa Corrigida966110339Ainda não há avaliações
- VignolaDocumento7 páginasVignolaViviane Carvalho100% (1)
- Apresentação: Qualificação Da Tese de Doutorado PDFDocumento22 páginasApresentação: Qualificação Da Tese de Doutorado PDFDaniel Dall'Igna EckerAinda não há avaliações
- Ementa - Curso - ILE - ARA - ODU - 2020 PDFDocumento8 páginasEmenta - Curso - ILE - ARA - ODU - 2020 PDFPri GarciaAinda não há avaliações
- Gestao de ConflitosDocumento24 páginasGestao de Conflitosmichaelpi8Ainda não há avaliações
- Anarquismo X SocialismoDocumento2 páginasAnarquismo X SocialismoJosé Pereira FilhoAinda não há avaliações
- ARRUDA - Linda Nochlin e Griselda PollockDocumento6 páginasARRUDA - Linda Nochlin e Griselda PollockBarbara KanashiroAinda não há avaliações
- Registos de L'inguaDocumento4 páginasRegistos de L'inguaElisabete RodriguesAinda não há avaliações
- CIDADES REBELDES - Resenha Parte DoisDocumento5 páginasCIDADES REBELDES - Resenha Parte DoisWinnie KnoxAinda não há avaliações
- SPAECEDocumento22 páginasSPAECELindalva AlvesAinda não há avaliações
- Entrevista Cleiton XavierDocumento3 páginasEntrevista Cleiton XavierCleitonXavierAinda não há avaliações