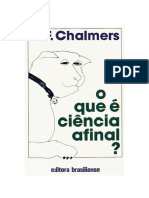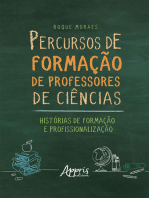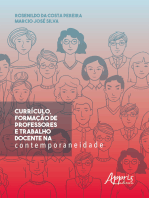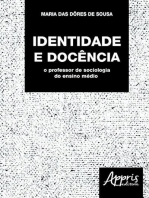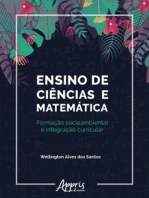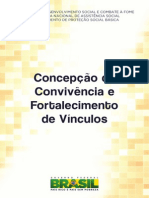Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
FOUREZ, G - A - Construção - Das - Ciências
Enviado por
professor_ronaldoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FOUREZ, G - A - Construção - Das - Ciências
Enviado por
professor_ronaldoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
46
GERARD FOUREZ
. Cada vez que uma observao no concorda com uma teoria
e sempre. possvel, mais do que modificar a teori a, modificar a;
Egras de mterpretao da observao e descrever diferentemente o
que vemos. Voltaremos depois a utilizaco daquilo que d . .
"I . . ( enOlTIlna-
mos as 11pteses ad hoc".
o que uma definio cientfica?
Na cincia no se parte de defini es. Para definir, utilizamos
sempre !Im esquema terico admitido. Uma defi ni o, em geral,
a releltura d: um certo numero de elementos do mundo ),or meio de
uma teona; e portanto lima interpretao. Assim a deA . d
'1 I b' . ' nl dO e
lima ce u a em IOl0gla no um ponto de partida, mas resultado
de lIm processo mtcrpretativo terico. Do mesmo modo ._ .
comecou d fi ' di' nao se
. . e 111m o um c tron para ento ver como encontr-lo
na :eahdade: : teoria de um eltron desenvolveu-se pouco a pouco
apos o que pode-se definir o que se entende pelo termo. De igua
modo, consideremos o conceito de centro de gravidade ou de uma
alavanca. O que para um dis . b' d
. ' curso, e o o Jeto e uma definico
sera para um outro o objeto de uma Proposico terica
1925,. p.49 ss., mostrou em lima anli se hi ; trica
no podiam se compreender fora do mbito de uma
c1aboraao terica).
" As definies e os processos tericos tm por efeito dar-nos
Ob)elOS ClCntl[lcos padronizados" (Factor & Kooser d) A '
. . I S. .. SSlm
Jamais se encontra "a" mac mas tal ou tal - . I '
d
.
r
. I maa partl cu ar
lI erentc de lima outra. O conceito o" di" '.
d . . I mo c o e a teona - Isto
a praticamente no meSlllO - da IImaa-" .
b' . . permitem pensar um
o tconco que, em nosso raciocnio, substituir o concreto da
maa. POde-s:, considerar da mesma maneira "objetos cientificas
padromzados mais compl exos como uma "d' b "
li ' la etc I ou Ulll
processo de oxidao", lima "Clul a" etc.
A CONSTRUO DAS CltNCIAS 47
Sobre os objetos semelhantes ou diferentes:
o problema da semelhana, o mesmo e o outro
A observao levanta tambm o problema da diferena e da
equivalncia, do II mesmo" e do "outro", como dizi a Plato. Dizer,
por exemplo, que observo duas mas (ou uma ma semel hante
ils outras) suponho que estabeleci uma relao de equivalncia
entre dois" objetos" diferentes. O mesmo ocorre se falo de duas
diabetes, de duas crises econmicas, de dois lpis , de dois pases
subdesenvolvidos, de dois corpos condutores etc. Ass im, observar
estabelecer, em nome de uma percel)do e de critrios tericos ,
relaes de equivalncia entre o que eu poderia tambm considerar
como diferente. A "semelhana" no recebida de modo passivo na
observao, mas decidida em uma viso terica. por mei o de
lima deciso (nem sempre consciente ou expifcita), por exempl o ,
que utilizarei a noo de "flor" para falar de um certo nmero de
objetos. O mesmo ocorre com a noo de (( cincia": ser por meio I
de uma deciso que agruparei ou no as atividades bem diferentes
dos antigos egpci os, de Galileu e de seus contemporneos, dos
fs icos modernos, dos psicanalistas, dos bioquimicos etc. A seme-
lhana no jamais dada, ela imposta a nossa estruturao teri ca
porque a julgamos prtica.
Objetividade absoluta ou objetividade
socialmente instituda?
Mas ento, o que ocorre com os objetos que observamos?
Ainda telnos a impresso de ver as coisas objetivas, tais como so.
O problema dessa maneira de ver que ela parte deluma definio
esponeinea da objetividade que seria "absoluta", isto , sem
nenhuma relao com outra coisa qualquer. Ora, parece evidente
que no podemos falar de um objeto seno por mei o de uma
linguagem - realidade cultural - que pode ser utilizada para
48 GRARD FOUREZ
explic-lo a outros. No posso falar da lmpada que est sobre a
mesa a no ser sob a condio de ter dado a mim mesmo elementos
de linguagem suficientes) comuns e convencionais, a fim de ser com
preendido.
Falar de objetos sempre sinmr-se em um universo convencio-
nal de linguagem. por isso que se diz com freqncia que
objetos so objetos devido a seu cardter institucional, o que significa
que em virtude das convenes culturais da linguagem que eles
so objetos.! Um objeto s um objeto sob condio de ser
determinado objeto descritvel, comunicvel em uma linguagem.
Dito de outro modo, falar de" objetos" decidir sobre uma relao
de equivalncia entre "aquilo de que se fala".
Dizer que "alguma coisa" objetiva portanto dizer que
"alguma coisa" da qual se pode falar com sentido; situ-la em um
universo comum de percep<1.o e de cOInunicao, em um universo
convencional, instituido por uma cultura. Se, pelo contrrio, eu
quisesse fdlar de um "objeto" que no entraria em nenhuma
linguagem, a n1inha viso seria puramente subjetiva, no comuni-
dvel; no limite: louca. O mundo se toma objetos nas comunicaes
wlturais. A objetividade, compreendida desse modo, pelo menos,
no absoluta, mas sempre relativa a uma cultura.
Do mesmo modo que antes cu havia assinalado que existe uma
linguagem anterior a toda descrio, preciso acrescentar agora
que existe tambm, anterior a todo objeto, uma estrutura organi-
zada do mundo na qual se inserem os objetos. o que socilogos
como Peter Berger & Thomas Luckmann (1978) chamaram de "a
construo social da realidade" , Por isto, entendem essa organizao
do universo ligada a uma determinada cultura, seja a de uma tribo
de pescadores na Amaznia, seja a nossa cultura industrial, e que
situa a viso de tal modo que cada uma das coisas pode encontrar
o seu lugar (ou antes), que determina o que sero os objetos.
Cornclius Castoriadis introduziu um conceito filosfico semelhan-
2 A esse respeito, cf. Derger & Luckma.nn, 1967 e Castoriadis, 1978. Cf. tamhem
Husscrl (indito), cimdo por 1945.
A CONSTRUO DAS CltNCIAS
49
te falando da instituio imagindria do mundo (1978). Assim, o
"mundo" em funo de uma sociedade (cf. Fourez,
1974, p.19-42).
Os objetos no so dados "em si", independentemente de todo
contexto cultural. Contudo, no so construes subjetivas no
sentido corrente da palavra, isto , "individuais":
graas a uma maneira comum de v-los e descrevlos que os objetos
so objetos. Se, por exemplo, pretendo fazer da flor outra coi:a do
que aqui lo que est previsto em minha cultuI<\, conclulr-seaque
estou louco. No posso descrever o mundo apenas com a mmha
subjetividade; preciso inserirme em algo mais vasto,..u
ma
institui
o social, ou seja, uma viso organizada admitida comunItanamen:
te. Se, por exemplo, pretendo que um pequeno elefante rosa esta
a ponto de danar sobre a minha mesa, provvel que me
considerem como mentalmente perturbado ... a menos que eu
consiga relacionar a minha "viso" com um discurso socialmente
admitido!
Para ser 11 objetivo" preciso que eu me insira nessa rede social;
c isto que me permitir comunicar as minhas vises a sem
isto, se dir simplesmente que estou sendo subjetivo. E por isto
que Bachelard observava que" a objetividade no pode se separar das
caractersticas sociais da prova" (1971, p. 16; ver tambm Latour &
W
oolgar 1979 que descrevem maravilhosamente todos os mean
, I "f "
dros, por vezes surpreendentes, do estabelecimento de um ato
cientfico).
Em outros termos, o lugar da objetividad':... no nem uma
realidade-em-si absoluta, nem a subjetividade individual, mas a
sociedade e suas convenes organizadas e institudas (cf. Bloor,
1976, 1982). Relacionando desse modo o conceito de objetiVidade
ao de interaes sociais organizadas, no se trata de negar a
importncia da objetividade (dizer que alguma coisa no absoluta
no significa de modo nenhum negar a sua por
exemplo, dizer que poderamos tef encontrado outros melaS de
transporte seno aqueles que chamamos de carros afirmar a
relatividade dessa tecnologia, mas no negar a sua importncia ou
Você também pode gostar
- Formação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaNo EverandFormação de Professores para Educação Profissional e Tecnológica:: Políticas, Cadeias Produtivas e PolitecniaAinda não há avaliações
- Andery - para Compreender A CiênciaDocumento437 páginasAndery - para Compreender A Ciênciasaraurrea071894% (32)
- A dialética da produção e reproduçãoDocumento189 páginasA dialética da produção e reproduçãofernandes50% (2)
- Gustavo Bertoche - A Objetividade Da Ciência Na Filosofia de BachelardDocumento99 páginasGustavo Bertoche - A Objetividade Da Ciência Na Filosofia de Bachelardaline_128Ainda não há avaliações
- Livro. A SOCIEDADE INFORMÁTICA. Adam Schaff PDFDocumento82 páginasLivro. A SOCIEDADE INFORMÁTICA. Adam Schaff PDFBárbara Mota100% (2)
- A Pesquisa Na Vida e Na UniversidadeDocumento193 páginasA Pesquisa Na Vida e Na UniversidadeEder Janeo Da Silva100% (2)
- Teoria Crítica e Cultura na ModernidadeDocumento4 páginasTeoria Crítica e Cultura na ModernidadeAndré SoaresAinda não há avaliações
- A Livro Rom HarréDocumento394 páginasA Livro Rom HarréNahamboAinda não há avaliações
- CASTORIADIS - Figuras Do Pensável0001Documento41 páginasCASTORIADIS - Figuras Do Pensável0001Luciana Pedrogam100% (2)
- Reflexões Sobre Praticas de Lahire e BourdieuDocumento34 páginasReflexões Sobre Praticas de Lahire e BourdieuIsabelle OliveiraAinda não há avaliações
- PINTO Milton Comunicacao e Discurso Introducao Analise DiscursoDocumento64 páginasPINTO Milton Comunicacao e Discurso Introducao Analise DiscursoClaudia GomesAinda não há avaliações
- Barbara Freitag Conteudo Programatico Da Teoria Critica in Teoria Critica Ontem e Hoje PDFDocumento79 páginasBarbara Freitag Conteudo Programatico Da Teoria Critica in Teoria Critica Ontem e Hoje PDFLaryssa80% (5)
- A reificação segundo HonnethDocumento12 páginasA reificação segundo HonnethTiê FélixAinda não há avaliações
- A Função Do Dogma Na Investigação Científica, de Thomas KuhnDocumento70 páginasA Função Do Dogma Na Investigação Científica, de Thomas KuhnEduardoBarra100% (2)
- Teoria e Educacao Dossie Interpretando oDocumento119 páginasTeoria e Educacao Dossie Interpretando oFlávia Martins100% (1)
- Wright Mills - 1959 - Do Artesanato IntelectualDocumento18 páginasWright Mills - 1959 - Do Artesanato IntelectualValcilon Silva100% (2)
- Livro - Epistemologia e Educacao PDFDocumento284 páginasLivro - Epistemologia e Educacao PDFValéria Oliveira100% (5)
- Aprendizagem Significativa segundo AusubelDocumento60 páginasAprendizagem Significativa segundo Ausubelalbertoprass100% (8)
- Trabalho e EducaçãoDocumento188 páginasTrabalho e EducaçãoJaqueline BonfimAinda não há avaliações
- Introdução À Epistemologia Da CiênciaDocumento172 páginasIntrodução À Epistemologia Da Ciênciadivino_mestre100% (4)
- Popper Karl A Logica Da Pesquisa CientificaDocumento282 páginasPopper Karl A Logica Da Pesquisa CientificaBianco Zamora Garcia100% (4)
- Bourdieu e GuiddensDocumento345 páginasBourdieu e GuiddensShuzana SilvaAinda não há avaliações
- Dicionário Trabalho (Cattani)Documento251 páginasDicionário Trabalho (Cattani)Clarice Morais100% (1)
- O Que e Ciencia AfinalDocumento210 páginasO Que e Ciencia Afinalle_leandrone100% (1)
- A relação complexa dos alunos com a escola e o saberDocumento18 páginasA relação complexa dos alunos com a escola e o saberCarla SassetAinda não há avaliações
- MICHEL FOUCAULT - Tecnologias de Si PDFDocumento40 páginasMICHEL FOUCAULT - Tecnologias de Si PDFPedro Caetano EboliAinda não há avaliações
- A Etnopesquisa Critica e Multir - Roberto Sidnei MacedoDocumento389 páginasA Etnopesquisa Critica e Multir - Roberto Sidnei MacedoSandro Ribeiro100% (2)
- ADORNO, Theodor. Introdução À SociologiaDocumento182 páginasADORNO, Theodor. Introdução À SociologiaLinda Mara Fraga100% (2)
- FOUCAULT, Michel. O Governo de Si e Dos OutrosDocumento380 páginasFOUCAULT, Michel. O Governo de Si e Dos OutrosFátima Santos100% (1)
- VIDAL, Diana - Culturas EscolaresDocumento74 páginasVIDAL, Diana - Culturas EscolaresRodrigo Rosselini100% (2)
- A Teoria Do Conhecimento - Uma I - Paul MoserDocumento241 páginasA Teoria Do Conhecimento - Uma I - Paul MoserAyton100% (1)
- JOAS, Hans. Interacionismo SimbolicoDocumento25 páginasJOAS, Hans. Interacionismo SimbolicoCesar de LuccaAinda não há avaliações
- Marxismo e Teoria CriticaDocumento293 páginasMarxismo e Teoria CriticaJoaoricardoatm100% (2)
- Jorge Larrosa - A Construção Pedagógica Do Domínio Moral e Do Sujeito MoralDocumento49 páginasJorge Larrosa - A Construção Pedagógica Do Domínio Moral e Do Sujeito MoralTomaz Tadeu da SilvaAinda não há avaliações
- Desafios e perspectivas das ciências humanas na atuação e na formação docenteNo EverandDesafios e perspectivas das ciências humanas na atuação e na formação docenteAinda não há avaliações
- Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo: Sentidos e formas de usoNo EverandPesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo: Sentidos e formas de usoAinda não há avaliações
- (Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesNo Everand(Re)significações do ensino médio e protagonismo juvenil: tessituras curricularesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Percursos de Formação de Professores de Ciências: Histórias de Formação e ProfissionalizaçãoNo EverandPercursos de Formação de Professores de Ciências: Histórias de Formação e ProfissionalizaçãoAinda não há avaliações
- Pesquisa, Educação e Formação Humana: nos trilhos da HistóriaNo EverandPesquisa, Educação e Formação Humana: nos trilhos da HistóriaAinda não há avaliações
- Tempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalNo EverandTempo e Docência: Dilemas, Valores e Usos na Realidade EducacionalAinda não há avaliações
- Currículo, Formação de Professores e Trabalho Docente na ContemporaneidadeNo EverandCurrículo, Formação de Professores e Trabalho Docente na ContemporaneidadeAinda não há avaliações
- Modelos de gestão e Educação: gerencialismo e subjetividadeNo EverandModelos de gestão e Educação: gerencialismo e subjetividadeAinda não há avaliações
- Pesquisa em Educação: inquietações e desafiosNo EverandPesquisa em Educação: inquietações e desafiosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Trabalho do Pesquisador: Os Desafios da Empiria em Estudos de RecepçãoNo EverandTrabalho do Pesquisador: Os Desafios da Empiria em Estudos de RecepçãoAinda não há avaliações
- Sociologia da Educação no Brasil: do Debate Clássico ao ContemporâneoNo EverandSociologia da Educação no Brasil: do Debate Clássico ao ContemporâneoAinda não há avaliações
- Construindo o saber: Metodologia científica - Fundamentos e técnicasNo EverandConstruindo o saber: Metodologia científica - Fundamentos e técnicasAinda não há avaliações
- Identidade e docência: o professor de sociologia do ensino médioNo EverandIdentidade e docência: o professor de sociologia do ensino médioAinda não há avaliações
- Docência, Políticas Educacionais e Tecnologias:: Desafios à Formação Continuada do Professor do Ensino MédioNo EverandDocência, Políticas Educacionais e Tecnologias:: Desafios à Formação Continuada do Professor do Ensino MédioAinda não há avaliações
- Ensino de Ciências e Matemática: Formação Socioambiental e Integração CurricularNo EverandEnsino de Ciências e Matemática: Formação Socioambiental e Integração CurricularAinda não há avaliações
- O estágio curricular e a docência compartilhada: na perspectiva do realismo críticoNo EverandO estágio curricular e a docência compartilhada: na perspectiva do realismo críticoAinda não há avaliações
- Os Pré-SocráticosDocumento353 páginasOs Pré-SocráticosDouglas Oliveira Soares100% (2)
- A Sociologia Brasileira CandidoDocumento31 páginasA Sociologia Brasileira CandidoEmilio GaunaAinda não há avaliações
- Os Pré-SocráticosDocumento353 páginasOs Pré-SocráticosDouglas Oliveira Soares100% (2)
- Interacionismo SimbólicoDocumento16 páginasInteracionismo SimbólicoHelenaZilda100% (1)
- A Leitura Existencial DaDocumento10 páginasA Leitura Existencial Daprofessor_ronaldoAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento11 páginasArtigoprofessor_ronaldoAinda não há avaliações
- Art06 37eDocumento11 páginasArt06 37enenemticoAinda não há avaliações
- Artigo Educ N FormalDocumento1 páginaArtigo Educ N Formalprofessor_ronaldoAinda não há avaliações
- 1o Bim Ens MedDocumento13 páginas1o Bim Ens Medprofessor_ronaldoAinda não há avaliações
- Weber - Parlamento e Governo Na Alemanha Reordenada (Prefácio, 1,2,3,5)Documento192 páginasWeber - Parlamento e Governo Na Alemanha Reordenada (Prefácio, 1,2,3,5)Aline Sales100% (1)
- Apostila de Seminário Integrado 1Documento12 páginasApostila de Seminário Integrado 1Francieldo Noronha0% (1)
- Fichamento Caminhos para A Diversidadade: Antropologia - Roberto Donato Da Silva JR - FichamentoDocumento15 páginasFichamento Caminhos para A Diversidadade: Antropologia - Roberto Donato Da Silva JR - FichamentoMirian RotherAinda não há avaliações
- A crise dos sete anosDocumento8 páginasA crise dos sete anosAna BalreiraAinda não há avaliações
- Fichamento - Umberto Eco - Como Se Faz Uma TeseDocumento11 páginasFichamento - Umberto Eco - Como Se Faz Uma TeseFabiano GabrielAinda não há avaliações
- A religião tradicional africana e a modernidadeDocumento25 páginasA religião tradicional africana e a modernidadeCarlos AnchietaAinda não há avaliações
- CUNHA 2014 Feminaria Musical II - O Que (Não) Se Produz Sobre Música e Mulheres No BrasilDocumento16 páginasCUNHA 2014 Feminaria Musical II - O Que (Não) Se Produz Sobre Música e Mulheres No BrasilElizaGarciaAinda não há avaliações
- A classificação de documentos arquivísticosDocumento158 páginasA classificação de documentos arquivísticosDaniela2010r100% (1)
- O Debate Marxista Sobre A Pós-Modernidade - de Ricardo Musse - Revista Z CulturalDocumento6 páginasO Debate Marxista Sobre A Pós-Modernidade - de Ricardo Musse - Revista Z CulturalLeonardo MendelAinda não há avaliações
- Determinantes Da Escolha Alimentar PDFDocumento12 páginasDeterminantes Da Escolha Alimentar PDFVirgínia MachadoAinda não há avaliações
- Sobre Os Sistemas de Localizacao Na OrelhaDocumento10 páginasSobre Os Sistemas de Localizacao Na OrelhatibaAinda não há avaliações
- A Miséria Da Historiografia: Uma Crítica Ao Revisionismo ContemporâneoDocumento4 páginasA Miséria Da Historiografia: Uma Crítica Ao Revisionismo Contemporâneomaurocosta1985Ainda não há avaliações
- Vocabulário Pictográfico para Educação InclusivaDocumento163 páginasVocabulário Pictográfico para Educação InclusivaAuriane StremelAinda não há avaliações
- Identidade BOPEDocumento169 páginasIdentidade BOPEdanilonava100% (1)
- Concepcao, P20de, P20Convivencia, P20e, P20Fortalecimento, P20de, P20Vinculos PDF Pagespeed Ce 6O508uiSbLDocumento56 páginasConcepcao, P20de, P20Convivencia, P20e, P20Fortalecimento, P20de, P20Vinculos PDF Pagespeed Ce 6O508uiSbLthataevan14Ainda não há avaliações
- Para Uma Teoria Crítica em Educação - José Alberto CorreiaDocumento158 páginasPara Uma Teoria Crítica em Educação - José Alberto CorreiaLuísFelipeLiraAinda não há avaliações
- HABERMAS. Direito e Democracia Entre Facticidade e Validade Volume II PDFDocumento176 páginasHABERMAS. Direito e Democracia Entre Facticidade e Validade Volume II PDFCamilla AlvesAinda não há avaliações
- René GuénonDocumento544 páginasRené GuénonPaulo Condes100% (1)
- Eficiencia EscolarDocumento106 páginasEficiencia EscolarJoao Delcio SartoriAinda não há avaliações
- Aulas Direito Penal IIDocumento13 páginasAulas Direito Penal IIAna CCAinda não há avaliações
- Formação de professores e ensino de Língua PortuguesaDocumento212 páginasFormação de professores e ensino de Língua PortuguesaJany Eric Queiros FerreiraAinda não há avaliações
- O-Conceito-De-Tendência-Actualizante Na Teoria Centrada No ClienteDocumento13 páginasO-Conceito-De-Tendência-Actualizante Na Teoria Centrada No ClienteLincoln Haas HeinAinda não há avaliações
- Dicionário de termos jurídicosDocumento55 páginasDicionário de termos jurídicosGibra MendesAinda não há avaliações
- Educação física e pesquisa interdisciplinarDocumento15 páginasEducação física e pesquisa interdisciplinarjb.8Ainda não há avaliações
- Estratégias de leitura acadêmicaDocumento8 páginasEstratégias de leitura acadêmicaRomualdoSFAinda não há avaliações
- Fundamentos Históricos e Teóricos do Serviço SocialDocumento205 páginasFundamentos Históricos e Teóricos do Serviço SocialWesley Rodrigo Rossi83% (6)
- Sintese Harry DanielsDocumento5 páginasSintese Harry DanielsFrancisco Antonio Machado AraujoAinda não há avaliações
- Contribuições de Paulo Freire para o potencial emancipatório da educaçãoDocumento15 páginasContribuições de Paulo Freire para o potencial emancipatório da educaçãoAndré MarinsAinda não há avaliações
- Chaves - A Filosofia Moderna e DescartesDocumento17 páginasChaves - A Filosofia Moderna e DescartesPedro LituraterreAinda não há avaliações
- Representação do Diabo no Teatro Vicentino e Suas InfluênciasDocumento288 páginasRepresentação do Diabo no Teatro Vicentino e Suas InfluênciaswriteressAinda não há avaliações
- Clínica Do EsquecimentoDocumento100 páginasClínica Do EsquecimentoJuliane Garcia de AlencarAinda não há avaliações