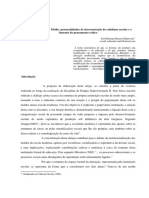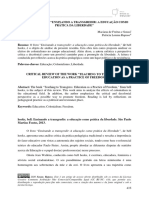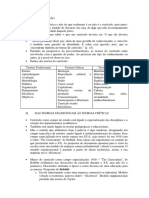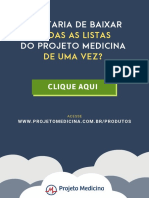Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Concepção Histórico-Crítica Da Educação: Duas Leituras
Enviado por
smithangelo20 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
92 visualizações14 páginasPedagogia
Título original
Concepção Histórico-crítica Da Educação: Duas Leituras
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoPedagogia
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
92 visualizações14 páginasConcepção Histórico-Crítica Da Educação: Duas Leituras
Enviado por
smithangelo2Pedagogia
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
Concepo histrico-crtica da
educao: duas leituras
Marlene de Souza Dozol*
Introduo
Este artigo pretende tecer algumas consideraes acerca da con-
cepo hist6rico-crtica da educao, que aparece no quadro das ten-
dncias educacionais brasileiras, no final da dcada de 70.
Omtodo de abordagempor mimescolhido, almde estabelecer com
paraes entre a concepo hist6rico-crtica da educao e outras concep-
es existentes (na inteno de compreend-la e caracteriz-la), estabelece
comparaes no interior da pr6pria concepo em questo, uma vez que
nele habitam vrios autores com suas respectivas compreenses e produ-
es. Tais compreenses e produes, embora pertenam a um mesmo
"nicho" de pensamento, representativo de determinada tendncia, podem
percorrer trajet6rias diferenciadas comprodutos que podem ser igualmente
diferenciados. Parailustrar estadinmica de produo intelectual, optei por
analisar dois autores que se enquadramno que se denominapedagogiahis-
trico-crtica, e que no entanto guardam diferenas significativas entre si.
So eles: Jos Carlos Libneo e Betty Antunes de Oliveira Mas antes de
passar s comparaes que procurei estabelecer entre ambos, faz-se ne-
cessrio alguns dados preliminares, parasituar oleitor comrelao origem
e aos pressupostos bsicos da concepo histrico-crtica da educao.
1 A concepo histrico-crtica da educao: breve
histrico
Brasil, 1979. Sob a coordenao do Professor Dermeval Saviani,
a primeira turma de doutorado da PUC-SP lana-se ao desafio de
construir uma abordagem dialtica do fenmeno educativo. Emtorno
* Professora do Departamento de Estudos Especializados em Educao
do Centro de Cincias da Educao - UFSC.
PERSPECTIVA. Florianpolis, UFSC/CED, NUP, n. 21, p. 105-118
106 Marlene de Souza Dozol
deste desafio renem-se alguns nomes como os de Jamil Cury, Neidson
Rodrigues, Lus Antnio Cunha, Guiomar Namo de Mello, Paolo
Nosella, Betty Antunes de Oliveira, Mirian Warde, Osmar Fvero e
outros. Este ano considerado por Saviani um marco da cont1gura-
o mais clara da concepo histrico-crtica da educao (ANDE,
1986c,p.17).
A concepo histrico-crtica surge no quadro das tendncias crti-
cas da educao brasileira, objetivando a superao das teorias crtico-
reprodutivistas.
Historicamente, as teorias crtico-reprodutivistas aparecem como
resultado de anlises referentes ao fracasso do movimento de maio de
68 na Frana. Tal fracasso, na tica dos crtico-reprodutivistas, se deu
em funo do movimento pretender alterar as bases materiais e sociais
capitalistas, utilizando como estratgiaummovimento cultural.
Fruto de tais anlises esto a teoria dos aparelhos ideolgicos de
Estado (Althusser, 1969), a teoria da reproduo oua teoria da violncia
simblica (Bordieu-Passeron, 1970) e a teoria da escola capitalista
(Baudelot-Establet, 1971).
Estas teorias, ao mesmo tempo em que contribuiram para a com-
preenso dos condicionantes mais amplos da educao, geraram, segun-
do a concepo histrico-crtica, um modo esttico, unilateral e
determinista de conceber o fenmeno educativo. Esttico e unilateral
por no considerar a reciprocidade entre instncias infraestruturais e
superestruturais. Determinista por no conferir s agncias da superes-
trutura (e aqui nos interessa particularmente a escola), papel algum no
processo de transformao social, uma vez que estas so
unidirecionalmente determinadas pelabase material.
Oesquema interpretativo das teorias crtico-reprodutivistas questi-
onado pela concepo histrico-crtica que no o concebe enquanto viso
dialtica e o encara como insatisfatrio para a anlise da problemtica
educacional. As palavras de Saviani so esclarecedoras neste sentido:
"Diante da insatisfao com essas anlises crtico-
reprodutivistas foi se avolumando a exigncia de uma anli-
se do problema educacional que desse conta do seu carter
contraditrio, resultando emorientaes com influxo na pr-
tica pedaggica, alterando-a e possibilitando sua articula-
Concepo histrico-crtica da educao: duas leituras. 107
o com os interesses populares em transformar a socieda-
de"(1986c, p. 17).
Vrios foram os estudos feitos e os trabalhos publicados nesta
direo. Apenas para ilustrar, cito Educao e Contradio, de Cury,
que tem como interlocutor o crtico-reprodutivismo; Magistrio de
1 grau: da competncia tcnica ao compromisso poltico, de
Guiomar Namo de Mello, que, pressupondo as anlises de Cury, dis-
cute com o "politicismo", que nega a especificidade da educao
escolar; A socializao do saber escolar, de Betty Antunes de
Oliveira e Newton Duarte, que vo centrar suas anlises nas rela-
es entre o contedo e a forma enquanto dois plos determinantes
da prtica especificamente pedaggica, derivando para as relaes
entre o tcnico e o poltico.
No processo de consolidao da pedagogia histrico-crtica, vrios
tambm foram e continuam sendo os seus interlocutores. Alm das ten-
dncias pedaggicas tradicionais e novas, das crtico-reprodutivistas,
vemos a concepo popular que, emcomumcomahistrico-critca, possui
apenas os fins progressistas da educao. Os fins, porque seus entendi-
mentos quanto ao papel da escola na democratizao da sociedade bra-
sileira e suas estratgias de atuao so radicalmente diferentes.
A concepo popular cr que o espao escolar tem como funo
produzir um saber de classe, original e autntico, que sirva aos interesses
das camadas populares e cujo eixo de abordagem seja determinado pre-
dominantemente pelaproblemtica social mais ampla.
Por sua vez, a concepo histrico-crtica define a escola enquanto
uma agncia socializadorado saber sistematizado, produzido e acumula-
do historicamente pela humanidade, entendido como uma ferramenta
cultural a ser utilizada pelos sujeitos em funo dos seus interesses de
classe no processo de transformao social.
Feito este breve histrico, passemos, ento, s comparaes relativas
aos dois autores em questo, que obedecero a seguinte lgica de exposi-
o: discorrendo sobre aperspectivade Libneo, tendo por refernciao seu
artigo "Os contedos escolares e suadimenso crtico-social"! apresento, ao
mesmotempo, questionamentos relativos atal perspectiva, aludindo Betty
Antunes de Oliveira, a autores que participamou constituemas bases da sua
linha de abordagem, e acrescendo reflexes prprias.
10S Marlene de Souza Dozol
2 Dois "olhares" sobre a concepo histrico-crtica
da educao
Resultante desta experincia e das anlises de Jos Carlos Libneo,
est a "Pedagogia crtico-social dos contedos", expresso criada por
ele prprio e que entra em cena na dcada de 80.
No artigo por mimutilizado como referncia, o autor explicita esta
pedagogia da seguinte maneira:
concepo da pedagogia crtico-social dos contedos ou his-
trico-crtica atribui escola opapel social e poltico da socia-
lizao do saber sistematizado. Utiliza-se de processos peda-
ggicos-didticos que assegurama interligao entre asprti-
cas socioculturais dos alunos e a cultura elaborada e assim, a
unidade conhecimento-ao. Pretende que o domnio de instru-
mentos culturais e cientficos consubstanciados no saber ela-
borado auxilie no conhecimento e compreenso das realidades
sociais, favorecendo a atuao dos indivduos no seio das pr-
ticas de vida e das lutas pela transformao social" (p. 8).
Na defesa desta concepo, Libneo estrutura seu artigo em qua-
tro tpicos principais:
a) dos objetivos e funes da educao escolar;
b) da democratizao do saber sistematizado;
c) dos contedos e mtodos de ensino nas vrias tendncias pedaggicas;
d) da noo de contedos e sua dimenso crtico-social.
Ao abordar os objetivos e funes da educao escolar, Libneo
define a educao enquanto umprocesso social inserido no conjunto das
diversas modalidades da prtica social, modalidades essas que traduzem
um detenninado tipo de dinmica social.
Se a educao processo social, preciso ter claro o modelo de socie-
dade no qual esta se d, a fim de estipular seus objetivos e suas finalidades.
Segundo o autor, ao modelo de sociedade caracterizado pela divi-
so social do trabalho, tais objetivos e finalidades - articulados s rela-
es entre as classes e grupos sociais - poderiam ser formulados, basi-
camente' sob dois tipos diferenciados de perspectivas. Na primeira de-
las, os objetivos da educao estariam comprometidos com a manuten-
o da organizao social vigente, tratando de adaptar os indivduos
Concepo histrico-crtica da educao: duas leituras 109
esta realidade. Contrapondo-se primeira, a segunda perspectiva reco-
nhece o papel da educao na transformao social. Tal papel se faz
possvel na medida em que a prtica educativa toma como ponto de
partida as exigncias da sociedade concreta e instrumentaliza os indiv-
duos para, coletivamente, compreend-la e transform-la. Dentre estas
exigncias est o conhecimento referente aos "mltiplos campos da ati-
vidade humana" (p. 6), requeridos pela prtica social e histrica dos
homens. Portanto, no um conhecimento em si mesmo, neutro, mas um
conhecimento consonante com as imposies do desenvolvimento hist-
rico e social com vistas transformao.
Gostaria de chamar a ateno neste momento para dois aspectos
que na minha percepo constituem notas distintivas da pedagogia crti-
co-social dos contedos. O primeiro deles diz respeito utilizao da
categoria de contradio na anlise do fenmeno educacional, mais es-
pecificamente o escolar. O emprego de tal categoria parece ter sido
fundamental para compreenso de que a escola ao mesmo tempo que
condicionada aos fatores infraestruturais, guarda no interior da sua din-
mica, algumas possibilidades que podero auxiliar os sujeitos histricos
na tarefa de transformar o real em prol dos seus interesses de classe. A
categoria da contradio permitiria, assim, a superao de uma viso
unilateral e determinista nos moldes crtico-reprodutivistas.
O outro aspecto refere-se relao estabelecida entre contedos
escolares e os interesses de classe. O fato de considerar a universalida-
de e a autonomia de determinados contedos, bem como a importncia
de socializ-los, no significa, para esta pedagogia, a neutralidade do
conhecimento. A idia de articular o saber sistematizado com as neces-
sidades dos indivduos concretos que frequentam os bancos escolares,
na perspectiva da transformao social, a diferencia de maneira signifi-
cativa, principalmente da pedagogia tradicional. Esta diferenciao s
vezes no percebida por um contingente considervel de educadores.
Dando continuidade s idias do autor, a educao, numa perspecti-
va de mudanas, resgataria a condio cultural humana, essencialmente
transformadora e criativa, que se d pelo exerccio de permanente supera-
o daqueles condicionantes que impedem a sua plena realizao.
neste sentido que, napedagogiacrtico-social dos contedos, a socia-
lizao do saber acumulado e produzido historicamente, na qualidade de
produto das prticas sociais em todos os tempos, constitui-se num dos
11 O. Marlene de Souza Dozol
instrumentos necessrios ao resgate da condio mencionada acima. Nas
palavras do autor:
"Para a pedagogia crtico-social dos contedos, a contribuio
da escola pblica para a democratizao da sociedade (isto ,
humanizao do homememtodas as suas dimenses) est na
realizao de seupapel social epoltico de difuso de cultura a
todos"(p.6).
Alia-se transmisso dos contedos bsicos, a preocupao - breve-
mente mencionada pelo autor em alguns momentos do seu artigo - quanto
aos mtodos de apropriao ativa ou outros processos pedag6gicos. sobre
esta relao entre contedos e mtodos que centrarei minhas anlises.
2.1 Da relao contedo e forma
Para introduzir esta problemtica, Libneo aponta o descompasso
entre os contedos e metodologias e as caractersticas da nova clientela
que passou a freqentar a escola em funo da democratizao quanti-
tativa do ensino. Baseado na hiptese segundo a qual:
.. ao crescimento quantitativo das matrculas no correspon-
deu uma prtica escolar consoante com as exigncias da po-
pulao envolvida"(p. 7),
o autor chama a ateno para a necessidade de criao de outros pa-
dres de qualidade.
Ao caracterizar e discutir a questo contedos-mtodos em cada
uma das tendncias da tradio pedag6gicabrasileira, o autor considera o
insucesso quanto democratizao do saber sistematizado, oprincipal li-
mite. Assevera que nenhuma das tendncias deu conta de socializar o
saber objetivo esistematizadoentendido como uminstrumento necessrio
para a interpretao e organizao da experincia social dos indivduos.
No vou discordar disso, mas gostaria de chamar a ateno para a relao
que deveria ser estabelecida entre saber sistematizado e prtica social
mais ampla.
No decorrer de todo o artigo esta relao no fica suficientemente
clara e minha hiptese para isto a seguinte: mesmo considerando a rele-
Concepo histrico-crtica da educao: duas leituras 111
vncia dos mtodos, processos, procedimentos didtico-pedaggicos, etc.,
que passarei a chamar de agora em diante de forma, o autor privilegia de-
masiadamente o contedo. Comisso no transfere oraciocnio utilizado em
sua anlise mais ampla (das relaes entre escola e sociedade) para a pr-
tica especificamente pedaggica. Noutras palavras: a relao contedo e
forma, entendidos comoplos, ao mesmo tempo opostos e complementares
do fenmeno pedaggico, no estabelecida de modo suficiente no artigo
em questo dificultando a compreenso da dimenso poltica da prtica es-
pecificamente pedaggica e sua relao com a prtica social global.
certo que para compreender determinado fenmeno, uma das
estratgias considerar os seus elementos separadamente, a fIm de atri-
buir-lhes uma identidade. Contudo, na dialtica - perspectiva de anlise
adotada pela tendncia pedaggica em quest0
2
- esta estratgia tem
carter provisrio.
Ao privilegiar oplo determinante do ato pedaggico (isto , o conte-
do), o autor sem dvida alguma contribui significativamente para o resgate
do papel especfico daprticapedaggicaescolar. Por outro lado, vrios so
os elementos compositivos desta prtica e entre eles est a forma.
Tratando das leis da correlao do contedo e da forma, Alexandre
Cheptulin afIrmaque:
"Na realidade, toda forma est organicamente ligada ao conte-
do, uma forma de ligao dos processos que o constituem. A
forma e o contedo, estando em correlao orgnica, depen-
dem um do outro, e essa dependncia no equivalente. O
papel determinante nas relaes contedo-forma desempe-
nhado pelo contedo. Ele determina a forma e suas mudanas
acarretam mudanas correspondentes da forma. Por sua vez,
a forma reage sobre o contedo, contribui para o seu desenvol-
vimento ou o refreia' (1982, p. 268).
esta correlao orgnica que o artigo analisado parece no indi-
car. Ao tratar do papel de mtodos e procedimentos de ensino nesta
tendncia, o autor os situa como um mero apoio apropriao ativa do
conhecimento, chegando a afirmar que
"... esse entendimento no exclui os mtodos e tcnicas de
ensino (. ..) obtidos na tradio pedaggica, independentemen-
.._.._-----------
112. Marlene de Souza Dozol
te de suaprocedncia ideolgica, desde que contribuampara
os objetivos poltico-pedaggicos de assegurar o acesso aos
conhecimentos a todos' (p. 11) (Grifo meu).
A citao acima acrescenta um complicador minha preocupao
com a relao contedo e forma no processo pedaggico.
A necessidade desta relao no se refere apenas garantia do
acesso ao saber sistematizado por parte das camadas populares.
Pelo fato da pedagogia crtico-social dos contedos ter um com-
promisso poltico claro com estas camadas, precisa aprofundar a di-
menso poltica da prtica especificamente pedaggica. Neste senti-
do que lano aqui uma segunda hiptese: somente a dimenso crti-
co-social dos contedos no basta para se apreender a dimenso
supracitada. preciso "enxergar" a dimenso poltica implcita na
forma que se d ao processo de transmisso-assimilao do saber
escolar. Tal forma poder contribuir ou no para as transformaes
sociais. Como se daria isto?
Ao coordenar uma experincia prtica na rea de educao de
adultos (alfabetizao e supletivo), na Universidade Federal de So
Carlos-SP, Betty Antunes de Oliveira refletiu o seguinte:
li Verificou-se que no se podia considerar a prtica pedaggica
como ummomentoondeapenassedaria a instrumentalizaodo
educando, atravs da aquisiodoconhecimento elaborado, para,
numa fase posterior, esse conhecimento ser utilizado pelo edu-
candona lutapela transformao social. Isto : atravsdaprtica
pedaggicaseprocessariaaquelainstrumentalizao. Correto! Mas
no s isso. H muito mais a ser considerado a. Verificou-se
queoprpriomodocomosedava essa instrumentalizaogerava
efeitos tambm dentro da sala de aula, eque serviama determi-
nados interesses sociais. H, portanto uma orientao poltica
subjacenteaomodo comosed essa instrumentalizao, tenha-
se conscincia disso ound' (1987a, p. 25).
Nesta perspectiva, o contedo no se refere apenas ao conhecimen-
to humano, mas tambm ao contedo ideolgico subjacente forma de
conduzir a experincia escolar, que inevitavelmente passar para o racio-
cnio do educando.
Concepo histrico-crtica da educao: duas leituras. 113
.2.2 Um exemplo
Para ilustrar o que vem sendo afirmado, recorro ao trabalho de-
senvolvido por Newton Duarte
3
no contedo de matemtica elementar
para educandos adultos.
Utilizando a relao entre o lgico e o histrico, o autor elaborauma
didtica para o referido contedo, apostando na idia de que a construo
dinmica dos conceitos matemticos por parte do aluno poderia sugerir
elementos para a construo de urna noo dinmica do social. Esclare-
cendo: ao buscar na histria o processo de construo e transformao
dos conceitos matemticos, o autor elabora urna seqncia de procedi-
mentos metodolgicos que, coerentemente com urna viso processual e
dinmica do mundo, pretende possibilitar, aos educandos, urna ao igual-
mente processual e dinmica sobre este objeto cultural de conhecimento.
No se trata aqui de contar a histria da matemtica para os alunos, mas
sim de recolher da histria aqueles momentos cruciais que do conta de
explicar a lgica atual do contedo matemtico. Estes momentos seriam
organizados metodologicamente de modo a propiciar ao educando o ma-
nuseio abreviado dos mesmos, as mesmas necessidades histricas e a
adoo de estratgias intencionais pararesolv-las. Assim, por exemplo, a
conquista do sistema decimal de numerao posicional juntamente com a
descoberta do O(zero) - o que representou na histria da humanidade uma
economia e possibilidades de clculos elevados potncia do infinito -
poder ser artificialmente organizada (aqui no sentido metodolgico) de
modo que os educandos reeditempara si as possibilidades desta descober-
ta, compreendendo suas razes e regras de composio.
Esta ao dever implicar no s no acesso ao conhecimento em
si, mas num exerccio intencional de recriao do conhecimento para si
de acordo com os interesses do educando j no ato de se apropriar
desta ferramenta cultural.
Segundo Duarte, se nos limitarmos somente socializao do con-
tedo elaborado, ignorando ou pouco considerando a dimenso poltica
do como isto se concretiza (a forma), os educandos podero at apren-
der a operar aritmeticamente com facilidade. Mas adverte o autor:
"No entanto, embora tenham aprendido a manipular essa ferra-
. menta cultural, no tero captado o processo de evoluo da
114 Marlene de Souza Dozol
mesma. Isso incoerente coma proposta de contribuir para a
transformao social, pois se vemos a matemtica estatica-
mente, estaremos contribuindo para que esse modo de ver as
coisas seja adotado com relao ao restante da prtica social
do indivdud' (1987, p. 81)
e prossegue:
"... necessrio que contribuamos para que eles desenvolvam
um modo de pensar e agir que possibilite captar a realidade
enquanto umprocesso, conhecer as leis internas do desenvol-
vimento deste processo, para poder captar as possibilidades
de transformao do real' (idem).
Como j foi afirmado anteriormente, este modo intencional de pen-
sar e de agir por parte do educando no ato de aprender possui uma
dimenso poltica que s6 se torna perceptvel se considerarmos, alm do
contedo, a forma com que este transmitido-assimilado. Chega-se,
ento, relao entre o tcnico e o poltico, no como duas coisas sepa-
radas, mas que se interpenetram no ato pedag6gico.
No demais repetir que, no caso do contedo matemtico, depen-
dendo da relao que se estabelea entre os dois pares categoriais
supracitados, pode-se subliminarmente passar uma concepo de mun-
do dotada de uma 16gica esttica, eterna e imutvel, ou uma outra, ca-
racterizada pelas transformaes em funo de alguns interesses. Isto
quer dizer que mesmo "ensinando bem" - atravs de mtodos pedag6gi-
cos eficientes - os contedos necessrios s camadas populares, o pro-
fessor, ao selecionar e empregar determinados procedimentos
metodol6gicos, poder, semter conscincia disso, estar colaborando com
a aftrmao de uma 16gica que contrria aos interesses daqueles que
diz defender. E aqui ascendemos a um novo patamar da relao teoria e
prtica, e das relaes existentes entre a sociedade e a escola.
2.3 Da categoria de mediao
A relao entre contedo e forma, alm das questes explicitadas
at aqui, me leva a pensar sobre uma outra questo presente no artigo
analisado. Trata-se do entendimento de Libneo quanto ao papel de me-
Concepo histrico-crtica da educao: duas leituras. 115
diao da escola. Este entendimento pode ser depreendido quando o
autor define a concepo crtico-social dos contedos. Esta definio j
se encontra transcrita no corpo deste trabalho, mas para abordar a ques-
to da mediao necessrio transcrev-la novamente:
"A concepo da pedagogia crtico-social dos contedos ouhis-
trico-crtica atribui escola o papel social e poltico de socia-
lizao do saber sistematizado. Utiliza-se de processos peda-
ggicos-didticos que assegurama interligao entre as prti-
cas scio-culturais dos alunos e a cultura elaborada e assima
unidade conhecimento-ad' (p. B).
Da maneira como est colocado acima, parece que ao conhecimento
equivaleria a culturaelaborada, e ao, a prtica social mais ampla E mais:
ao se fazer a relao entre estas duas coisas, estaria assegurada a unidade
conhecimento-ao. Seformos levar esteraciocnio s ltimas conseqncias,
como se o conhecimento socializado no interior da escola s tivesse conse-
qnciapolticafora dela, como se a ao dos indivduos emfuno dos seus
interesses no fosse possvel naprpriaexperinciaescolar e s fosse possvel
emoutras modalidades daprticasocial (trabalho, sindicato, poltica, etc.). E
exatamente neste ponto que questiono o conceito de mediao utilizado pelo
autor, oque me levou apersistir naidiade que a dimenso polticadaprtica
especificamente pedaggica percebida em termos e no na sua totalidade.
Tanto percebida em termos que, ao definir o campo de pesquisa
da pedagogia crtico-social dos contedos, Libneo formula, entre ou-
tras, a seguinte pergunta:
"Comoselecionar contedos de ensino de relevncia social, cujo
domnio assegure a todos os conhecimentos necessrios par-
ticipao democrtica no trabalho, no sindicato, na poltica?'.
Tal perguntatalvez escondanas entrelinhas resqucios mecanicistas
no modo de perceber a relao entre a prtica pedaggica e a prtica
social global. Modo este que no d contade evidenciar a interpenetrao
de ambas, embora o autor a pretenda.
Buscando a compreenso orgnica da categoria da mediao, que
implica numa relao recproca e dinmica das partes entre si, Betty
Antunes de Oliveira afirma que:
116 Marlene de Souza Dozol
"... a escola um dos organismos da superestrutura e como
tal uma das instncias onde a prtica social global se pro-
cessa. Aprtica educativa escolar , portanto, uma das mo-
dalidades dessa prtica social global e no uma 'entidade'
parte desta prtica mais ampla, uma 'entidade' que estaria
precedendo a prtica social como um todo". (1987a, p. 96).
E acrescenta ainda a autora:
"Se as transformaes sociais se do na prtica social global,
do-se em toda e qualquer de suas modalidades, inclusive na
prtica educativa' (1987a, p. 96-97).
Isto significa dizer que a escola mais que uma passagem o pr-
prio movimento social se dando. No prprio ato de se apropriar dos
objetos culturais de conhecimento os indivduos j podem, ou no, ser
sujeitos de sua ao e isto pode, ou no, sergeneralizado para as demais
prticas sociais.
Passemos agora s ltimas consideraes.
2.4 guisa e concluso
Emsntese, segundo Betty Antunes, adimensopolticadaprticaespe-
cificamente pedaggicapode ocorrer de duas maneiras, dependendo da rela-
o que se estabelea entre contedo e forma, entre o tcnico e o poltico:
1
2
) dependendo do como se trabalha um contedo, pode-se passar,
subliminarmente, concepes de mundo comprometidas ou no com a
transformao social;
2
2
) dependendo da forma que se aplique socializao de um de-
terminado contedo, pode-se ou no propiciar uma prtica intencional
por parte dos indivduos no prprio ato de apropriao do saber sistema-
tizado, o que, tanto num caso como no outro, possui uma dimenso pol-
tica implcita.
Embora Libneo reconhea em seu artigo anecessidade e aimportn-
cia de meios tcnicos e didticos que visem o papel de mediao na tarefa
de aprender dos alunos, no atribui adimenso polticaque lhes intrnseca.
No percebendo esta dimenso, o autor opera de certa forma uma ciso
entre otcnico e opoltico, mesmo falando emdimenso poltica daprtica
Concepo histrico-crtica da educao: duas leituras. 117
pedaggica Neste artigo, estadimenso se esgotanos elementos compositivos
do contedo (de carter histrico e social), na sua relao com as experin-
cias scio-culturais mais amplas e na sua socializao, onde o fazer tcnico
limita-se a garantir com eficincia o processo de assimilao.
Acerca da socializao e assimilao do saber, o autor afirma que:
"... a apropriao do saber sistematizadopromove a ampliao
do conhecimento e compreenso da realidade, de modo que os
indivduos vo se dando conta das implicaes adversas do
trabalho alienado e seapercebemcomoprodutores em 'socie-
dade' e agentes ativos de sua prpria humanizad' (p. 10).
No entanto, pouco trata desta conseqncia no mbito e no interior
da prpria experincia escolar, que, dependendo como vivida, pode ou
no contribuir para a ampliao do conhecimento, da compreenso da
realidade, do se dar conta das implicaes adversas do trabalho aliena-
do, etc., a depender do binmio contedo e forma.
Gostaria de finalizar dizendo que a relao entre contedo e forma
alerta para o fato de que, para que a educao escolar cumpra seu papel
poltico dentro da sua especificidade, preciso que, alm de se apropriar
de determinados contedos, o indivduo seja sujeito do seu mtodo
de apropriao, o que s ser possvel estabelecendo esta relao de
modo suficiente em funo do tipo de compromisso e fins polticos pro-
clamados. ...
fundamental que os educadores compreendam que a sua forma
de transmitir o contedo implica no exerccio de uma determinada viso
de mundo e de raciocnio por parte do aluno. H que se enxergar o
poltico embutido na tcnica, embora isto seja extremamente difcil, pois
suas relaes no so aparentes e nem perceptveis de imediato.
118. Marlene de Souza Dozol
Notas
1. Publicado na Revista da ANDE, n. 11, 1986.
2. Salvo alguns "lembretes"quanto existncia de mtodos ativos de
apropriao do conhecimento ou algumas consideraes quanto ao
equvoco de exclu-los ou secundariz-los.
3. Integrante da equipe de Beth Antunes, na UFSCar.
Referncias bibliogrficas
CHEPTULlN, Alexandre. Adialticamaterialista. SoPaulo: Alfa-mega,
1982.
DUARTE, Newton. O ensino de matemtica na educao de adul-
tos. So Paulo: Cortez, 1986a.
LIBNEO, Jos Carlos. Os contedos escolares e sua dimenso crtico-
social. Revista da ANDE, n.ll, 1986b.
___o Democratizao da Escola Pblica_- A pedagogia crtico
social dos contedos. 8. ed., So Paulo: Loyola, 1989.
___o Didtica. So Paulo: Cortez, 1992.
OLIVEIRA, Betty Antunes; DUAR1E, Newton. Socializao do sa-
ber escolar. 4. ed. So Paulo: Cortez, 1987a.
PINTO, lvaro Vieira. Cincia e Existncia. 3. ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1979.
SAVIANI, Derrneval. A pedagogia histrico-crtica no quadro das ten-
dncias crticas da Educao Brasileira.Revista da ANDE, n" 11,
1986a.
___'o Escola e democracia. 16. ed. So Paulo: Cortez, 1987b.
Você também pode gostar
- A Melhor Coisa Que Nunca Aconte - Laura Tait PDFDocumento232 páginasA Melhor Coisa Que Nunca Aconte - Laura Tait PDFukiguktbgubAinda não há avaliações
- Wright e A Arquitetura Paulista - Debora - ForestiDocumento179 páginasWright e A Arquitetura Paulista - Debora - Forestismithangelo2Ainda não há avaliações
- Aula 3 - Organização e Legislação Da EducaçãoDocumento22 páginasAula 3 - Organização e Legislação Da EducaçãoValéria Aquino100% (1)
- Vista Do SILVA, Tomaz Tadeu Da. Documentos de Identidade - Pensar A PráticaDocumento6 páginasVista Do SILVA, Tomaz Tadeu Da. Documentos de Identidade - Pensar A PráticaCaio UzedaAinda não há avaliações
- Roteiro para SarauDocumento3 páginasRoteiro para SarauRoseli MenezesAinda não há avaliações
- Doc. TCC PosDocumento14 páginasDoc. TCC PosCíntia Rodrigues De JesusAinda não há avaliações
- Didática Coerente com a Pedagogia Histórico-Crítica: Elementos de Aproximação da Educação do Jovem Adulto TrabalhadorNo EverandDidática Coerente com a Pedagogia Histórico-Crítica: Elementos de Aproximação da Educação do Jovem Adulto TrabalhadorNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 48 Simulado Cipriano LuickesiDocumento3 páginas48 Simulado Cipriano LuickesiDesafios Matemáticos100% (2)
- Resenha - A Arte de EnsinarDocumento3 páginasResenha - A Arte de EnsinarJennifer JenkinsAinda não há avaliações
- A Pedagogia Histórico Crítica e A Avaliação Marcos BohrerDocumento13 páginasA Pedagogia Histórico Crítica e A Avaliação Marcos BohrerJean OliveiraAinda não há avaliações
- Resenha Do Texto: As Teorias Do Currículo Na Perspectiva de Tomaz Tadeu Da Silva de Camila AntunesDocumento5 páginasResenha Do Texto: As Teorias Do Currículo Na Perspectiva de Tomaz Tadeu Da Silva de Camila AntunesKatieli Costa100% (1)
- Concepções Teóricos - Filosóficas Da Didática e o Pensamento Educacional Brasileiro.Documento17 páginasConcepções Teóricos - Filosóficas Da Didática e o Pensamento Educacional Brasileiro.cleziamarioAinda não há avaliações
- Apresentação PedagodiaDocumento12 páginasApresentação PedagodiaJosiane MeloAinda não há avaliações
- Pedagogia Histórico-Crítica: encontros e desafiosNo EverandPedagogia Histórico-Crítica: encontros e desafiosAinda não há avaliações
- Ideologia e EducaçãoDocumento10 páginasIdeologia e EducaçãoLívia MoraesAinda não há avaliações
- Sociologia Da Educação: Aline Michele Nascimento AugustinhoDocumento12 páginasSociologia Da Educação: Aline Michele Nascimento Augustinhoeduardo urbaAinda não há avaliações
- SAVIANIDocumento4 páginasSAVIANIAdriana Helena Bueno RoqueAinda não há avaliações
- Trabalho Prof. ArlindoDocumento15 páginasTrabalho Prof. ArlindoarlindoAinda não há avaliações
- Resumo Texto, para A Fundamentação TeóricaDocumento15 páginasResumo Texto, para A Fundamentação TeóricaSofia UchoaAinda não há avaliações
- TENDENCIADocumento8 páginasTENDENCIAJosiane MeloAinda não há avaliações
- Um Currículo Democrático Na ContemporneidadeDocumento19 páginasUm Currículo Democrático Na ContemporneidadelilourencatoAinda não há avaliações
- SHOW - Fundamentos Da Pedagogia Historico-CriticaDocumento25 páginasSHOW - Fundamentos Da Pedagogia Historico-Criticaedmapinto77Ainda não há avaliações
- Ele Apreende Ele ExecutaDocumento4 páginasEle Apreende Ele ExecutaJennifer CorreaAinda não há avaliações
- Currículo Histórico-Crítico E Indivíduos AutônomosDocumento9 páginasCurrículo Histórico-Crítico E Indivíduos AutônomosGildo VolpatoAinda não há avaliações
- Relações Entre Conhecimento, Método e DidáticaDocumento22 páginasRelações Entre Conhecimento, Método e DidáticaAna Carolina GalvãoAinda não há avaliações
- Relatório Da Oficina 1 - Metodologia de Ensino de HistóriaDocumento5 páginasRelatório Da Oficina 1 - Metodologia de Ensino de HistóriaVictor CunhaAinda não há avaliações
- Tema 1 - Correntes PedagógicasDocumento5 páginasTema 1 - Correntes PedagógicasViviane BatistaAinda não há avaliações
- Currículo 4Documento10 páginasCurrículo 4Israel ConceiçãoAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Do DocumentoDocumento6 páginasResenha Crítica Do DocumentoFausto FilhoAinda não há avaliações
- Ciência e Ideologia Na Prática Dos Professores de Sociologia No Ensino MédioDocumento3 páginasCiência e Ideologia Na Prática Dos Professores de Sociologia No Ensino MédioRicardo ShiotaAinda não há avaliações
- Gramsci, A Escola e Aformação de Professores No Fim Do Seculo XXDocumento4 páginasGramsci, A Escola e Aformação de Professores No Fim Do Seculo XXmarcos Naadison gabrielAinda não há avaliações
- Correntes SociologicasDocumento16 páginasCorrentes SociologicasPaulino Junior100% (1)
- Impossibilidades Projetos Pedagogicos EmancipatoriosDocumento18 páginasImpossibilidades Projetos Pedagogicos EmancipatoriosLisley GomesAinda não há avaliações
- Fichamento Semana 2Documento17 páginasFichamento Semana 2DayaneAveiroAinda não há avaliações
- 2 - Sociologia Da Educação - Campo de Conhecimento e Novas Temáticas (... )Documento23 páginas2 - Sociologia Da Educação - Campo de Conhecimento e Novas Temáticas (... )Kaliane MaiaAinda não há avaliações
- Paulo BernardinoDocumento19 páginasPaulo BernardinoAndreyson SoaresAinda não há avaliações
- O Slivros Didáticos Na Perspectiva Da SociologiaDocumento18 páginasO Slivros Didáticos Na Perspectiva Da Sociologiagustavo costaAinda não há avaliações
- Didática 6Documento13 páginasDidática 6ThayerAinda não há avaliações
- Os Objetivos Do Ensino Da HistóriaDocumento7 páginasOs Objetivos Do Ensino Da HistóriaVinícius GalvinoAinda não há avaliações
- 03 Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes O Negro No Brasil de HojeDocumento18 páginas03 Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes O Negro No Brasil de HojeHildon CaradeAinda não há avaliações
- DermevalSaviani Pedagogiahistrico Criticaprimeirasaproximaes11edrevisada1 OrganizedDocumento5 páginasDermevalSaviani Pedagogiahistrico Criticaprimeirasaproximaes11edrevisada1 OrganizedelisamenaAinda não há avaliações
- Sociologia Da Educaçao - SociologiaDocumento13 páginasSociologia Da Educaçao - SociologiaAngela Rothschild TávoraAinda não há avaliações
- 1463-Texto Do Artigo-2490-1-10-20190208Documento3 páginas1463-Texto Do Artigo-2490-1-10-20190208Samuel Soares MeloAinda não há avaliações
- Pedagogia Histórico Crítica - Primeiras AproximaçõesDocumento3 páginasPedagogia Histórico Crítica - Primeiras AproximaçõesGledson ANTONIO DE PROENCAAinda não há avaliações
- 29, 30 e 31 de Maio de 2017 Centro Universitário de Mineiros - UnifimesDocumento13 páginas29, 30 e 31 de Maio de 2017 Centro Universitário de Mineiros - UnifimesMarciaufopaAinda não há avaliações
- DPD, CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA - ARTICULAÇÃO COM A TEORIA DA EDUCAÇÃODocumento13 páginasDPD, CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA - ARTICULAÇÃO COM A TEORIA DA EDUCAÇÃOflavia.lorenaAinda não há avaliações
- Ética, Responsabilidade Social e Formação de EducadoresDocumento7 páginasÉtica, Responsabilidade Social e Formação de EducadoresRubia EliseAinda não há avaliações
- SLIDES. 9 AULA Fundamentos Teóricos Da PHC para A Prática EscolarDocumento37 páginasSLIDES. 9 AULA Fundamentos Teóricos Da PHC para A Prática Escolarleonardo pereiraAinda não há avaliações
- Atividade A1 - Avaliação e CurrículoDocumento4 páginasAtividade A1 - Avaliação e CurrículoAlinne FedrigoAinda não há avaliações
- Fichamento CIAVATTA, Maria RAMOS, MariseDocumento4 páginasFichamento CIAVATTA, Maria RAMOS, MariseTHIAGO DA SILVA MENDESAinda não há avaliações
- GT2 Artigo Mantovani Sociologia No Ensino MedioDocumento14 páginasGT2 Artigo Mantovani Sociologia No Ensino MedioAninha124 SillvaAinda não há avaliações
- Escola, Neoliberalismo, Violência e Ensino de HistóriaDocumento13 páginasEscola, Neoliberalismo, Violência e Ensino de HistóriaOrlando Mendes RamosAinda não há avaliações
- Concepção de Currículo e MulticulturalismoDocumento3 páginasConcepção de Currículo e MulticulturalismoDAIANE MORAESAinda não há avaliações
- Ana, AUTOR 4 - 3548-Texto Do Artigo-15925-1-4-20200608 - REVISADO PELOS AUTORESDocumento13 páginasAna, AUTOR 4 - 3548-Texto Do Artigo-15925-1-4-20200608 - REVISADO PELOS AUTORESVenícius BernardoAinda não há avaliações
- Lcoutinho,+8643932 21629 1 CEDocumento11 páginasLcoutinho,+8643932 21629 1 CELetz XzkAinda não há avaliações
- Por Uma Pedagogia Crítica - Reflexões Sobre Algumas Tendencias em EducaçãDocumento19 páginasPor Uma Pedagogia Crítica - Reflexões Sobre Algumas Tendencias em EducaçãBianca RezendeAinda não há avaliações
- Abordagem Crítico-SuperadoraDocumento36 páginasAbordagem Crítico-Superadoramagnus catteteAinda não há avaliações
- Questão 5 - Pedagogia Crítico-Social Dos ConteúdosDocumento2 páginasQuestão 5 - Pedagogia Crítico-Social Dos ConteúdosRaphael FreitasAinda não há avaliações
- Sociologia e Ensino Superior. Encontro Ou Desencontro PDFDocumento28 páginasSociologia e Ensino Superior. Encontro Ou Desencontro PDFSaulo JosefAinda não há avaliações
- A Escola e As Mudancas Socias Novas PerspectivasDocumento18 páginasA Escola e As Mudancas Socias Novas PerspectivasarsenioAinda não há avaliações
- 530 Texto - Do - Artigo 1462 2 10 E35d0ec0Documento17 páginas530 Texto - Do - Artigo 1462 2 10 E35d0ec0Lavínia MariaAinda não há avaliações
- Alexandre Assis,+45738Documento6 páginasAlexandre Assis,+45738Emanuelle MatiasAinda não há avaliações
- Fichamento Documentos de IdentidadeDocumento8 páginasFichamento Documentos de IdentidadeAline FerreiraAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento4 páginasResenhaIzabella LucianaAinda não há avaliações
- Poderes Instaveis em Educacao PDFDocumento8 páginasPoderes Instaveis em Educacao PDFCintia HenckerAinda não há avaliações
- Vigotski Ensino Desenvolvimental Zoia PrestesDocumento19 páginasVigotski Ensino Desenvolvimental Zoia Prestessmithangelo2Ainda não há avaliações
- Anais ALICE 2013Documento135 páginasAnais ALICE 2013flalvessAinda não há avaliações
- TESE JAIR DINIZ MIGUEL Historia Construtivismo RussoDocumento404 páginasTESE JAIR DINIZ MIGUEL Historia Construtivismo Russosmithangelo2Ainda não há avaliações
- Escola e Democracia Ou A Teoria Da Curvatura Da VaraDocumento11 páginasEscola e Democracia Ou A Teoria Da Curvatura Da Varasmithangelo2Ainda não há avaliações
- Ressolução 2245 12 SEE MGDocumento95 páginasRessolução 2245 12 SEE MGBolota MartinsAinda não há avaliações
- Texto Base Sobre A Cultura Visual PDFDocumento137 páginasTexto Base Sobre A Cultura Visual PDFAna CristinaAinda não há avaliações
- Seminário de História-Educação Quilombola em MGDocumento28 páginasSeminário de História-Educação Quilombola em MGDanieleAinda não há avaliações
- Projeto Educativo - 2021 - 2024Documento69 páginasProjeto Educativo - 2021 - 2024proquesia8482Ainda não há avaliações
- Fichamento Do Texto Ensino Remoto em Tempos de Pandemia: O Perfil e As Demandas Educacionais e Sociais Dos ProfessoresDocumento2 páginasFichamento Do Texto Ensino Remoto em Tempos de Pandemia: O Perfil e As Demandas Educacionais e Sociais Dos ProfessoresMauro OliveiraAinda não há avaliações
- Ishaan AwasthiDocumento3 páginasIshaan AwasthiLeticiaAinda não há avaliações
- O Conforto Na Arquitetura Moderna Brasileira PDFDocumento5 páginasO Conforto Na Arquitetura Moderna Brasileira PDFYohanna BalbinotAinda não há avaliações
- Trabalho de Campo 2Documento11 páginasTrabalho de Campo 2Fidel Joaquim RicardoAinda não há avaliações
- 03 Plano Municipal de Educacao 1696374355Documento61 páginas03 Plano Municipal de Educacao 1696374355andreAinda não há avaliações
- Progressão Aritmética - Lista 02Documento7 páginasProgressão Aritmética - Lista 02Tobias CabralAinda não há avaliações
- Currículo Carlos Souza Da SilvaDocumento2 páginasCurrículo Carlos Souza Da SilvaRafael MühlmannAinda não há avaliações
- Seminario Pregadores Mirins PDFDocumento22 páginasSeminario Pregadores Mirins PDFGabriel100% (1)
- Fund - Legal - Princícipios Da Educação NacionalDocumento70 páginasFund - Legal - Princícipios Da Educação NacionalAnalú MedeirosAinda não há avaliações
- Ufsj - Regimento InternoDocumento3 páginasUfsj - Regimento InternoAndré Luis Oliveira FernandesAinda não há avaliações
- Participaçao Pais Na EscolaDocumento14 páginasParticipaçao Pais Na EscolaAna AlexandreAinda não há avaliações
- Plano Detalhado Folha de Cálculo - Funcionalidades Avançadas (Excel Avançado) PDFDocumento2 páginasPlano Detalhado Folha de Cálculo - Funcionalidades Avançadas (Excel Avançado) PDFtininham1Ainda não há avaliações
- Slide de Superv Ped (Intervenientes)Documento30 páginasSlide de Superv Ped (Intervenientes)Tomas HaleAinda não há avaliações
- Teste PopDocumento3 páginasTeste Popazores2Ainda não há avaliações
- Conceituação e Classificação Das Subestações ElétricasDocumento41 páginasConceituação e Classificação Das Subestações ElétricasIvonei Ferreira da Silva S.Ainda não há avaliações
- TCC I - Samuel Machado CardosoDocumento67 páginasTCC I - Samuel Machado CardosoGiulia SoaresAinda não há avaliações
- Bortoni - Sociolinguística EducacionalDocumento24 páginasBortoni - Sociolinguística EducacionalPriscila100% (1)
- O Uso Dos Jogos Digitais Como Recurso Pedagógico No Contexto Educacional Durante A Pandemia.Documento12 páginasO Uso Dos Jogos Digitais Como Recurso Pedagógico No Contexto Educacional Durante A Pandemia.helenoAinda não há avaliações
- Revista Iemg N 2Documento36 páginasRevista Iemg N 2Ronaldo Campos100% (1)
- Análise Combinatória Mix 44 QuestõesDocumento9 páginasAnálise Combinatória Mix 44 QuestõesMaria Eduarda0% (1)
- Relatório Visita CemiterioDocumento6 páginasRelatório Visita CemiterioAnderson OliveiraAinda não há avaliações
- CSFA Luanda Sul - Preçário 2021-22 - 1Documento3 páginasCSFA Luanda Sul - Preçário 2021-22 - 1Francisco Zagallo SaraivaAinda não há avaliações