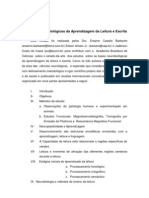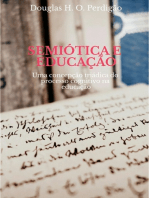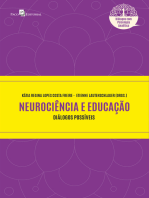Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Breve Explicação Do Metodo Fonico
Enviado por
Raphael Araujo da SilvaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Breve Explicação Do Metodo Fonico
Enviado por
Raphael Araujo da SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O MÉTODO FÔNICO SOB A PERSPECTIVA NEUROPSICOLÓGICA
THE PHONICAL METHOD IN THE NEUROPSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE
BARBOSA, Daiany Toffaloni1
SOUZA, Nelly Narcizo de2
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo investigar e discutir, por meio de revisão
bibliográfica, a relação entre a utilização do Método Fônico na alfabetização infantil e as
funções neuropsicológicas implicadas na leitura. Para isso, buscou-se primeiramente o
entendimento de quais as habilidades necessárias para que o aluno esteja apto para a
aprendizagem da leitura, ou seja, quais elementos e fatores são tidos como conhecimentos
mínimos necessários para partir para a alfabetização formal. Em seguida, expõe-se um
discurso que abrange a organização neurológica no ato da leitura e sua natureza inata,
perpassando desde a chegada da informação, o processamento e as respostas adquiridas -
inputs e outputs. Debruça-se ainda sobre a abordagem do Método Fônico, e sua relação com
os limites biológicos da arquitetura cerebral, além de salientar brevemente a questão da
contribuição destes conhecimentos para um melhor direcionamento da prática educativa no
que tange à alfabetização. Considera-se finalmente, que a opção por Métodos Fônicos não
implica em ignorar a existência e utilização de processamentos top-down, há a necessidade de
uma integração teórica, visto que as salas de aula são tomadas pela heterogeneidade dos
educandos, com dificuldades e potencialidades distintas. Portanto, é preciso saber utilizar o
que é mais adequado conforme as condições do momento.
Palavras-chave: Alfabetização. Consciência Fonológica. Leitura. Método Fônico.
ABSTRACT: This study aimed to investigate and discuss, through literature review, the
relationship between the use of phonics in early childhood literacy and neuropsychological
functions involved in reading. For this, first sought to it understanding of what the necessary
skills so that the student is fit for learning to read, or what elements and factors are
considered minimum knowledge needed to leave for formal literacy. Then exposed to a speech
covering the neurological organization in the act of reading and their innate nature, passing
from the arrival of information, processing and acquired answers - inputs and outputs. It
focuses also on the phonics approach, and its relationship with the biological limits of brain
architecture, and briefly highlight the issue of the contribution of this knowledge to better
targeting of educational practice with respect to literacy. It is considered finally that the
choice of methods phonic does not imply ignoring the existence and use of top-down
processing, there is a need for theoretical integration, since the classrooms are taken by the
1
Especialista em Neuropsicologia Educacional. Universidade Positivo. E-mail: daianytoffaloni@hotmail.com
2
Doutora em Educação (UFPR). Coordenadora da pós-graduação lato sensu em Neuropsicologia da Educação
(Universidade Positivo). E-mail: nellysouza@gmail.com
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
22
heterogeneity of the students with difficulties and potential different. Therefore, you need to
know how to use what is most appropriate according to the conditions of the moment.
Keywords: Literacy. Phonological awareness. Reading. Phonics.
1 INTRODUÇÃO
Existem muitos estudos e teorias acerca da alfabetização nos quais inúmeros autores
abordam tal tema, buscando esclarecer e facilitar este processo, como Emilia Ferreiro e Ana
Teberosky, com obras que denotam as fases da escrita, Paulo Freire com sua aproximação
para com a realidade (contexto) do aluno, Magda Soares abrangendo ainda a importância da
mediação no processo de aprendizagem da leitura, entre outros estudiosos desta área.
Entretanto, pouco tem se falado sobre a questão do processamento neuropsicológico em meio
a essa atividade.
O cenário educacional brasileiro nos traz alguns documentos com a intenção de
melhor direcionar a prática educativa, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, As
Diretrizes Curriculares, entre outras propostas de abrangência municipal (com
desdobramentos e embasamentos diversos), documentos estes que perpassam por métodos e
estratégias de alfabetização, a importância da realidade em torno da criança, a exposição de
atividades mais adequadas, a didática, o uso da ludicidade, entre outros; sem muito (ou
nenhum) enfoque nos circuitos neurais, isto é, a sequência lógica da entrada da informação no
cérebro.
As Neurociências também têm contribuído bastante para o melhor entendimento do
que possivelmente ocorre quando a criança faz a tentativa de transposição dos grafemas para
fonemas, ou seja, de que forma o nosso cérebro sintetiza e interpreta as informações
sensoriais advindas do ambiente no momento da leitura, mais especificamente, as visuais e
auditivas.
Algumas publicações de extrema relevância como “Os neurônios da leitura” de autoria
de Stanislas Dehaene, com uma obra que integra muito bem e de forma clara, os aspectos
cognitivos, neurológicos e culturais numa detalhada investigação do processo mental; além de
outros autores como Capovilla, Cosenza, Guerra e Scliar-Cabral (em suas publicações de
artigos como: Alfabetização: Método Fônico; Neurociências: como o cérebro aprende;
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
23
Evidências a favor da reciclagem neuronal para a alfabetização, entre outros) também têm
dado enfoque ao processo de aquisição da leitura dentro de uma perspectiva neurológica.
Considerando o exposto, o presente estudo discutirá alguns aspectos básicos que
caracterizam o Método Fônico e sua relação com as principais funções neuropsicológicas
implicadas na alfabetização. Buscará ainda, reconhecer e apresentar o caminho da informação
no córtex cerebral durante a aprendizagem da leitura, examinando assim a contribuição das
Neurociências para o entendimento destes processos, bem como as habilidades cognitivas que
predizem a alfabetização.
Triviños (1987) argumenta que o caráter predominantemente qualitativo deste estudo
apresenta como procedimento metodológico a análise de parte da literatura produzida na área.
Esta análise apoiou-se em obras de diferentes autores que abordam temas relacionados ao
objeto de estudo. Desta forma, salienta-se que o referido estudo se utilizará da pesquisa
bibliográfica como instrumento de orientação para o tratamento científico das abordagens
citadas; sendo a fundamentação teórica um fator que viabiliza e sustenta a cientificidade e a
credibilidade da pesquisa.
2 ALFABETIZAÇÃO: ELEMENTOS-CHAVES QUE PREDIZEM A AQUISIÇÃO DA
LEITURA
A alfabetização de crianças é algo bastante desafiador e que envolve muita
responsabilidade e comprometimento por parte dos docentes, mas além de tudo julga-se
crucial o conhecimento acerca do funcionamento desse processo. Conhecimento este, que vai
além de métodos de alfabetização, e identificação de fases da escrita; com certeza tais saberes
agregam muito à prática educativa do profissional docente alfabetizador, mas o processo de
ensino e aprendizagem da leitura envolve ainda questões neuropsicológicas, numa dimensão
cognitiva bastante complexa. Deste modo, para compreendermos o funcionamento
neuropsicológico diante da aprendizagem da leitura pelo Método Fônico, que é o nosso
objetivo final, "é importante que tenhamos um conhecimento básico de como a informação
circula pelo cérebro” (COSENZA, 2011).
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
24
A linguagem escrita, diferentemente da fala e da marcha, é algo recente na história da
humanidade e por isso bem mais complexa; pois, por não existir um pré-estabelecimento
biológico para a mesma, ela precisa ser ensinada. Ou seja, adquire-se a língua oral e aprende-
se a língua escrita. Para aprender a ler é necessário que haja uma instrução formal sobre a
linguagem (SCLIAR-CABRAL, 2010).
Tal instrução formal envolve assim a "aprendizagem", ou seja, uma modificação no
comportamento, que resulta do conhecimento ou aprendizado e que está sujeito à interação
entre fatores internos (biológicos) e externos (ambientais) (SANTOS; MORETTI, 2012 apud
LIMA, MELLO, MASSONI, CIASCA, 2006). Tendo em vista que, com base em
pressupostos neuropsicológicos, a aprendizagem funciona como uma facilitação da passagem
da informação ao longo das sinapses - conceituando sinapses como sendo a comunicação
entre os neurônios por meio de impulsos nervosos, mais especificamente “locais que regulam
a passagem de informações no sistema nervoso” (COSENZA, 2011, p. 13). Assim
possibilitando a automatização do conhecimento e/ou comportamento.
Para tanto, é imprescindível que tratemos então dos elementos e/ou fatores que
predizem a alfabetização (aquisição da leitura), ou seja, o que a criança precisa para ser
alfabetizada, mais especificamente quais as noções e conhecimentos mínimos necessários que
a tornam apta a iniciar a compreensão do código alfabético e consequentemente a aquisição
da leitura. Para tanto, questões primordiais envolvem a motivação e a base de significados que
a criança tem do sistema alfabético, ou seja, ela precisa compreender a estrutura da língua a
qual ela está inserida. Segundo Andre e Bufrem (2012), para se alfabetizar, a criança precisa
sentir necessidade de ler e escrever, ou seja, reconhecer as funções culturais da escrita na
nossa sociedade (apud VYGOTSKY, 2000).
É importante ainda, que a criança já realize representações simbólicas, por meio de
gestos, desenhos, jogos etc. Andre e Bufrem (2012) apud Vygotsky (2000), em termos do
desenvolvimento da criança, classifica esses três elementos citados como "parentes genéticos
da escrita". De modo que:
Na história do indivíduo, a escrita começa a se desenvolver antes da aprendizagem
escolar ou formal, quando a criança desenha para representar objetos, participa de
jogos simbólicos ou utiliza linguagens diversas, como movimentos, desenhos e sons
(ANDRE; BUFREM,2012, p. 29).
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
25
Visto que somente quando a criança compreende esta possibilidade de representação,
poderá então partir para a compreensão de que as letras representam os sons da fala e vice-
versa (ANDRE; BUFREM, 2010). É importante ainda citar que, durante o início do processo
de aquisição da leitura e escrita, uma das grandes dificuldades que a criança enfrenta é o fator
da percepção que ela tem da fala como um contínuo. Desta forma, supõe-se que é necessário o
desenvolvimento de um trabalho sistemático, como se fosse uma pré-alfabetização - uma
reconstrução consciente da percepção da fala, num desmembramento da mesma em: palavras,
sílabas e suas constituintes (SCLIAR-CABRAL, 2010).
Portanto, destaca-se como fator crucial para o início da alfabetização que a criança
tenha a compreensão de que a escrita é usada para comunicar, informar e obter conhecimento,
ou seja, ela precisa entender que a escrita é uma linguagem, e não uma relação mecânica entre
letras e sons. Isto porque, quando a criança está no processo inicial de alfabetização é comum
se exigir mais atenção nas relações letra/som, mas com a prática e internalização dos códigos
da escrita vêm a fluência, de modo que a criança passa a operar diretamente com a escrita
como uma linguagem, ou melhor, uma forma de interação humana (ANDRE; BUFREM,
2010).
2.1 A psicomotricidade e a alfabetização
Anteriormente ao início da alfabetização, julga-se indispensável o desenvolvimento e
aprimoramento de determinadas habilidades psicomotoras, tais quais terão estreita relação
com a aquisição da leitura e escrita (NOGUEIRA; CARVALHO; PESSANHA, 2007). Lemle
(2005) aponta alguns saberes necessários para a aquisição da leitura e escrita, são eles: a ideia
de símbolo, a capacidade de discriminar as formas e as letras, bem como os sons da fala,
consciência da unidade estrutural da palavra, e a organização da escrita. Todos estes saberes
têm relação direta com o desenvolvimento de determinadas habilidades psicomotoras, para
tanto, faremos então um breve estudo em torno dos seguintes aspectos psicomotores:
estruturação espacial, fonoarticulatória, orientação espacial e lateralidade.
A habilidade de estruturação espacial, que nos remete a discriminação das formas das
letras, é elemento imprescindível no início da alfabetização, digamos que um dos pilares
colaboradores deste processo. Zorzi (2003) aponta o seguinte: “para nós, adultos letrados, a
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
26
distinção entre letras como p e q, b e d é uma coisa tão óbvia, que pode ser muito difícil de
imaginarmos como a criança não vê essa diferença tão gritante” (p. 142). Na mesma
perspectiva, Lemle (2005, p.7) destaca:
[...] a ideia de que a ordem significativa das letras é da esquerda para a direita na
linha, e que a ordem significativa das linhas é de cima para baixo na página. Note
que isso precisa ser ensinado, pois isso decorre uma maneira muito particular de
efetuar os movimentos dos olhos na leitura.
Amaral e Barbosa (2009) abordam em seu estudo este tema, indicando que, algumas
atividades que envolvam e explorem uma melhor organização funcional da lateralidade e
ainda da noção corporal, apesar de parecerem banais para nós adultos, colaboram e
repercutem diretamente na alfabetização. Os autores indicam que atividades que explorem
noções espaciais (dentro, fora, longe, perto, direita, esquerda, etc) de tamanho (pequeno,
médio, grande, etc), de movimento (subir, descer, abaixar, levantar), de formas (círculo,
quadrado, triângulo, etc) e de capacidade (cheio, vazio, muito, pouco), vêm a possibilitar o
desenvolvimento mais sadio da estruturação espacial.
Outro aspecto da psicomotricidade relacionado à alfabetização é a orientação espacial,
habilidade esta que tem estreita relação com a organização da página escrita, ou mais
especificamente, com a direção da escrita em si (da esquerda para a direita) e seu
sequenciamento e continuidade quando numa frase ou texto (de cima para baixo). De forma
mútua e congruente, este aspecto também envolve a lateralidade, no que tange à percepção
dos lados direito e esquerdo, para o reconhecimento e diferenciação dos traços das letras – a
direcionalidade10. Assim, para aprimorar as noções espaciais e de lateralidade, atividades e
brincadeiras que envolvem o corpo e a exploração do ambiente são de grande valia, pois
auxiliam no fator da direcionalidade, aspecto envolvido no processo de aquisição da leitura
(NOGUEIRA; CARVALHO; PESSANHA, 2007).
Já no que diz respeito à habilidade fonoarticulatória, que envolve a discriminação do
som relacionado à unidade da palavra, destaca-se que este aspecto abrange o trabalho com a
linguagem propriamente dita, mais especificamente com a comunicação e expressão. Desta
forma:
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
27
Por ser a linguagem verbal intimamente dependente da articulação e da respiração,
incluem-se nesta área os exercícios fonoarticulatórios como, por exemplo, fazer
caretas, jogar beijinhos, assoprar apitos e olhos de sogra, fazer bolhas de sabão,
dentre outras. E os respiratórios que podem estar nas atividades de inspirar pelo
nariz e expirar pela boca, inspirar e expirar pela boca, aprender a assuar o nariz
caracterizando-se assim com atividades psicomotoras (AMARAL; BARBOSA, 209,
p. 8).
Em acordo com o referido acima se evidencia ainda que dificuldades no
processamento fonológico acabam por prejudicar o desenvolvimento e consolidação de um
leitor competente, devido à interferência na pronúncia dos fonemas (decodificação), sendo
esta uma das causas mais frequentes nos distúrbios de leitura (SEABRA; DIAS, 2013).
Ademais, destaca-se que “a escrita, além de exigir o desenvolvimento de muitas habilidades,
requer certa mudança de perspectiva em relação a determinadas noções da realidade”
(ZORZI,2007).
2.2 A organização neuropsicológica perante o ato da leitura
Para a compreensão de como o cérebro está organizado para possibilitar a leitura
recorre-se a Cosenza (2011), o qual indica que as atuais e modernas técnicas de pesquisa
estariam dividas em três áreas corticais: lobo frontal (coincidindo com a área de Broca),
junção parieto-temporal (área de Wernicke), e junção occipito-temporal. Destacando que, a
chegada de informação no cérebro passa por um percurso hierárquico, ou seja, pelas áreas
primárias (censores sensoriais e somestésicos) e sequencialmente são encaminhadas para as
áreas secundárias e terciárias - análise e processamento refinado, e reciclagem neuronal
(SCLIAR-CABRAL, 2013).
Scliar-Cabral (2013) relata que a tomada de consciência das informações que chegam
na hora da leitura, começa pelos órgãos dos sentidos visuais, ativando as áreas motoras (fala).
Segundo este autor, na arquitetura cerebral, a aprendizagem da leitura consiste em acessar
(por meio da visão) a forma visual das palavras e relacioná-las com a fala; onde tais
processamentos se dão na região occipito-temporal ventral esquerda, que Scliar Cabral chama
de "caixa das letras do cérebro".
Para Dehaene (2012) o tratamento da escrita começa na retina, mais especificamente
na "fóvea" (região central da retina), esta é a única zona da retina útil para a leitura, somente
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
28
ela consegue captar as letras com detalhes suficientes para o reconhecimento e diferenciação
das mesmas. Sobre a aprendizagem da leitura, o autor afirma: "aprender a ler consiste em
colocar em conexão dois sistemas cerebrais presentes na criança bem pequena: o sistema
visual de reconhecimento das formas e as áreas da linguagem" (DEHAENE, 2012, p. 213).
Envolvendo ainda o tratamento da escrita, são de grande relevância os mecanismos
atencionais, o que implica em compreender que “para um organismo aprender, ele deve ser
capaz de perceber os estímulos ambientais, realizar associações entre esses estímulos e
arquivar informações relevantes” (NABAS; XAVIER, 2004). A atenção irá envolver a
focalização e concentração, ou seja, um tipo de seleção, onde você retrai o foco em certas
coisas para lidar efetivamente com outras (NABAS; XAVIER, 2004).
Outra função neuropsicológica relevante para o tema desse estudo é a memória
operacional, responsável pelo armazenamento temporário da informação; mais
especificamente, a Memória Operacional Fonológica, função que envolve a retenção de
informações sobre a estrutura sonora da fala, dando acesso à representação das informações
fonológicas da linguagem (DEUSCHELE; CECHELLA, 2009). Esta busca pelos valores
sonoros das diferentes letras e padrões silábicos tem relação direta com a memória, tanto
quanto com a capacidade de metacognição, isso porque:
A identificação e manipulação de segmentos articulados na fala encadeada são
alcançadas a partir de atividades metacognitivas realizadas com informações
fonológicas armazenadas na memória de longo prazo que possibilitam, também, a
representação desses sons por meio da escrita (TENORIO; AVILLA, 2009, p. 2).
O processo de aquisição da leitura exige que os traços que distinguem as letras entre
si, bem como os valores sonoros dos grafemas sejam automatizados, e para o tal é necessário
que sejam então memorizados, caso contrário a aquisição da fluência e habilidade leitora não
se efetivará (SCLIAR-CABRAL, 2013).
O reconhecimento dos traços invariantes que compõem o sistema alfabético envolve
uma importante etapa neste processo, para depois partir para os grafemas associados aos
fonemas e assim a distinção dos significados. Em meio à reciclagem neuronal, temos os
neurônios da região occipito-temporal ventral esquerda, que atuam como responsáveis pelo
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
29
reconhecimento dos traços invariantes das letras e suas combinações (DEHAENE, 2012).
Desse modo:
Os neurônios da região occípito-temporal-ventral esquerda reconhecem os traços
invariantes que compõem as letras, cujos valores são os mesmos,
independentemente de seu tamanho, da caixa (MAIÚSCULA ou minúscula), da
fonte e estilo (imprensa, manuscrita, itálico, negrito ou sublinhado, etc.), ou da
posição que ocupam na palavra (SCLIAR-CABRAL cf. DEHAENE, 2007).
Nesta etapa inicial da aprendizagem da leitura, que abrange o reconhecimento dos
traços, é preciso se atentar ao fator intitulado de "dissimetrização". Pois, tratando-se das letras
do alfabeto, pode-se observar que a grande maioria tem formato assimétrico, ou seja, não há
correspondência entre as partes, sendo estas desproporcionais ou não harmoniosas.
Scliar-Cabral (2013) aponta a questão da dissimetrização como uma das grandes
dificuldades da alfabetização, isso porque segundo o autor, descobertas das Neurociências
apontam que existe uma programação nos neurônios que processam as imagens visuais para a
simetria da informação. No entanto, para o reconhecimento das letras, isto é, das diferenças
que as mesmas apresentam, é necessário reciclar os neurônios para que eles aprendam a
distinguir a direção dos traços das letras, isto é, é necessário ensiná-los a dissimetrizar. Scliar-
Cabral (2013) reitera ainda, o fato de que a noção de direita e esquerda depende da
internalização do esquema corporal, fator este primordial para a diferenciação das letras.
3 O MÉTODO FÔNICO SOB A PERSPECTIVA NEUROPSICOLÓGICA
Tratando-se da aprendizagem da leitura, um dos pilares dessa apropriação envolve a
relação fonema-grafema, isto é, a relação entre o valor sonoro e a escrita. Assim, Deuschle e
Cechella (2009) destacam que:
Para que possa ler o aprendiz deve captar as correspondências que existem entre os
sons da linguagem (fonemas) e os símbolos visuais que são usados para representá-
los (grafemas). Esta habilidade é requisitada, principalmente, durante o período da
aprendizagem da leitura, mas também mais tarde, quando o leitor adulto deverá ler
palavras desconhecidas (que não fazem parte do seu léxico) e pseudopalavras (p. 2).
Mas o que acontece no cérebro mediante o processamento da relação grafo-fonêmica?
Existe um modelo de dupla via, onde de imediato são levados os estímulos visuais para o
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
30
córtex cerebral, e depois dessa percepção existem dois caminhos para a decodificação: na
primeira ocorre um tipo de “montagem grafo-fonológica”, isto é, a conversão das letras em
sons, o processamento visual da forma das letras e em seguida sua correspondência grafo-
fonêmica (região frontal e parieto-temporal); na segunda via, existe um reconhecimento
global da palavra, conhecida como área da forma visual da palavra (COZENSA, 2011). Estas
duas vias são denominadas respectivamente: Rota Fonológica e a Rota Lexical.
Capovilla (2005) cita que existe uma estreita relação entre a aquisição de leitura e
escrita e as habilidades metafonológicas, mnemônicas e lexicais. De modo que, esse autor
discute o modelo de desenvolvimento da linguagem escrita de Frith (1990) e Morton (1989),
numa abordagem que destaca que o processo de desenvolvimento de leitura e escrita passa
por três estágios: logográfico, onde a criança trata as palavras como desenhos e não
propriamente como uma escrita alfabética, faz-se um reconhecimento visual global de
palavras vistas com grande frequência (exemplo: coca-cola); alfabético, onde por meio da rota
fonológica, inicia-se o processo de decodificação na transposição de grafemas em fonemas,
aqui as relações entre leitura e fala se fortalecem; ortográfico, pode se observar uma maior
utilização da rota lexical, já que a criança já apreendeu as regras de correspondências entre
grafemas e fonemas e então passa a se concentrar na análise morfológica das palavras,
apresentando uma leitura mais rápida e fluente.
Desta forma, pode-se reiterar a grande relevância da rota fonológica para uma
posterior leitura competente, visto que, Capovilla; Gutshow; Capovilla (2004) afirmam que os
maiores problemas de leitura geralmente não estão relacionados às dificuldades de
compreensão, mas sim envolvem dificuldades de decodificação (CAPOVILLA; GUTSHOW;
CAPOVILLA, 2004). Assim:
Aprender a ler é uma tarefa complexa que exige várias habilidades, entre elas, é
claro, o conhecimento dos símbolos da escrita e a sua correspondência com os sons
da linguagem. Muitas pesquisas têm mostrado, o entanto, que o melhor indicador
para o aprendizado da leitura é a habilidade que a criança tenha de lidar com os
fonemas (COZENSA, 2011, p. 104).
Visto que, quando se exerce repetidamente determinada atividade, ocorre o
automatismo do processo, permitindo que o indivíduo redirecione seu esforço e atenção para
outros elementos, estes de maior complexidade, buscando assim eficiência na execução
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
31
daquela tarefa (BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 2009). Andre e Bufrem (2012, p.9)
também destacam a necessidade do exercício e repetição para a aquisição da leitura:
Quando a criança está no processo inicial de alfabetização formal, é comum ter de
prestar mais atenção às relações entre as letras e os sons, realizando uma
decodificação na leitura. Mas, com a prática, passa a ler e escrever sem ter de pensar
muito nas relações entre as letras e os sons, operando diretamente com a escrita
como uma linguagem.
Esta perspectiva permite que seja discutida a eficácia do Método Fônico, que é
pautado na utilização da Rota Fonológica durante a atividade da leitura, com enfoque
totalmente direcionado para as relações entre as letras e os sons, ou seja: “a escrita exige do
indivíduo um conhecimento fonológico e fonêmico consciente para viabilizar o entendimento
das correspondências entre as classes de sons e os grafemas, permitindo a segmentação da
sílaba, necessária nos sistemas alfabéticos” (MASCARELLO; PEREIRA, 2014, p. 7).
Desta forma, Capovilla, Gutschow e Capovilla (2004) defendem em seus estudos que
pesquisas têm mostrado uma superioridade de métodos pautados na relação fonema-grafema,
denotando-os como de maior eficácia para a alfabetização. Publicado em 2015 na revista
Brain and Language, um estudo da Escola Superior de Educação e do Instituto de
Neurociência Stanford de coautoria do Professor Bruce McCandliss, fornece algumas
evidências de que uma estratégia de ensino específico para a leitura tem um impacto neural
direto. Foi realizado um teste de leitura enquanto as ondas cerebrais eram monitoradas, onde
foi possível perceber que respostas do cérebro muito rápidas para as palavras recém
aprendidas foram influenciados pela forma como foram ensinadas.
Assim, tal estudo em suas conclusões, dá ênfase à importância da base fonética no
ensino da leitura, denotando que leitores que aprendem as relações entre letra e som por meio
do método fônico de ensino têm melhor avanço na leitura do que quando a aprendizagem
ocorre por palavras inteiras (método global). O tema Alfabetização também foi debatido no
ano de 2000 nos Estados Unidos no “National Reading Report Painel” (SOARES, 2004), em
uma pesquisa que se debruçou sobre a análise de cerca de cem mil outros estudos, porém
concentrou-se na amostra de apenas 68 (sessenta e oito) estudos de maior relevância, em que
acabou por concluir que os métodos fônicos são mais eficazes que os globais na alfabetização
(SANTOS, 2011).
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
32
Capovilla; Capovilla (2004) destacam que estes são métodos bem distintos, e que o
Método Fônico se baseia primeiramente no ensino das letras e da correspondência fonética de
cada uma delas, já os métodos globais seguem o conceito de que primeiro se aprende o
significado, se mostra a palavra inteira (contato visual com o todo) para depois numa próxima
fase partir para os símbolos que compõem as palavras. Reiterando que, a consciência
fonológica é a base do processo de leitura e escrita, ou seja, o entendimento e compreensão da
relação fonema-grafema, é fator primordial:
O processo de leitura requer sistemas sensoriais e motores básicos como
componentes ortográficos, fonológicos, semânticos, os quais atuam conjuntamente
para extrair o significado da escrita. A leitura requer um processamento visual da
palavra escrita (decodificação), seguido da compreensão de que estes símbolos
podem ser fragmentados em elementos fonológicos subjacentes e a partir disso,
extrair seu significado (DEUSCHLE; CECHELLA, 2009, p. 3).
A consciência fonológica pode ser compreendida como a habilidade de se refletir
explicitamente sobre a estrutura sonora das palavras faladas, percebendo-as como segmentos
possíveis de serem manipulados. Ou seja, a distinção de significados perante a relação das
letras e grafemas associados aos fonemas. O trabalho com pseudopalavras, por exemplo, é
uma opção que enfoca bastante a questão da internalização dos valores sonoros e sua
apresentação gráfica, a criança é levada a decodificar o que vê (fazer essa transposição do
símbolo para o som), sem possibilidade de “adivinhar” as palavras, já que estas não têm
significados (ZUANETTI; SCHNEK; MANFREDI, 2008).
Dehaene (2012), em uma entrevista à Cientific American, aponta que há evidências de
que a alfabetização pelo método global (que parte da palavra completa) não se adequa com a
maneira como o nosso sistema visual está programado para reconhecer as palavras. Segundo
Capovilla e Capovilla (2004), o processamento cerebral não se vale dos contornos gerais da
palavra; mas sim decompõe todas as letras e grafemas de forma paralela, e em alta velocidade,
dando-nos assim uma ilusão de leitura da palavra toda, quando na realidade o processamento
se faz por partes.
Reitera-se então, a questão dos limites biológicos relacionados à captação pela retina
durante a leitura, na região occipito-temporal ventral esquerda: existe um limite de fixação no
campo visual de não mais que doze caracteres, numa visualização onde os olhos percorrem a
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
33
linha (movimento de sacada) sem nada perceberem (ponto cego). E assim, dadas tais
limitações, torna-se de certo modo impraticável um método de alfabetização que parta do
reconhecimento do todo. Visto que, evidências das Neurociências sobre a arquitetura cerebral
e limites biológicos da captação pela retina mostram que o reconhecimento da palavra não se
dá por configuração (do todo para as partes), como rege o método global analítico (SCLIAR-
CABRAL, 2013). Para tanto:
A essência de aprender a ler está em aprender a fazer a decodificação fonológica a
qual constitui o cerne do conceito de alfabetização. Sendo assim, visualizando a
importância do aprender a ler na alfabetização, bem como tendo claro que não se
trata de algo natural, mas algo que pode ser desenvolvido se observados e
trabalhados alguns requisitos que garantam tal aprendizado é que a alfabetização
requer ser tratada no Brasil com outros olhos, focando para além do que se vivencia,
isto é, buscando fundamentar-se nas evidências existentes, levando em consideração
os avanços da Ciência Cognitiva da Leitura (SANTOS, p. 9).
Seguindo ainda esta perspectiva da organização neuropsicológica perante o ato da
leitura, Dehaene (2012) afirma que a aprendizagem da leitura se dá pela correlação de letras e
sons (como já demonstrado em inúmeras pesquisas), assim ocorrendo numa composição de
formas do menor para o maior, processo este que ocorre no hemisfério esquerdo do cérebro.
Ao utilizar metodologias contrárias, como o método global, a criança irá aprender a partir do
todo e do significado da palavra (processamento no hemisfério direito do cérebro). Contudo,
para que a leitura se efetive, a decodificação (fator crucial) tem que chegar ao hemisfério
esquerdo, deixando assim o processo mais lento, visto que o mesmo está seguindo em via
contrária ao funcionamento do cérebro.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar esta revisão o que se pretendia era compreender as atividades cerebrais
envolvidas no ato da leitura e a relação destas com a utilização do Método Fônico, bem como
os fatores envolvidos neste processo. O estudo também trouxe alguns aspectos psicomotores
que têm estreita relação com a alfabetização, que se desenvolvidos e trabalhados
anteriormente ao início do processo de aprendizagem da leitura, contribuem facilitando e
dispondo maior qualidade na alfabetização.
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
34
Assim, dentre as inúmeras indagações feitas durante esse estudo bibliográfico, uma
das questões elencadas tratou dos indivíduos e suas singularidades e especificidades quando
do processo de aprendizagem. Entretanto, ao falar especificamente da aquisição da leitura, e
com base em fundamentos neuropsicológicos, estudos demonstram que existe um caminho
neurológico (sequência de processamentos) já programado para esta atividade -
processamento botton-up, onde a decodificação ocorre das partes para o todo. O que se leva a
entender, que para alfabetizar uma criança, o método mais proveitoso seria aquele que
considere a predefinição biopsicológica ao qual nosso cérebro está preparado, que em questão
seria o Método Fônico.
Entretanto, reitera-se que a opção por Métodos Fônicos não implica ignorar a
existência e necessidade de processamentos top-down, visto que as salas de aula são tomadas
pela heterogeneidade dos educandos, repletos de diferenças e singularidades, havendo então a
necessidade de uma integração teórica. Ou seja, saber utilizar o que é mais adequado
conforme as adversidades do momento.
Na prática pedagógica a discussão sobre métodos é algo bastante recorrente na
Pedagogia da alfabetização, no entanto, comumente são deixadas de lado as questões
neuropsicológicas envolvidas neste processo – o que realmente ocorre com a criança no
momento da aprendizagem da leitura e escrita (fatores neurológicos).
Desta forma, a presente revisão teve o intuito de contribuir com concepções e
reflexões acerca da relação entre o processamento neuropsicológico e a alfabetização. Assim,
em virtude do que foi mencionado, julga-se de extrema relevância o aumento de publicações
específicas nesse campo, vindo a agregar informações e conhecimentos atualizados referentes
às funções neuropsicológicas envolvidas na aquisição da leitura.
REFERÊNCIAS
AMARAL, Telma Cristian; BARBOSA, Angela Maria. Psicomotricidade e Alfabetização:
as contribuições do movimento na lectoescrita. In: IX CONGRESSO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO – EDUCERE, 2009, Curitiba. p. 7224 – 7236.
ANDRÉ, Tamara Cardoso; BUFREM, Leilah Santiago. O conceito de escrita segundo a
teoria históricocultural e a alfabetização de crianças no primeiro ano do ensino
fundamental. ETD – Educ. Tem. Dig., Campinas, v.14, n.1, p.22-42, jan./jun. 2012 – ISSN:
1676-2592.
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
35
BADDELEY, A.; EYSENCK,M.; ANDERSON, M. Memory. UK: Psychology Press, 2009.
CAPOVILLA et al. Processos logográficos, alfabéticos e lexicais na leitura silenciosa por
surdos e ouvintes. Estudos de Psicologia, v.10(1), 15-23, 2005.
CAPOVILLA, A. G. S., GÜTSCHOW, C. R. D. & CAPOVILLA, F. C. Instrumentos de
avaliação de habilidades cognitivas relacionadas à aquisição de leitura e escrita: análise
de validade e fidedignidade. Em A. G. S. Capovilla (Org.). Avaliação e intervenção em
habilidades metafonológicas e de leitura e escrita. São Paulo, SP: Memnon, 2004.
CAPOVILLA, Alessandra. G. S.; CAPOVILLA, Fernando. Alfabetização: método fônico.
(3a. ed.). São Paulo: Memnon, 2007.
COSENZA M Ramon; GUERRA B. Leonor. Neurociência e Educação: como o cérebro
aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011.
DEHAENE, Stanislas. Os neurônios da leituras. Porto Alegre:Penso, 2012.
DEUSCHLE, Panda Fernanda; CECHELLA, Cláudio. O déficit em consciência fonológica e
sua relação com a dislexia: diagnóstico e intervenção. Rev CEFAC, v.11, Supl2, 194-200,
2009.
LEMLE, Míriam. Guia teórico do alfabetizador. São Paulo: Ática, 2005.
MASCARELLO, Lidiomar J.; PEREIRA, Miriam M. de A. As Neurociências e a leitura:
proposta Scliar de alfabetização. Revista Educação e Cultura Contemporânea, v. 12, n.27,
p. 81-104, 2014.
NABAS, T. R.; XAVIER, G. F. Neurobiologia da atenção visual. In: ANDRADE, V. M.;
SANTOS, F. H.; BUENO, O. F. A. (Org.) Neuropsicologia hoje. São Paulo: Artes Médicas,
2004. p. 101-124.
NOGUEIRA, Liliana Azevedo; CARVALHO, Luzia Alves; PESSANHA, Fernanda C. L. A
Psicomotricidade na prevenção das dificuldades no processo de Alfabetização e
Letramento. PERSPECTIVAS ONLINE, Campos dos Goytacazes, v.1, n.2, p.9-28, 2007.
PEREIRA, Lilian Alves; CALSA, Geiva Carolina. O desenvolvimento psicomotor e sua
contribuição no desempenho em escrita nas séries iniciais. In: CELLI – COLÓQUIO DE
ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS. 3, 2007, Maringá. Anais... Maringá, 2009, p.
1598-1606.
SANTOS, Solange Aparecida. Alfabetização infantil baseada em evidências científicas:
um estudo atual. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso – Licenciatura em Pedagogia.
Universidade Estadual de Maringá, Maringá.
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
36
SANTOS, Vânia M. S. S.; MORETTI, Lucia H. T. Alfabetização: há um melhor caminho
para a aprendizagem? Psicologia.pt. ISSN 1646-6977, 2015. Disponível em:
http://wWw.psicologia.pt/artigos/textos/A0909.pdf
SCLIAR-CABRAL, L. Evidências a favor da reciclagem neuronal para a alfabetização.
Letras de Hoje, v. 45, n. 3,p. 43-47, 2010. Disponível em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fale/ojs/index.php/fale/article/view.
SCLIAR-CABRAL, Leonor. A desmistificação do Método Global. Letras de Hoje, Porto
Alegre, v. 48, n. 1, p. 6-11, jan./mar. 2013.
SEABRA, Alessandra G.; DIAS Natalia M. Reconhecimento de palavras e compreensão de
leitura: dissociação e habilidades linguístico-mnemônicas preditoras. Revista
Neuropsicologia Latinoamericana, São Paulo; vol. 4, n. 1, 43-56. 2012.
SOARES, Magda. Letramento e Alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de
Educação, 2004, n 25. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf
TENÓRIO, Sabrina Mª. P. C. P.; ÁVILLA, Clara R. B. Processamento fonológico e
desempenho escolar nas séries iniciais do ensino fundamental. Revista CEFAC, São Paulo;
vol. 14, núm. 1, p. 30-38, jan-fev, 2012.
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a
pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
ZORZI, Jaime Luiz. O que devemos saber a respeito da linguagem escrita e seus
distúrbios: indo além da clínica. In: Andrade, C. R. F.; Marcondes, E.. (Org.).
Fonoaudiologia em pediatria. São Paulo, 2003, v. 1, p. 120-132.
ZUANETTI, Patricia Aparecida; SCHNECK, Andréa P. C.; MANFREDI, Alessandra K. S.
Consciência fonológica e desempenho escolar. Revista CEFAC, 2008, São Paulo. v.10,n.2,
168-174, abr-jun, 2008.
Revista da UNIFEBE, ISSN 2177-742X, Brusque, v. 1, n. 22, set./dez. 2017.
Você também pode gostar
- Projeto Multidisciplinar - Neurociência e Aprendizagem CognitivaDocumento17 páginasProjeto Multidisciplinar - Neurociência e Aprendizagem CognitivaJaqueline Vanessa Prestes100% (7)
- Gay de Família by Felipe FagundesDocumento71 páginasGay de Família by Felipe FagundesMaria Vitória100% (2)
- Neuropsicopedagogia ClínicaDocumento12 páginasNeuropsicopedagogia ClínicaAna Lúcia Hennemann50% (2)
- Autismo SLIDEDocumento12 páginasAutismo SLIDERodolfo Leite100% (2)
- TESTE DA PSICOGÊNESE - Como TrabalharDocumento8 páginasTESTE DA PSICOGÊNESE - Como TrabalharJuliana Luiza Ribeiro100% (1)
- Psicodiagnóstico V - FichamentoDocumento20 páginasPsicodiagnóstico V - FichamentoGraça Medeiros94% (31)
- PP Final Da WPPSI-RDocumento10 páginasPP Final Da WPPSI-RNatália Lourenço Dos Santos100% (2)
- Neuroscience - Vanessa Tenório - EbookDocumento34 páginasNeuroscience - Vanessa Tenório - EbookIsabelle AlcantaraAinda não há avaliações
- HTPDocumento18 páginasHTPCris Lino100% (1)
- O Que Faz Um NeuropsicopedagogoDocumento8 páginasO Que Faz Um NeuropsicopedagogoAnayme Canton Altmicks (Mima)Ainda não há avaliações
- O Brincar Na Perspectiva Da Neuroaprendizagem: Raquel Barbosa de Oliveira, Raquel de Araújo Bomfim GarciaDocumento4 páginasO Brincar Na Perspectiva Da Neuroaprendizagem: Raquel Barbosa de Oliveira, Raquel de Araújo Bomfim Garcianatalye.limaAinda não há avaliações
- Neuopsicop e AprendizagemDocumento15 páginasNeuopsicop e AprendizagemanselmoAinda não há avaliações
- Contribuições Da Neurociência Na Aprendizagem Da PDFDocumento1 páginaContribuições Da Neurociência Na Aprendizagem Da PDFRafaela LimaAinda não há avaliações
- Trabalho Ev056 MD1 Sa6 Id3757 17082016182854Documento12 páginasTrabalho Ev056 MD1 Sa6 Id3757 17082016182854Alcineia RodriguesAinda não há avaliações
- Nildeapoluceno, Neurociências Aplicadas À Educação Uma Análise MetodológicaDocumento16 páginasNildeapoluceno, Neurociências Aplicadas À Educação Uma Análise MetodológicaTaciany SantosAinda não há avaliações
- Neurociencia e Aprendizado - 29 - 9Documento12 páginasNeurociencia e Aprendizado - 29 - 9Jaque FlorAinda não há avaliações
- Contribuição Das Neurociências para A Aprendizagem EscolarDocumento12 páginasContribuição Das Neurociências para A Aprendizagem EscolarChristiany ColinAinda não há avaliações
- Artigo NeuroDocumento19 páginasArtigo NeuropatriciaAinda não há avaliações
- Experiências da Educação: reflexões e propostas práticas: Volume 6No EverandExperiências da Educação: reflexões e propostas práticas: Volume 6Ainda não há avaliações
- Pre Projeto de TCC - NeuropsiDocumento5 páginasPre Projeto de TCC - NeuropsimariliaAinda não há avaliações
- Processos Do Aprender: As Contribuições Da Neurociência para A Formação de Professores Da Educação InfantilDocumento17 páginasProcessos Do Aprender: As Contribuições Da Neurociência para A Formação de Professores Da Educação Infantiljohnny-walkerAinda não há avaliações
- Trabalho oDocumento4 páginasTrabalho oDores manuelAinda não há avaliações
- Admin, Art 48 EditadoDocumento13 páginasAdmin, Art 48 EditadoG. GomesAinda não há avaliações
- (Esse Aqui) Psicomotricidade e LectoescritaDocumento13 páginas(Esse Aqui) Psicomotricidade e LectoescritaFábio MarquesAinda não há avaliações
- Slide Met. Foni - BrunoDocumento16 páginasSlide Met. Foni - Brunobruno m. b. ferreiraAinda não há avaliações
- Módulo Neurociência e PsicopedagogiaDocumento53 páginasMódulo Neurociência e PsicopedagogiaFabio Costa100% (1)
- 2282 12167 1 PBDocumento15 páginas2282 12167 1 PBMiguel ManoAinda não há avaliações
- Atitude Motivadora de Docentes e A AprendizagemDocumento9 páginasAtitude Motivadora de Docentes e A AprendizagemRoberta De SouzaAinda não há avaliações
- Bases Neuropsicopedagógicas Da AprendizagemDocumento32 páginasBases Neuropsicopedagógicas Da AprendizagemDanielle XavierAinda não há avaliações
- Neuropsicopedagogia ClínicaDocumento12 páginasNeuropsicopedagogia ClínicaAdena Cohav0% (1)
- Apostila Neuropsicopatologia Ok PDFDocumento42 páginasApostila Neuropsicopatologia Ok PDFA&A CópiasAinda não há avaliações
- Artigo 2Documento11 páginasArtigo 2Remedios BarretoAinda não há avaliações
- Projeto Multidiciplinar NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM - FrancineteDocumento16 páginasProjeto Multidiciplinar NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM - FrancineteflaviaguedesdesouzaAinda não há avaliações
- Neuropsicopedagogia ClínicaDocumento9 páginasNeuropsicopedagogia ClínicaCarla AnjosAinda não há avaliações
- 011 - Neuropsicopedagogia-InstitucionalDocumento26 páginas011 - Neuropsicopedagogia-Institucionalvan.pajaro.vcAinda não há avaliações
- Contribuicao Da NeurocienciaDocumento5 páginasContribuicao Da NeurocienciaRodolfo GreenAinda não há avaliações
- Da Urgência Da Práxis Neuropsicopedagógica No Futuro Da Educação - Um Olhar Multifacetado Sobre A (Des) AprendizagemDocumento12 páginasDa Urgência Da Práxis Neuropsicopedagógica No Futuro Da Educação - Um Olhar Multifacetado Sobre A (Des) AprendizagemPaula AlencarAinda não há avaliações
- Como AlfabetizarDocumento25 páginasComo AlfabetizaraaaaAinda não há avaliações
- ESL11092014Documento22 páginasESL11092014Mauricio Ferreira da VeigaAinda não há avaliações
- Dislexia Neurobiologia - Da - AprendizegemDocumento40 páginasDislexia Neurobiologia - Da - Aprendizegemsiribas100% (1)
- TCC A Contribuição Da Neuropsicopedagogia para o Processo de Ensino-AprendizagemDocumento11 páginasTCC A Contribuição Da Neuropsicopedagogia para o Processo de Ensino-AprendizagemAline Paula Salles100% (1)
- Neurociencia Como FerramentaDocumento12 páginasNeurociencia Como FerramentaAntonio Marcos Santos100% (1)
- Neuropsicologia e EducaçãoDocumento11 páginasNeuropsicologia e EducaçãoCarol Melo100% (2)
- Aprendizagem e Cognição Perspectivas NeurocientíficasDocumento6 páginasAprendizagem e Cognição Perspectivas Neurocientíficaseduarda.lqAinda não há avaliações
- NeuroDocumento22 páginasNeuroCristina Andrade100% (1)
- Stimulação Do Desenvolvimento de Competências Funcionais Hemisféricas em Escolares Com Dificuldades de Atenção Uma Perspectiva NeuropsicopedagógicaDocumento12 páginasStimulação Do Desenvolvimento de Competências Funcionais Hemisféricas em Escolares Com Dificuldades de Atenção Uma Perspectiva NeuropsicopedagógicaAmanda MoraesAinda não há avaliações
- Ozana Das Graças Paccola Blanco, Paulo Farah Navajas: Neuroscience and The Five Senses in EducationDocumento8 páginasOzana Das Graças Paccola Blanco, Paulo Farah Navajas: Neuroscience and The Five Senses in EducationSarah Morais100% (1)
- Neuroplasticidade Neurociencias EducacaoDocumento12 páginasNeuroplasticidade Neurociencias EducacaoPsiquiatria TranslacionalAinda não há avaliações
- Percurso NeuropsicopedagógicoDocumento11 páginasPercurso NeuropsicopedagógicoZilcleia AlvesAinda não há avaliações
- Neurocincia Cognitiva e Metodologias AtivasDocumento16 páginasNeurocincia Cognitiva e Metodologias AtivasEsdras Antunes100% (2)
- A Neuropsicopedagogia e o Processo de Aprendizagem - Cleussi Schneider-11-36Documento34 páginasA Neuropsicopedagogia e o Processo de Aprendizagem - Cleussi Schneider-11-36Luis Filipe Sousa Pereira100% (1)
- Artigo Pós Neuroeducação e Primeira Infancia Anna Carolina Silva Franklin AzevedoDocumento8 páginasArtigo Pós Neuroeducação e Primeira Infancia Anna Carolina Silva Franklin AzevedoCarol AzevedoAinda não há avaliações
- Contrubuições Da Neuroeducação para As Preticas Pedagogicas PDFDocumento11 páginasContrubuições Da Neuroeducação para As Preticas Pedagogicas PDFJussara Heck VidalAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento15 páginas1 PBDébora Alves dos SantosAinda não há avaliações
- Aspectos Cognitivos Ensino Da Leitura PDFDocumento17 páginasAspectos Cognitivos Ensino Da Leitura PDFDanielle Baretta100% (1)
- 2521 9702 1 PB PDFDocumento29 páginas2521 9702 1 PB PDFLi Lilian100% (1)
- Revista Teia - Claudio Artigo NeuropsicopedagogiaDocumento14 páginasRevista Teia - Claudio Artigo NeuropsicopedagogiaClaudio OliveiraAinda não há avaliações
- A Neurociência e A Prática Pedagógica Do Psicopedagogo e Neuropsicopedagogo Na Inclusão Do Aluno Com Altas HabilidadesDocumento7 páginasA Neurociência e A Prática Pedagógica Do Psicopedagogo e Neuropsicopedagogo Na Inclusão Do Aluno Com Altas HabilidadesMaria Nancy Nunes de MatosAinda não há avaliações
- 01 - A Contribuição Da Neurociência Na Prática Do NeuropsicopedagogoDocumento7 páginas01 - A Contribuição Da Neurociência Na Prática Do NeuropsicopedagogobergsonmarquesAinda não há avaliações
- Neurolinguística Neuroc. CognitivaDocumento2 páginasNeurolinguística Neuroc. CognitivaMagaly MagaAinda não há avaliações
- Dias Et Al - Diretrizes para A Formação de Professores No Trabalho Com A Leitura Dos PCN À BNCCDocumento22 páginasDias Et Al - Diretrizes para A Formação de Professores No Trabalho Com A Leitura Dos PCN À BNCCtemontessAinda não há avaliações
- Psicomotricidade No Contexto Da PDFDocumento9 páginasPsicomotricidade No Contexto Da PDFAngélicaG.GarridoGomesAinda não há avaliações
- Artigo-Alfabetização e Letramento Na Perspectiva Da NeurocienciaDocumento12 páginasArtigo-Alfabetização e Letramento Na Perspectiva Da Neurocienciahttps emo.comAinda não há avaliações
- Neurociência e educação: Diálogos possíveisNo EverandNeurociência e educação: Diálogos possíveisNota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- Aprendizagem da leitura e da escrita: Contribuições de pesquisasNo EverandAprendizagem da leitura e da escrita: Contribuições de pesquisasAinda não há avaliações
- Regulamento Do Programa de Recompensas Sempre Presente: 1. Disposições GeraisDocumento2 páginasRegulamento Do Programa de Recompensas Sempre Presente: 1. Disposições GeraisRaphael Araujo da SilvaAinda não há avaliações
- DownloadDocumento6 páginasDownloadRaphael Araujo da SilvaAinda não há avaliações
- 3515-Texto Do Artigo-9545-1-10-20200507Documento12 páginas3515-Texto Do Artigo-9545-1-10-20200507Raphael Araujo da SilvaAinda não há avaliações
- Admin,+13+Artigo+ +Efetividade+Do+Exercício+ +adoniviaDocumento7 páginasAdmin,+13+Artigo+ +Efetividade+Do+Exercício+ +adoniviaRaphael Araujo da SilvaAinda não há avaliações
- Curso de Gestalt-Terapia - Módulo IDocumento37 páginasCurso de Gestalt-Terapia - Módulo IggenildoAinda não há avaliações
- A Concepção de Homem Na Filosofia ExistencialDocumento7 páginasA Concepção de Homem Na Filosofia ExistencialRaphael Araujo da SilvaAinda não há avaliações
- Lobisomem O Apocalipse - FetichesDocumento7 páginasLobisomem O Apocalipse - FetichesRaphael Araujo da Silva100% (2)
- TFG Hospital Da CrançaDocumento33 páginasTFG Hospital Da Crançayuri100% (1)
- Wallon AulapsicologiaDocumento19 páginasWallon AulapsicologiaCralex27Ainda não há avaliações
- ALIMENTAÇÃO InfantilDocumento3 páginasALIMENTAÇÃO InfantilDaniela SBAinda não há avaliações
- Anais Escolares de Ernesta NunesDocumento435 páginasAnais Escolares de Ernesta NunesAnselmo Rodriguez100% (1)
- Programa Assertividade CriançasDocumento121 páginasPrograma Assertividade CriançasAbetter SecondLife100% (1)
- Projeto de Conscientização Turística Nas Escolas PDFDocumento17 páginasProjeto de Conscientização Turística Nas Escolas PDFAntonio SantosAinda não há avaliações
- Autoestima em AltaDocumento23 páginasAutoestima em AltaColetivo CanindéAinda não há avaliações
- Matriz Planejamento Trabalho PósDocumento3 páginasMatriz Planejamento Trabalho PósHannah EntringerAinda não há avaliações
- Tesedavidlevisky 1Documento409 páginasTesedavidlevisky 1Rafa CastiAinda não há avaliações
- ANA PAULA - Uma Vida em Arte Precocemente InterrompidaDocumento174 páginasANA PAULA - Uma Vida em Arte Precocemente InterrompidamaiharafofaAinda não há avaliações
- Slides de Aula - Unidade IDocumento76 páginasSlides de Aula - Unidade IDaniela Conceição LottermannAinda não há avaliações
- O PAPEL DO EDUCADOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL Trabalho de FilosofiaDocumento4 páginasO PAPEL DO EDUCADOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL Trabalho de FilosofiaKarlene QueirozAinda não há avaliações
- Sobre o Sistema Montessori - Os Periodos Sensiveis - As Tendencias Humanas M Elizabeth Gastal FassaDocumento16 páginasSobre o Sistema Montessori - Os Periodos Sensiveis - As Tendencias Humanas M Elizabeth Gastal FassaeducadoraevelynsousaAinda não há avaliações
- Guia de Atividades de Arte 23Documento16 páginasGuia de Atividades de Arte 23ElzaAinda não há avaliações
- Emilia Ferreiro - ''O Momento Atual É Interessante Porque Põe A Escola em Crise'' - Língua Portuguesa - Nova EscolaDocumento3 páginasEmilia Ferreiro - ''O Momento Atual É Interessante Porque Põe A Escola em Crise'' - Língua Portuguesa - Nova EscolaMaluSV56Ainda não há avaliações
- Curso Aleitamento MaternoDocumento83 páginasCurso Aleitamento MaternoJoyce FernandesAinda não há avaliações
- A Prática Do Terapeuta Analítico Comportamental e o Trabalho Com Desenvolvimento AtípicoDocumento5 páginasA Prática Do Terapeuta Analítico Comportamental e o Trabalho Com Desenvolvimento AtípicoEsequias CaetanoAinda não há avaliações
- Como Contar HistóriasDocumento2 páginasComo Contar HistóriasLucila Bonina Teixeira SimõesAinda não há avaliações
- Aula 01 - Teorias de Desenvolvimento PDFDocumento4 páginasAula 01 - Teorias de Desenvolvimento PDFDaniela RibeiroAinda não há avaliações
- (Calameo) Catalogo Literatura Infantil Anos IniciaisDocumento248 páginas(Calameo) Catalogo Literatura Infantil Anos IniciaisVictor HugoAinda não há avaliações
- Firmezas Na UmbandaDocumento7 páginasFirmezas Na UmbandaAndré Angellis100% (6)
- SINAN Ficha InstrucoesDocumento45 páginasSINAN Ficha InstrucoesRafaela RochaAinda não há avaliações
- Alan Moore - Como Escrever Estórias em QuadrinhosDocumento35 páginasAlan Moore - Como Escrever Estórias em Quadrinhosapi-3801499100% (4)
- Importancia Da ArteDocumento2 páginasImportancia Da ArteAmanda CintraAinda não há avaliações