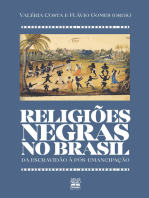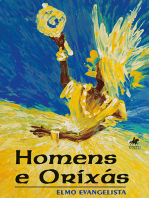Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mulheres Indigenas PDF
Enviado por
Tenner Inauhiny AbreuDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mulheres Indigenas PDF
Enviado por
Tenner Inauhiny AbreuDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mulheres indígenas, igreja e escravidão na América Portuguesa
Janira Sodré Miranda
Introdução:
Investigar as mulheres no ambiente escravocrata conduz à percepção de que
sua situação era o resultado da confluência de muitos fatores, que se cristalizavam para
assinalar-lhes uma determinada posição na sociedade colonial da América Portuguesa.
Os espaços ocupados pelas mulheres indígenas na América Portuguesa tinham
relação com sua posição na estrutura tribal dos diferentes grupos indígenas do litoral
brasileiro, pertencentes todos praticamente ao grande tronco Tupi-Guarni. Assim como as
posições ocupadas por mulheres de origem européia ligavam-se aos espaços sociais tidos
como femininos em Portugal. Também haverá marcas das sociedades africanas - de tipo
sudanês e banto de onde saiu o grosso do tráfico negreiro - na presença das mulheres negras
na colônia.
Essas heranças anteriores foram, porém cruzadas e reorganizadas no quadro de
uma sociedade patriarcal, organizada sob o padrão misógino europeu, em que os homens
brancos detinham posição de força.
O caráter colonial da presença portuguesa no Brasil do século XVI se impõe de
modo particular sobre as mulheres, sobretudo a indígena a mais afetada de todas, neste início
– condicionando também as mulheres africanas e as portuguesas.
Acrescente-se a isto o avassalador caráter escravista que adquire esta sociedade
desde o momento em que se decidiu o seu povoamento e exploração efetivos, por volta de
1530, para completar o quadro em que irá se desenhar a participação das mulheres nesta
sociedade.
As mulheres indígenas irão até os homens pelos caminhos da escravização e
isto deixará profundas marcas no relacionamento entre homens e mulheres e na posição destas
dentro da sociedade.
É sob a luz desta tríplice dimensão: colonial, escravista e de gênero, que
iremos analisar a presença das mulheres na América Portuguesa. A Igreja articula-se, neste
contexto, como a instituição que detém um quase monopólio ideológico e um efetivo
monopólio religioso na organização desta nova sociedade que se pretende portuguesa e cristã
ao mesmo tempo.
Ela esforça-se por regulamentar a vida das pessoas pela orientação ética, pela
catequese, pela educação cristã, pelo ritmo semanal recortado pelo domingo e pelo calendário
anual marcado pelo ciclo litúrgico do Advento, Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa,
Pentecostes e pelo ciclo santorial das festas dos padroeiros, dos diferentes apóstolos, mártires,
confessores, virgens e doutores e – sobretudo – pelas de Nossa Senhora.
A Igreja faz-se ainda presente no cotidiano das pessoas, com o batismo, a
crisma, a eucaristia, o casamento, a extrema unção, os funerais, a penitência e os demais
gestos que acompanham os momentos-chave da vida, do nascimento à constituição da família,
da reconciliação à morte, da reza doméstica às celebrações comunitárias.
E, por último, mas não menos importante, a Igreja exerce severa vigilância e
controle através da observância doutrinal e de costumes pela confissão, pelo sermão e pelas
devassas da inquisição.
Sua ação em relação às mulheres se faz particularmente ativa em todo o campo
da organização da família nas condições dadas na sociedade colonial. A Igreja irá desdobrar-
se em iniciativas e medidas para assegurar o estabelecimento da sociedade familiar nos
moldes vigentes na organização familiar patriarcal européia. Sem grande sucesso, é preciso
reconhecer. Como tem sido sobejamente demonstrado na historiografia mais recente da
sociedade colonial ( Araújo, 1997).
Uma palavra ainda deve ser dita a respeito das fontes utilizadas. Elas provêm,
em sua maior parte, de documentos jesuíticos, capuchinhos e franciscanos, além de relatos,
crônicas, leis e correspondência oficial, sobretudo para os século XVI e XVII no que tange às
mulheres indígenas.
Para a escravidão negra há sermões, estudos, recenseamentos pastorais e a
legislação civil e eclesiástica que se estende até 1888, ano da abolição da escravatura. Para os
dois primeiros séculos toda esta literatura consultada é exclusivamente produzida por homens.
E não apenas isto, pois quem informa é o homem na posição de colonizador e, para as fontes
eclesiásticas, o homem investido da condição de religioso ou de sacerdote e por tanto
celibatário, pelo menos em princípio.
Nesta literatura missionária, as mulheres são representadas como símbolos de
perigo e ameaça à castidade do religioso. Tudo isto marca os limites e as lacunas do tipo de
fone disponível para o nosso tema. Nosso estudo se circunscreverá às mulheres indígenas, e
só incidentemente, trataremos da mulher branca e livre dentro do contexto colonial brasileiro.
1.As mulheres indígenas em uma sociedade escravocrata
1.1 A s mulheres indígenas na representação do europeu
Há um relato interessante do primeiro contato entre os portugueses e a
população da costa do Brasil, na carta que escreveu Pero Vaz de Caminha, o escrivão da
armada de Cabral, ao Rei de Portugal, dando-lhe notícia da “achada desta vossa terra”.
(Lisboa, 1976: 284).
O contato visual que se estabelece entre as naus que se aproximam e os batéis
lançados em direção à terra é com “homens que discorriam pela praia”, sendo a atenção
atraída pela diferença de cor e ausência de vestuário: “(...) quando o batel chegou à boca do
rio, já eram ali dezoito ou vinte homens pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse
suas vergonhas”. ( Lisboa, 1976: 285).
A admiração nasce não apenas da observação da nudez, mas da naturalidade
com que passeiam os seus corpos diante do olhar alheio: “A feição deles é serem pardos,
tirando a vermelhos, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Andam nus sem nenhuma
cobertura, pouco se lhes dá de cobrir ou deixar à mostra suas vergonhas; e acerca disto vivem
em tanta inocência como em mostrar o rosto” (Lisboa, 1976: 286).
Só ao terceiro dia aparecem as primeiras mulheres: “Também andavam no
maio deles três ou quatro moças de gentil parecer, com cabelos muito pretos que lhes
flutuavam pelas espáduas” ( Lisboa, 1976: 287).
No dia em que celebraram solene missa na praia assistida por mais de 160
indígenas, apenas uma mulher estava presente:
“Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais do que uma mulher moça,
veio mais do que uma mulher moça, que assistiu à missa toda. Deram-lhe um pano com que
se cobrisse, e puseram-lhe derredor do corpo, porém ela ao sentar-se não fazia memória de o
muito estender para cobrir-se; assim senhor, que a inocência desta gente é tal que a de Adão
não seria mais, quanto à vergonha”(Lisboa, 1976: 294).
É interessante notar que dentre os 160 indígenas desnudos, a preocupação é cobrir a
única mulher presente. Esta preocupação pela nudez feminina perpassa todos os textos para o
período colonial, sejam eles de cunho eclesiástico ou puramente civil, com se vê no Diretório
Pombalino de 1757: o artigo 15º ordena que se desterre de entre as populações indígenas da
Amazônia a desnudez, “... não consentindo de modo algum, que andem nus, especialmente as
mulheres, com escândalo da razão e horror da mesma honestidade” ( Beozzo, 1983: 136).
O olhar masculino, europeu pousado sobre o corpo desnudo das mulheres indígenas
estará eivado de conceitos culturais centrados no controle e ocultamento do corpo,
considerado como ocasião de pecado, de modo particular os corpos das mulheres.
Sobre a presença das mulheres entre os grupos que estiveram em contato mais direto
com os portugueses, assinalam os cronistas a divisão do trabalho por sexo, cabendo à mulher
o trabalho agrícola, depois de realizada a derrubada do mato pelo homem ( Salvador, 1975:
81).
A poligamia chamou a atenção, mas o europeu registra apenas a masculina,
objeta que percebia proibição na poligamia feminina (d’Abeville, 1975: 222). Assim como o
conceito de incesto, bastante amplo na sociedade européia, levará os missionários a
registrarem os graus parentais que eram aceitos para casamento entre os povos indígenas
(Salvador, 1975: 82).
Os mecanismos de ordenamento cultural das sociedades indígenas são
anotados com bastante interesse pelo europeu que descreve o casamento e sua ruptura
(d’Abeville, 1975: 223); a presença das mulheres na divisão sexual do trabalho, a elas
cabendo o trabalho agrícola, os adornos, a educação das meninas( Salvador, 1975: 82); o
resguardo masculino pós parto (Salvador, 1975, 81); o afeto das mães por seus filhos
(d’Abeville, 197 224).
As mulheres que arcavam na sociedade indígena com boa parte do trabalho,
tinham ainda função importante no preparo das festas rituais, a começar do cauim, fabricado
tanto da mandioca como do milho que deviam mascar, antes de cozê-lo em grandes potes.
O cuidado dos prisioneiros, a serem eventualmente mortos na festa, ficava por
conta das mulheres. O intuito da entrega de uma mulher ao prisioneiro, normalmente a mais
formosa que há na casa, é para que tenha o cuidado de “o regalar e lhe dar de comer até que
engorde e esteja pronto para o poderem comer” (Salvador, 1975: 86).Não era raro afeiçoar-se
a moça prisioneira ou mesmo ter um filho deste:
“E é tão cruel este gentio com os seus cativos que não só os matam a eles, mas,
se acontece a algum haver filho da moça que lhe deram por mulher, a obrigam que o entregue
a um parente mais chegado, para que o mate quase com as mesmas cerimônias, e a mãe é a
primeira que lhe come da carne; posto que algumas, pelo amor que lhes têm, os escondem, e
às vezes soltam também os presos e se vão com eles, pera suas terras ou pera outras”
(d’Abeville, 1975: 87).
O tema da crueldade antropofágica das mulheres indígenas irá marcar os
escritos europeus como ápice do olhar enviesado sobre os povos ameríndios e,
particularmente, sobre as mulheres indígenas ( Raminelli, 1997).
Dentre os costumes indígenas alguns serão sistematicamente combatidos pelos
missionários, três deles foram considerados particularmente graves: a nudez, a poligamia e a
antropofagia.
Os três diziam respeito tanto ao homem como à mulher, pois faziam parte da
sociedade indígena como um todo. Os dois primeiros adquiriam especial conotação no caso
da mulher, como já vimos no caso da nudez, onde se problematizava particularmente a nudez
feminina.
Também o combate à poligamia atingia de modo particular a mulher. Embora
fosse o homem quem oferecesse maior resistência em deixar suas muitas mulheres para poder
receber o batismo, pouco se cuidava da situação em eu ficava relegada a mulher, por vezes
carregada de filhos, eventualmente de mais idade e que perdia assim seu marido, obrigado a
uma escolha penosa e fora das tradições de sua cultura e sociedade. A ele, entretanto, era dada
uma escolha ainda que dolorosa e penosa, à mulher, não.
Um último costume indígena pareceu particularmente desconcertante aos
europeus e sobretudo aos missionários: o ritual da hospitalidade indígena. Este costume
mereceu o título com que Charles Wagley estuda o mundo dos Tapirapé, do norte do Mato
Grosso: “Welcome of tears”, “Boas-vindas de lágrimas”.
A acolhida ao hóspede e ao estrangeiro é toda ela um ritual feminino, no qual
os anfitriões choram como sinal de cortesia para com os hóspedes. Quanto ao visitante,
“cabe-lhe fazer o mesmo por cortesia, isto é, pôr as mãos sobre o rosto e chorar, ou pelo
menos fingir” (d’Abeville, 1975: 227). A esta acolhida com o oferecimento da rede e da
comida, pode seguir-se a oferta de uma mulher para ficar com o hóspede, do mesmo modo
que é oferecida ao prisioneiro de guerra.
A Nóbrega e Anchieta, na sua jornada em Iperoig para a pacificação dos
Tamoio, foram-lhes oferecidas mulheres na aldeia de Principal Pindobuçu, que os abrigava
(Vasconcelos, 1977: 89)
Japi-Açu, o chefe Tupinambá que recebe os franceses no Maranhão,
respondendo ao discurso que lhe dirigiu o Pe. Yves d’Évreux, responsável pela missão
capuchinha, exprime-lhe sua estranheza pelo modo de agir dos missionários ao rejeitarem as
mulheres a eles oferecidas ( d’Abeville, 1975, 63)
A oferta das mulheres fazia parte, no mundo indígena, de uma estratégia de
alianças. Em vez de dar a mulher, na realidade a família e a tribo conquistavam mais um
membro masculino, pois é o homem que passa a residir na casa do pai de sua mulher,
passando a servi-la com os frutos da caça e da pesca e também ao sogro e à sua parentela.
Este sentido mais profundo escapava ao missionário que via aí apenas uma
questão de falta de moral, de ofensa ao pudor: “Aliás é coisa muito desonesta prostituirdes
assim vossas filhas e elas se entregarem a qualquer um como fazem” ( d’Abeville, 1975: 64).
A dimensão ética de uma sociedade baseada na reciprocidade de bens, de dons e de entrega de
si , como se caracterizavam as sociedades indígenas, escapava aos europeus.
1.2. As mulheres indígenas na colônia
Na carta de doação das capitanias hereditárias, recebiam os donatários uma
série de privilégios entre os quais avultava o de cativar gentios para o seu serviço e o de seus
navios e ainda mandar vendê-los em Lisboa (Varnhagen, 7 ed.: 151) Na realidade, o plantio
de cana requeria um duplo movimento, o de ocupação da terra, expulsando os grupos
indígenas aí presentes e a escravização em larga escala da mão-de-obra, trazendo de volta os
índios para os trabalhos das roças de mantimento, do plantio da cana e da fabricação do
açúcar nos engenhos.
Isto colocava as aldeias indígenas em contínuo sobressalto, em continuada
guerra ou retirada para o sertão distante, disputando rios e territórios a outros grupos. A
escravização indiscriminada provoca a desorganização da economia indígena, de sua vida
social e política além de extrema mortandade.
Uma inversão quanto aos papéis tradicionalmente executados se opera quando
os homens são lançados no trabalho agrícola, tarefa social das mulheres e estas são desviadas
para o serviço doméstico nas casas dos colonizadores, tornando-se suas escravas e sendo
submetidas aos seus caprichos sexuais.
1.3. Índia, escrava e mãe dos filhos do senhor
A política de invasão de terras e de escravização forçada suscitou crescente e
desesperada oposição das tribos do litoral colocando os portugueses na defensiva a tal ponto
de Luís de Góis escrever em 1548 a El-Rei, pedindo que viesse em socorro da capitania,
“tendo piedade das muitas almas cristãs que só nesta Capitania (de são Vicente) entre homens,
mulheres e meninos, havia mais de 600 almas e de escravaria, mais de 3.000, seis engenhos e
muitas fazendas” ( Camargo, 1952, tomo 1: 55)
Não deixa de ser significativo que 14 anos depois de instaladas as capitanias
hereditárias e de criados os primeiros engenhos de açúcar no litoral vicentino a escravaria era
do gentio da terra.
Parte integrante da violência da escravidão era voltada diretamente para as
mulheres. Basta o exemplo da expedição colonizadora de Martim. Afonso que trouxe 300
homens, mas não mulheres.
Como colonizar e povoar sem mulheres? Disto resulta a caça às mulheres
indígenas, arrancadas à força de suas aldeias, de seus maridos e filhos para o mundo do
colono europeu, dando início à população mameluca que tanto marcou os primórdios da
colônia vicentina, da vila de santo André da Borda do campo e, depois, da aldeia de São Paulo
de Piratininga.
Um quadro dessa nova situação das mulheres indígenas transferidas para a
esfera do projeto colonial, como escrava doméstica, como companheira forçada e reprodutora,
surge em todos os documentos.
Na Carta de Pero Borges a D. João III, de 7 de fevereiro de 1550, diz ele: “Há
nesta terra casados lá no Reino, quais há muitos dias que andam cá, e não granjeiam – muitos
deles ou os mais fazendas, se não, estão emancebados com um par ao menos, cada de gentias.
Fazem pior vida que os mesmos gentios.” ( Mendonça, 1972: 55).
Se na situação anterior das mulheres indígenas, muitos de seus costumes eram
combatidos pelos missionários, na nova situação será combatida menos sua situação de
escrava do que o regime de mancebia em que viviam com elas os colonos portugueses.
As cartas dos primeiros jesuítas estão povoadas de referências ao duplo mal que corroía a
sociedade colonial: de um lado os “cativeiros injustos” e de outro a situação de mancebia em
que viviam os colonos.
2. As mulheres indígenas e a reprodução da vida
Na sociedade colonial elas ingressam o mais das vezes já sob o signo da
escravização e como reprodutora forçada da ordem colonial pois não ascendem ao estado de
esposas, e seus filhos não vão engrossar as fileiras do seu povo e sim o partido do pai.
Os mamelucos, filhos de portugueses com índias, foram os instrumentos
maiores da opressão que se abate a partir de São Paulo sobre os povos indígenas do Guairá,
do Italin e do Tape, onde se agrupava o grosso das missões jesuíticas junto aos Guarani.
Conhecimentos do mundo indígena, pela herança materna, manejando a língua
e sabedores dos costumes, mas ao mesmo tempo aliados da dominação portuguesa, eles
representam uma temível arma na resistência que podem opor os povos indígenas ao avanço
de entradas e bandeiras e à dominação portuguesa.
Para as índias amancebadas, duas ou mais em cada casa de portugueses, armam
os jesuítas sua estratégia de moralização. Começam pela denúncia, inclusive pública, do
escândalo. Negam a absolvição sacramental aos que assim viviam, afrontando inclusive a
posição de outros clérigos coniventes com a situação, ou vivendo em condições semelhantes.
Passam em seguida para medidas práticas como podemos ver da abundância sobre o assunto.
As medidas práticas constituem em que viessem honrados, já casados,
acompanhados de suas famílias; que se devolvessem a Portugal os homens casados cujas
esposas lá estavam e que se haviam amancebado, ou então que se lhes fizesse vir as esposas;
que se mandassem órfãs e outras mulheres para os homens daqui e finalmente que se tentasse
o casamento destes homens com as índias com as quais já conviviam.
Todas as outras medidas, exceto a última, tinham alcance limitado na situação
vigente no Brasil, onde a maioria havia constituído familiares, de fato senão de direito, com
mulheres indígenas forras ou escravas.
Contra esta solução levantavam-se vários obstáculos; os homens viviam com
mais de uma mulher casa adentro e, mesmo tendo filhos, consideravam infamante casar-se
com uma mulher indígena, ainda mais se fosse escrava. Trataremos, no final, do empecilho
maior que nascia da estrutura escravista da sociedade.
O concubinato de homens braços com mulheres indígenas está sobejamente
documentado ( Leite, 1975, tomo 1: 438), homens pobres que não tinham outra saída acabam
casando com as mulheres índias, mas outros se recusavam considerando isto infâmia: “Os
mais aqui tinhão índias de muyto tempo, de que tinhão por grande infâmia casarem com ellas”
( Leite, 1975: 285).
Aliás, esta idéia de infâmia do sangue estava de tal modo arraigada nos
costumes e mesmo na legislação, inabilitando as pessoas para cargos e carreiras civis e
eclesiásticas, que só quando a política da Metrópole se tornou francamente incorporadora do
espaço amazônico, é que ela abriu mão desta preservação da pureza racial, incentivando então
a mestiçagem na bacia amazônica.
A nova política aparece política aparece no alvará Pombalino de 4 de abril de
1755: “Em ordem a promover os casamentos e aliança entre brancos e índios, há el-rei por
bem que os vassalos naturais da Europa ou da América, que os contraiam, não fiquem por isso
com infâmia alguma, antes muito hábeis para os cargos lugares onde residirem...” (Lisboa,
1976: 536).
O diretório Pombalino para as povoações de índios do Maranhão e Pará de
1757, dedica toda sua última parte à política de povoamento e miscigenação (do número 87 a
91), ordenando aos Diretores de aldeias indígenas que por todos os meios ao seu alcance
promovam o casamento entre índios e brancos ( Beozzo, 1983: 166).
A decantada miscigenação racial da colonização portuguesa deu-se, na prática,
quando não havia outro remédio, os homens ajuntando-se então com mulheres indígenas, na
falta de mulheres portuguesas, mas recusando-se a casar-se com as mesmas. Deu-se ainda
quando razões de Estado impediam os governantes a incentivar a destribalização dos grupos
indígenas forçando uma política de aportuguesamento da população.
Basta aduzir um exemplo para se verificar os limites bem claros do apregoado
liberalismo de Pombal e a punição violenta do Estado quando o casamento se dá, não entre o
branco e uma índia, mas entre um índio e uma negra:
“O Vice-rei do Brasil manda dar baixa do posto de capitão-mór a um índio
porque, sem atenção às distintas mercês com que pelo alvará antecedente el-rei os havia
honrado, se mostrara de tão baixos sentimentos que casou com uma preta, manchando (sic)
seu sangue com esta aliança e tornando-se indigno de exercer o referido posto” ( Lisboa,
1976: 536).
2.1. Mulheres, escravidão e casamento.
Mas a grande questão de todo o problema matrimonial no Brasil ligava-se, em
última instância, ao caráter escravista da sociedade. Estando todo o sistema produtivo
assentado sobre a escravidão, os seus efeitos se espraiavam para as outras esferas da
sociedade, invadindo as relações familiares, a vida religiosa, as ordenações jurídicas no
campo civil e eclesiástico.
O problema aflora claramente nas objeções que levantam os homens
amancebados para se casarem com suas índias, escravas e concubinas ao mesmo tempo. Além
do pretexto de infâmia, a real razão residia noutro lugar, como confessavam abertamente aos
missionários; temendo que ao casarem-se com suas escravas, estas se tornassem forras e livres
( Leite, 1975: 293).
De fato, escrevendo ao Rei, vai Nóbrega irá pedir que passe provisão
esclarecendo que o casamento da escrava com o senhor ou dos escravos entre si, não desfaz o
jugo da escravidão (Leite, 1975: 293)
Em última instância a presença da mulher na América Portuguesa está
condicionada pelo caráter colonial de sua sociedade, profundamente marcada pela
mentalidade escravista, mas também marcada pela crônica escassez de mulheres brancas.
O que é intocável neste mundo é a escravidão, cujo laço não deve desmanchar-
se nem ao nível das relações mais intimas que presidem o encontro entre o homem e a mulher
na entrega amorosa. Mantendo a esposa na condição de escrava, o marido faz dela apenas a
doméstica para cuidar da casa, para cozinhar, lavar-lhe a roupa e satisfazê-lo sexualmente.
O receio que tinham os senhores de que casando-se com suas escravas estas
ficassem automaticamente livres, provinha de uma intuição certa de que verdadeiras relações
de esposo para esposa não podiam conviver com a assimetria, a despersonificação e a
subordinação implicadas na escravidão.
Estavam eles preocupados em estabelecer formalmente um casamento religioso
que salvaguardasse a moralidade dos costumes, mas inteiramente esvaziado de outros
conteúdos ensinados pela igreja em torno do sacramento. O matrimônio cristão, instituindo a
aliança entre os cônjuges e mantendo ao mesmo tempo a escravidão só podia ser uma
contrafação da doutrina crista sobre o sacramento.
De outro lado, os homens que tinham a intuição de que o casamento não podia
ir de par com a manutenção da companheira na escravidão, estimavam melhor a propriedade
da escrava do que a conquista de uma esposa.
Neste sentido a escravidão corrompe não o escravo, esvaziado de sua
humanidade e dos seus direitos de pessoa, mas corrompe igualmente a humanidade do senhor
incapaz já de seguir os ditames da razão e do afeto.
Vale para aqui a fina observação de Gaspar Barléu, cronista da ocupação
holandesa no Brasil, ao comentar as funções da religião para a empresa colonial: “Para
firmarmos o poder, sem dúvida, valemo-nos também das opiniões religiosas. Cada qual toma
a que escolheu como instrumento idôneo para procurar a segurança em beneficio não só da
salvação dos homens, mas também da dominação” (Barléu, 1974: 71).
Ficavam ainda para os jesuítas duas outras preocupações: o que fazer das
muitas mulheres índias que deviam as casas de seus amos ao legitimarem estes suas uniões
com uma única delas e como regularizar as situações matrimoniais dos escravos indígenas em
mãos de cristãos?
Para o primeiro problema, a saída foi organizar uma casa para recolher as
mulheres: “Damos ordem a que se faça huma casa pera recolher todas as moças e molheres do
gentio da terra que dá muitos anos que vivem entre os chrstaos, e sam christãs e tem filhos dos
homeins branquos;” ( Leite, 1975: 292)
Para Nóbrega, estas mulheres deste primeiro Recolhimento de Olinda
colocados sob a direção de Maria Rosa, uma índia forra, deviam levar adiante um trabalho de
missão e catequese ( Leite, 1975: 286-287).
Assim pois no Brasil, o primeiro recolhimento de mulheres, semente para a
vida religiosa feminina no futuro, fez-se com mulheres indígenas arrancadas do combinado e
destinadas a serem as primeiras catequistas e missionárias de nossa historia.
Com a oposição levantada à vida religiosa feminina, nada de comparável ao
colégio de órfãos de Bahia, fundado por Nóbrega logo depois da chegada dos jesuítas ao
Brasil, ou ao colégio de São Paulo, para os meninos brasis que aí encontraram sua primeira
escola de ler e escrever, floresceu para a educação das mulheres no Brasil colonial.
2.2. As mulheres nos aldeamentos
Qual a situação das mulheres indígenas nos aldeamentos mais organizados da
região amazônica, quando aí prevaleceu a administração do temporal e do espiritual confiada
aos missionários, a partir do Regimento da Missões de 1655? A política dos aldeamentos era
de resguardar ao máximo as mulheres, dificultando a sua cessão como mão-de-obra, fora da
aldeia.
O regulamento interno das aldeias de missão preparado pelo Pe. Vieira nos dá
uma idéia aproximada da situação das mulheres nestes aldeamentos.
Meninos e meninas participavam da catequese diária pela manhã e pela tarde e
também da escola.
Quanto ao casamento, desaconselhavam os padres que acontecesse entre índios
de uma aldeia com índia de outra. Quando não fosse possível impedir sem ferir a liberdade do
matrimônio, devia o padre declarar à contraente que ficava obrigada a seguir a seu marido, “e
ir viver à sua Aldeia todas as vezes que ele quiser; e este direito se declare em todas as
Aldeias, e se intime aos Principais, para que o tenham entendido e aceitado” ( beozzo, 1983:
189- 208).
Esta imposição dos padres contraria o costume de que ao casar-se era o moço
que ingressava no clã da moça, indo morar na casa do sogro, até o tempo de construir sua
própria cabana.
O Regulamento contemplava também a espinhosa questão do casamento de
índios livres com escravas:
“Nos casamentos de livres com escravas (em que são ainda maiores
inconvenientes) se tenha a mesma vigilância, se guarde a concordata, que sobre esta matéria
se tem feito com o Ordinário, não recebendo, nem consentindo que se receba índio algum das
Aldeias sem primeiro ser examinado e desenganado pelo Superior da Colônia, para evitar os
dolos, em que debaixo do nome de Matrimonio vêm estes casamentos a ser uma das espécies
de cativar, que neste Estado se usa” ( Beozzo, 1983: 189-208).
A precaução de Vieira não era excessiva pois os Regimentos posteriores são
obrigados a retornar à questão, visto que nenhum meio era deixavam de lançar pelos
colonizadores, para se aumentar o número de escravos. Os senhores não deixavam de lançar
mão do expediente de atrair índios livres para se casarem com suas escravas, ficando eles
mesmos, através da ligação com a escrava, em situação de cativeiro. Assim, longe de o
casamento tornar forros os que se casavam, vinha a constituir-se caminho a mais para
escravizar pessoas.
Também na melindrosa questão da repartição dos índios de serviço que os
aldeamentos deviam fornecer para a coleta do cravo e do cacau e para as roças e afazeres
domésticos dos colonos, coloca Vieira um particular cuidado, evitando que as mulheres
precisem deixar a aldeia e regulamentando as exceções ( Beozzo, 1983: 205).
Concluímos este comentário acerca de relatos, leis e normas sobre a mulher
indígena na colônia, com um texto que associa no preparo da farinha, alimento básico de toda
a área amazônica e prescreve a cessão de armas de leite para os colonos brancos.
É das índias farinheiras e amas de leite que se ocupa o Regimento das Missões
de 1686. Depois de proibir a saída de crianças e mulheres da aldeia para o serviço dos
brancos, observa:
“... mas porque na ocasião em que se recolhem os frutos que se lançarão à
terra, são necessários aos moradores algumas índias, que se chamão farinheyras, e também
necessitão os mesmos moradores de índias para lhe criarem seus filhos, e he razão que humas
e outras se occupem neste serviço sem perigo de sua honestidade encarrega muyto aos
Reytores dos Collegios, e Prelados das Missoens, que elles no tempo conveniente, e
necessário, fassão repartir e com effeito dern a taes índias farinheyras e de leyte a aqullas
pessoas que as houverem de tratar bem no espiritual e no temporal arbitrando-lhe sellario que
devem vencer ao tempo deste serviço, para que consigão o justo interece delle, e não possão
exceder o dito tempo, sempre as taes pessoas recorrão aos ditos Padres, a que elles hajão por
justificada a mayor dilatação que se lhes pedir (...)” ( Beozzo, 1983: 136).
As mulheres indígenas emergem neste registro como sujeitos históricos em
dois aspectos centrais para a reprodução da sociedade colonial na região amazônica: o
cuidado maternal, pelo aleitamento, com os filhos dos colonos e a reprodução da vida social, a
partir da produção do alimento básico para a população da região.
Referência Bibliográfica
Documentos impressos
Carta de Pero Vaz de Caminha, apud João Francisco, Lisboa, Crônica do Brasil Colonial –
Apontamentos para a história do Maranhão, Vozes, Petrópolis, INL. Brasília, 1976.
Serafem Leite, Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil, Tomo I.
Vicente do Salvador, Historia Do Brasil (1500 – 1627), Melhoramentos, São Paulo, INL,
Brasília, 1975.
Claude d`Abeville, História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e
terras circunvizinhas, Itatiaia, Belo Horizonte, EDUSP, São Paulo, 1975.
Francisco Adolfo de Varnhagen, História Geral do Brasil, tomos I e II, Melhoramentos, São
Paulo, 7ªed.
Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Historia da Igreja de São Paulo, Ed. Graf. J.
Magalhães, São Paulo, 1952, tomo I.
Marcos Carneiro de Mendonça, Raízes da Formação Administrativa do Brasil, IHGB –
Conselho Federal de Cultura, 1972, tomo I.
Serafim Leite, Historia da Companhia de Jesus no Brasil, Livraria Portugalia, Lisboa,
Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1938, tomo II.
Gaspar Barléu, História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil e
noutras partes sob o governo do ilustríssimo João Mauricio, Conde de Nassau, Itatiaia, Belo
Horizonte, EDUSP, São Paulo, 1974.
Publicações
ALGRANTI, Leite Mezan. Honrados e devotas: mulheres da colônia. Brasília: EdUNB/ Rio
de Janeiro: Jose Olimpio. 1993.
ALMEIDA, Rita Heloísa de. O diretórios dos índios:um projeto de civilização no Brasil do
século XVIII. Brasília: Ed. UnB. 1997.
ARAÚJO, Emanuel. O teatro dos vícios: transgressão e transigência na sociedade urbana
colonial. Brasília: Ed. UnB. Rio de Janeiro: Ed. José Olímpio. 1997.
BAETA NEVES, Luiz Filipe. O combate dos soldados de Cristo na terra dos papagaios:
colonialismo me repressão cultural. Rio de Janeiro: Fonseca. 1978.
BEOZZO, José Oscar. Leis e Regimentos das Missões – Política Indigenista no Brasil. Edição
Loyola, 1983.
CERTEAU, Michael de. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994, 2ª ed.
FIGUEIREDO, Luciano Raposo de. Barrocos famílias: vida familiar em Minas Gerais no
século XVIII. São Paulo: HUCITEC, 1997.
HOLANDA, SERGIO Burarque de . A época colonial: do descobrimento a expansão
territorial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 1989. 8ª ed. – (Historia geral da civilização
brasileira;1).
TORRES-LONDONO, Fernando. A outra família: concubinato, igreja e escândalo na
colônia. São Paulo: Ed. Loyola. 1999.
MARCILIO, Maria Luiza (Org). A mulher pobre na historia da igreja latino-americano. São
Paulo: Paulinas. 1984.
PERROT, Michelle. Os excudidos da historia: operários, mulheres, prisioneiros. São Paulo:
Paz e terra. 1988.
PRIORE, Mary Del (org). Historia das mulheres no Brasil. São Paulo. Contexto. 1997.
PRIORE, Mary Del. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidades e mentalidades no
Brasil colônia. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1993.
RAMINELLI, Ronald. Eva tupinambá. In: História das mulheres no Brasil. São Paulo: Ed.
Contexto.1997.
RAMINELLI, Ronald. Imagens da colonização: a representação do índio de Caminha a
Vieira. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 1996.
SILVA, Maria Beatriz Nizza. Historia da família no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1998.
SOUZA, Laura de Mello e. Historia da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. Das letras.
1997 – (Historia da vida privada no Brasil; 1)
VASCONCELOS, Simão de. Crônica da Companhia de Jesus. Vozes, Petrópolis, INL,
Brasília, 1977, 3ªed.
Você também pode gostar
- As Parabolas Do ReinoDocumento48 páginasAs Parabolas Do ReinoClaudio Martins100% (1)
- SERMÃO - 2 Timóteo 3Documento3 páginasSERMÃO - 2 Timóteo 3doterra cesAinda não há avaliações
- Religiões negras no Brasil: Da escravidão à pós-emancipaçãoNo EverandReligiões negras no Brasil: Da escravidão à pós-emancipaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Experiencias Historicas Afro BrasileirasDocumento221 páginasExperiencias Historicas Afro Brasileiraszifb100% (1)
- Como Escrever A Pesquisa - Versão PDFDocumento113 páginasComo Escrever A Pesquisa - Versão PDFDouglas GogoniAinda não há avaliações
- Novena Dos NamoradosDocumento11 páginasNovena Dos NamoradosPalavra & Prece Editora80% (5)
- O Guerreiro Cansado Sermão #235 Miserável Homem Eu Que SouDocumento16 páginasO Guerreiro Cansado Sermão #235 Miserável Homem Eu Que SouHérica Brückmann100% (1)
- Missal - CorpoDocumento38 páginasMissal - CorpoEliseu FernandesAinda não há avaliações
- Marranismo Na ParaibaDocumento14 páginasMarranismo Na ParaibaThiago MeirAinda não há avaliações
- Texto 5, Dias 11 e 18 de Março. Brasil, Salvação Numa Sociedade EscravocrataDocumento46 páginasTexto 5, Dias 11 e 18 de Março. Brasil, Salvação Numa Sociedade Escravocrataalecio75100% (1)
- Mircea Eliade - A Prova Do Labirinto PDFDocumento138 páginasMircea Eliade - A Prova Do Labirinto PDFMykel AlexanderAinda não há avaliações
- Do Calundu Ao Candomblé Renato Da SilveiraDocumento6 páginasDo Calundu Ao Candomblé Renato Da SilveiraMarcelinhu StudinskiAinda não há avaliações
- Períodos Da História Da FilosofiaDocumento37 páginasPeríodos Da História Da Filosofianexustecinfo100% (1)
- Do Calundu Ao Candomblé - Revista de HistóriaDocumento5 páginasDo Calundu Ao Candomblé - Revista de HistóriaMariana MouraAinda não há avaliações
- ASSIS, Angelo. Um Rabi Escatologico Na Nova LusitaniaDocumento302 páginasASSIS, Angelo. Um Rabi Escatologico Na Nova LusitaniaMarcus Vinícius ReisAinda não há avaliações
- Paulo ValadaresDocumento17 páginasPaulo ValadaresAlexandre DequechAinda não há avaliações
- Cadomble e Umbanda PDFDocumento23 páginasCadomble e Umbanda PDFCarlos Enrrique IbañesAinda não há avaliações
- Feiticeiras Da Colônia. Magia e Práticas de Feitiçaria Na América Portuguesa Na Documentação Do Santo Ofício Da InquisiçãoDocumento14 páginasFeiticeiras Da Colônia. Magia e Práticas de Feitiçaria Na América Portuguesa Na Documentação Do Santo Ofício Da InquisiçãoDavid Cavalcante100% (1)
- Ivan Ice Teixeira Silva OrtizDocumento20 páginasIvan Ice Teixeira Silva OrtizAliciane DafeAinda não há avaliações
- Cultura Negra 1 PDFDocumento429 páginasCultura Negra 1 PDFtalyta marjorie lira sousaAinda não há avaliações
- As Transformações de Obaluaê No BrasilDocumento0 páginaAs Transformações de Obaluaê No BrasilimarcoiAinda não há avaliações
- Perfil Do Educador Cristão, Chamado para Educar Com ExcelênciaDocumento17 páginasPerfil Do Educador Cristão, Chamado para Educar Com ExcelênciaMonica Pinz AlvesAinda não há avaliações
- Maes de SantoDocumento17 páginasMaes de SantoRoberta Rezende OliveiraAinda não há avaliações
- Resenha - Uma Mulher, Dois Maridos e Novas Dimensões Da Escravidão AtlânticaDocumento5 páginasResenha - Uma Mulher, Dois Maridos e Novas Dimensões Da Escravidão AtlânticaTássia MendonçaAinda não há avaliações
- Papeis Passados Mulheres No Brasil ColonialDocumento7 páginasPapeis Passados Mulheres No Brasil ColonialLuis FelipeAinda não há avaliações
- NOVINSKY, Anita. O Papel Da Mulher No Criptojudaísmo PortuguêsDocumento11 páginasNOVINSKY, Anita. O Papel Da Mulher No Criptojudaísmo PortuguêsBruna Diniz100% (1)
- O CRIPTOJUDAÍSMO FEMININO NO NORDESTE AÇUCAREIRO. ResenhaDocumento4 páginasO CRIPTOJUDAÍSMO FEMININO NO NORDESTE AÇUCAREIRO. ResenhaFernando Oliveira 2Ainda não há avaliações
- Helena Theodoro ApoioDocumento38 páginasHelena Theodoro ApoioCassio Leo HonoratoAinda não há avaliações
- Artigo de Sergio DouetsDocumento10 páginasArtigo de Sergio DouetsAline CruzAinda não há avaliações
- História Da Repressão As Multiplas Sexualidades Indigena No Brasil ColonialDocumento10 páginasHistória Da Repressão As Multiplas Sexualidades Indigena No Brasil ColonialAdriano Santos SilvaAinda não há avaliações
- Pensamento Social - AB2Documento8 páginasPensamento Social - AB2Walisson VieiraAinda não há avaliações
- Pensamento Social - AB2Documento6 páginasPensamento Social - AB2Walisson VieiraAinda não há avaliações
- BOLSA DE MANDINGA, PROTEÇÃO E PERIGO EM Jacobina PDFDocumento22 páginasBOLSA DE MANDINGA, PROTEÇÃO E PERIGO EM Jacobina PDFLuciana CarmoAinda não há avaliações
- SENZALADocumento84 páginasSENZALACláudio PauloAinda não há avaliações
- 2014 de Sousa Lucio and Manso Maria deDocumento14 páginas2014 de Sousa Lucio and Manso Maria deBRUNO SILVAAinda não há avaliações
- Tapanhuns, Negros Da Terra e CuribocasDocumento28 páginasTapanhuns, Negros Da Terra e CuribocasMaria Do CarmoAinda não há avaliações
- AVELLAR - A Formação Da Família Escrava Etnia AfricanaDocumento10 páginasAVELLAR - A Formação Da Família Escrava Etnia AfricanaCarla MagdenierAinda não há avaliações
- Mulheres e Vida Religiosa Na Sociedade Colonial Espanhola Na Região Platina. As Beatas Da Companhia Autor Beatriz Vasconcelos FranzenDocumento12 páginasMulheres e Vida Religiosa Na Sociedade Colonial Espanhola Na Região Platina. As Beatas Da Companhia Autor Beatriz Vasconcelos FranzenJosue Souza DA SilvaAinda não há avaliações
- Webaula 2 Teologia India Expressoes Religiosas Indigenas JwSp7x4pDocumento33 páginasWebaula 2 Teologia India Expressoes Religiosas Indigenas JwSp7x4pRoberto CapiottiAinda não há avaliações
- CASTELNAU-L ESTOILE, Charlotte De. A Denúncia.Documento37 páginasCASTELNAU-L ESTOILE, Charlotte De. A Denúncia.aris667.bAinda não há avaliações
- "A Família Negra No Tempo Da Escravidão: Bahia, 1850-1888".Documento16 páginas"A Família Negra No Tempo Da Escravidão: Bahia, 1850-1888".Isaac Trevisan Da CostaAinda não há avaliações
- Sincretismo Nosso de Cada Dia - Revista de HistóriaDocumento3 páginasSincretismo Nosso de Cada Dia - Revista de HistóriaGneadUfbaAinda não há avaliações
- A Igreja e A Escravidão Dos NegrosDocumento6 páginasA Igreja e A Escravidão Dos NegrosThiago PereiraAinda não há avaliações
- Os Bentinhos Como PatuásDocumento18 páginasOs Bentinhos Como PatuásLara VieiraAinda não há avaliações
- Descobridores, Do Livro Capítulos de História Colonial, de Capistrano de AbreuDocumento4 páginasDescobridores, Do Livro Capítulos de História Colonial, de Capistrano de AbreuGraziele CostaAinda não há avaliações
- O Mundo Celestial No CativeiroDocumento18 páginasO Mundo Celestial No CativeiroDaniel Torres Pereira SaraivaAinda não há avaliações
- Ensaio - Historia Da Africa 2Documento5 páginasEnsaio - Historia Da Africa 2Ana Maria S. VieiraAinda não há avaliações
- Casa Grande e SenzalaDocumento13 páginasCasa Grande e SenzalaLeandro SantosAinda não há avaliações
- 64673-Texto Do Artigo-85595-1-10-20131114Documento8 páginas64673-Texto Do Artigo-85595-1-10-20131114Carol CâmaraAinda não há avaliações
- Resumo - Imagens de Índios Do Brasil - o Século XVIDocumento4 páginasResumo - Imagens de Índios Do Brasil - o Século XVIMillena FigueiredoAinda não há avaliações
- Artigo Cientifico Sobre A Mulher NegraDocumento7 páginasArtigo Cientifico Sobre A Mulher NegraTatiane PessoaAinda não há avaliações
- Culto À Maria - R&s PDFDocumento5 páginasCulto À Maria - R&s PDFCauê Fraga MachadoAinda não há avaliações
- Catolicismo Negro No BrasilDocumento22 páginasCatolicismo Negro No BrasilLara VieiraAinda não há avaliações
- Implementação Da Mão de Obra Indígena e Africana No Brasil ColonialDocumento8 páginasImplementação Da Mão de Obra Indígena e Africana No Brasil Colonialvoff_concursosAinda não há avaliações
- Catolicismo Negro PDFDocumento22 páginasCatolicismo Negro PDFFrederico SouzaAinda não há avaliações
- Paton - História Das Relações de Gênero, História Global e Escravidão AtlânticaDocumento52 páginasPaton - História Das Relações de Gênero, História Global e Escravidão AtlânticaKaren Souza da SilvaAinda não há avaliações
- Aula 4Documento18 páginasAula 4Jacqueline Moraes TeixeiraAinda não há avaliações
- FACO Rui Cangaceiros e FanaticosDocumento228 páginasFACO Rui Cangaceiros e FanaticosJosefran F LimaAinda não há avaliações
- Preprojeto1.docx 0Documento14 páginasPreprojeto1.docx 0isabellagb91Ainda não há avaliações
- História Dos Povos Indígenas e AfrodescendentesDocumento7 páginasHistória Dos Povos Indígenas e AfrodescendentesPra Raama AlmeidaAinda não há avaliações
- O Feminino Corpo Da NegruraDocumento33 páginasO Feminino Corpo Da NegruraAmáliaAinda não há avaliações
- Escravidão, Escravizadas e A Família Escrava Mulher Negra Na Formação Da Família Escrava.Documento18 páginasEscravidão, Escravizadas e A Família Escrava Mulher Negra Na Formação Da Família Escrava.Pabliny Marques de AquinoAinda não há avaliações
- Do Calundu Ao Candomblé - Revista de História PDFDocumento5 páginasDo Calundu Ao Candomblé - Revista de História PDFErinaldoFerreiradaSilva100% (1)
- Resenha3+-+vol12+n2+Jul - Dez +1997Documento8 páginasResenha3+-+vol12+n2+Jul - Dez +1997Caio CobianchiAinda não há avaliações
- Contos Populares Do BrazilDocumento280 páginasContos Populares Do BrazilLuiz Cesar Magalhaes100% (1)
- Mulher CabildosDocumento50 páginasMulher CabildosVanderlei OrsoAinda não há avaliações
- Religiosidade Popular Brasileira Colonial: Um Retrato SincréticoDocumento20 páginasReligiosidade Popular Brasileira Colonial: Um Retrato SincréticoAnderson Silva BarrosoAinda não há avaliações
- 139 26 PB PDFDocumento77 páginas139 26 PB PDFTenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- 3363 9287 1 SM PDFDocumento27 páginas3363 9287 1 SM PDFTenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- PRADO, Maria Ligia - Repensando A História Comparada Da América Latina PDFDocumento23 páginasPRADO, Maria Ligia - Repensando A História Comparada Da América Latina PDFanaluisamurtaAinda não há avaliações
- Exemplo Matriz de DIDocumento6 páginasExemplo Matriz de DITenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento26 páginas1 PBTenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- 37773-Texto Do Artigo-168311-1-10-20170620Documento6 páginas37773-Texto Do Artigo-168311-1-10-20170620Kelton MarkAinda não há avaliações
- Resultado Final Do Edital de Seleção de Professores Formadores - 2021/1Documento33 páginasResultado Final Do Edital de Seleção de Professores Formadores - 2021/1Tenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- Resultado Bolsas UFAM - PIBIC 2020 - 2021Documento29 páginasResultado Bolsas UFAM - PIBIC 2020 - 2021Tenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- Sobre As Mudanças Da ABNT 6023 2018Documento10 páginasSobre As Mudanças Da ABNT 6023 2018JotaAinda não há avaliações
- O Rural No Urbano: Uma Análise Do Processo de Produção Do Espaço de Imperatriz - MADocumento1 páginaO Rural No Urbano: Uma Análise Do Processo de Produção Do Espaço de Imperatriz - MATenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- HH 482 ADocumento5 páginasHH 482 ATenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- INHIS OP UmOlharSobreHistoriaDosEUADocumento2 páginasINHIS OP UmOlharSobreHistoriaDosEUATenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- Relatório 25 de Março de 1870 - Populacao Escrava Analise Dos DadosDocumento2 páginasRelatório 25 de Março de 1870 - Populacao Escrava Analise Dos DadosTenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- VIII Encontro 2008 - Caderno de ResumosDocumento112 páginasVIII Encontro 2008 - Caderno de ResumosTenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- ArtigoseisDocumento23 páginasArtigoseisTenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- Adalberto Franklin-Hist-Econ-Imperatriz - Livro PDFDocumento244 páginasAdalberto Franklin-Hist-Econ-Imperatriz - Livro PDFAmérico Hozana Hozana de LimaAinda não há avaliações
- O Rural No Urbano: Uma Análise Do Processo de Produção Do Espaço de Imperatriz - MADocumento1 páginaO Rural No Urbano: Uma Análise Do Processo de Produção Do Espaço de Imperatriz - MATenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- Maxwell Pinheiro Fajardo: Assis 2015Documento359 páginasMaxwell Pinheiro Fajardo: Assis 2015ramses010203Ainda não há avaliações
- Resumo: O Artigo Tem Por Objetivo Apontar A Importância Da Construção Do CurrículoDocumento4 páginasResumo: O Artigo Tem Por Objetivo Apontar A Importância Da Construção Do CurrículoTenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- O Rural No Urbano: Uma Análise Do Processo de Produção Do Espaço de Imperatriz - MADocumento1 páginaO Rural No Urbano: Uma Análise Do Processo de Produção Do Espaço de Imperatriz - MATenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- Manual para Apresentações - PPGHIS-UNBDocumento13 páginasManual para Apresentações - PPGHIS-UNBTenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- Matmática 31.03.20Documento4 páginasMatmática 31.03.20Tenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- Anexo I - Quadro de Vagas TOTAL DE VAGASDocumento27 páginasAnexo I - Quadro de Vagas TOTAL DE VAGASTenner Inauhiny AbreuAinda não há avaliações
- História Da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de IjuíDocumento53 páginasHistória Da Igreja Evangélica Assembléia de Deus de IjuíGutenberg BarrosoAinda não há avaliações
- Alen CastroDocumento26 páginasAlen CastroErika CerqueiraAinda não há avaliações
- Provas Da LiberdadeDocumento34 páginasProvas Da LiberdadePatrícia MarcianoAinda não há avaliações
- Rafael Marquese - América ColonialDocumento2 páginasRafael Marquese - América ColonialHeraldo GalvãoAinda não há avaliações
- BOLETIM - Bessa 03.04Documento2 páginasBOLETIM - Bessa 03.04Jerônimo Leão Souza LeãoAinda não há avaliações
- No Mundo, Mas Não Do Mundo - William Macdonald - CópiaDocumento58 páginasNo Mundo, Mas Não Do Mundo - William Macdonald - CópiaCaroline De Abreu PereiraAinda não há avaliações
- Ele Tocou A Flauta e Nós Não DançamosDocumento16 páginasEle Tocou A Flauta e Nós Não DançamosSam TraderAinda não há avaliações
- Sermão #2715 Resignação Cristã Por C.H. Spurgeon JgfzniDocumento23 páginasSermão #2715 Resignação Cristã Por C.H. Spurgeon JgfzniDavid Bolina NascimentoAinda não há avaliações
- Encontro Valnice MilhomensDocumento6 páginasEncontro Valnice MilhomensRio Rede de OraçãoAinda não há avaliações
- A Fé e A RazãoDocumento11 páginasA Fé e A RazãoCalton MilodioAinda não há avaliações
- 12 Os Quatro Pilares Da Mensagem PentecostalDocumento7 páginas12 Os Quatro Pilares Da Mensagem PentecostalFlávio SantosAinda não há avaliações
- Santo Agostinho Entre A Fé e A Razão: Racionalismo Cristão de Bases Neoplatônicas e A Construção de Uma Filosofia Da História "Humana"Documento4 páginasSanto Agostinho Entre A Fé e A Razão: Racionalismo Cristão de Bases Neoplatônicas e A Construção de Uma Filosofia Da História "Humana"Douglas Pinheiro BezerraAinda não há avaliações
- Marcas de Uma Igreja Que CresceDocumento5 páginasMarcas de Uma Igreja Que CresceRoberto Vera MoralesAinda não há avaliações
- Teologia Cachorro e Gato - Completo - OficialDocumento203 páginasTeologia Cachorro e Gato - Completo - OficialRicardo MinelleAinda não há avaliações
- 1998-03-27 - O-Setimo-Selo-e-o-Tempo-de-Misericordia-e-Juizo - BookletDocumento18 páginas1998-03-27 - O-Setimo-Selo-e-o-Tempo-de-Misericordia-e-Juizo - BookletVander José PereiraAinda não há avaliações
- O Sibilismo JudaicoDocumento24 páginasO Sibilismo JudaicoFelipe VitorinoAinda não há avaliações
- Atos 5 1-14Documento3 páginasAtos 5 1-14FábioPereiraAinda não há avaliações
- Liderança Ministerial 2020Documento92 páginasLiderança Ministerial 2020Bíblia CraftAinda não há avaliações
- Slids - EBD - Lição 5Documento28 páginasSlids - EBD - Lição 5edinaldo filhoAinda não há avaliações
- História - Volume 1Documento264 páginasHistória - Volume 1RafaAinda não há avaliações
- Cronograma Da TribulaçãoDocumento9 páginasCronograma Da TribulaçãoMichael.abudAinda não há avaliações
- Gênesis 19 UMA CIDADE DEBAIXO DO JUIZO DE DEUSDocumento22 páginasGênesis 19 UMA CIDADE DEBAIXO DO JUIZO DE DEUSWeslley José de OliveiraAinda não há avaliações
- Relatório Final de EstágioDocumento8 páginasRelatório Final de EstágiorogerioAinda não há avaliações
- Cristãos em Babel - Egbert SchuurmanDocumento56 páginasCristãos em Babel - Egbert SchuurmanEdilsonMeirellesAinda não há avaliações
- Arquitetura Religiosa Contemporanea em Portugal - Joao MonteiroDocumento141 páginasArquitetura Religiosa Contemporanea em Portugal - Joao MonteiroMarcio Lima JuniorAinda não há avaliações
- Os Perigos Do Neognosticismo. DefDocumento20 páginasOs Perigos Do Neognosticismo. DefClávio JacintoAinda não há avaliações