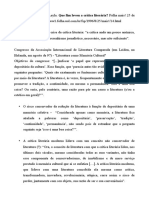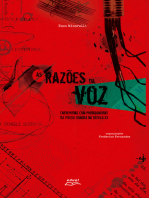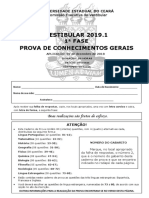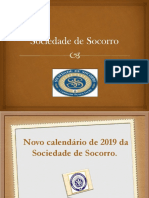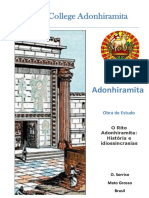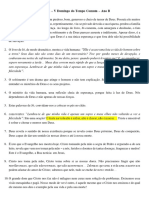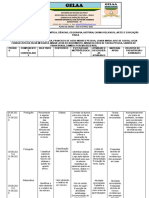Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A História Da Crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
Enviado por
Helder Gondim GondimTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A História Da Crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
Enviado por
Helder Gondim GondimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A HISTÓRIA DA CRÍTICA EM CRÍTICA E POÉTICA, DE AFRÂNIO COUTINHO
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL)
anamspinola@gmail.com
RESUMO: Esse artigo tem como objetivo abordar os ensaios presentes no livro Crítica e Poética (1968),
de Afrânio Coutinho (1911-2000), os quais são indispensáveis não apenas para o entendimento da visão
de Coutinho sobre a história da crítica literária ocidental, mas também para compreender porque a
crítica tomou rumos diversos ao longo do tempo. Além disso, recorre-se à obra do crítico René Wellek
(1903-1995), sobretudo a História da Crítica Moderna (1967), atentando, por vezes, para a influência de
sua teoria no pensamento de Afrânio Coutinho.
PALAVRAS-CHAVE: Afrânio Coutinho; Crítica e Poética; René Wellek.
1. Introdução
Por reconhecer a contribuição de Afrânio Coutinho (1911-2000) para a crítica lite-
rária brasileira, embaso a escrita desse artigo com os pequenos ensaios presentes no
livro Crítica e Poética (1968), indispensáveis não apenas para o entendimento da visão
de Coutinho sobre a história da crítica literária ocidental, mas também para compre-
ender porque a crítica tomou rumos diversos ao longo do tempo.
Além disso, recorro à História da Crítica Moderna (1967) de René Wellek, apon-
tando a influência de sua teoria no pensamento de Afrânio Coutinho, como se pode
observar nesse seu comentário em “Crítica de mim mesmo”1 (textos que datam de
1968 a 1983): “Jamais escondi a minha maior afinidade com as teorias do formalismo
eslavo, e alguns dos pontos mais salientes de minha doutrinação eram de origem
formalista, com o qual me familiarizei ainda em Nova York, através de René Wellek
e dos trabalhos, raros então, divulgados no Ocidente”. Ou ainda neste trecho: “Mas
decisivos foram o encontro com Roman Jakobson, em seus cursos em Nova York,
com Mattoso Câmara e Euryaldo Canabrava, e a leitura dos estudos de René Wellek,
ambos egressos da escola de Praga, e exilados nos Estados Unidos”.
1 Nota Bene: as referências a “Crítica de mim mesmo” foram feitas sem marcação de página ou ano.
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL) 48
A história da crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
Debruçar-se sobre a obra crítica de Afrânio Coutinho é ter como ponto de partida
o que Wellek, crítico inicialmente ligado ao Círculo de Praga e radicado posteriormen-
te nos Estados Unidos, comenta na introdução da sua História da Crítica Moderna,
quando diz: a “crítica, individualmente considerada, será movida por motivos da sua
história pessoal: a sua educação, as exigências anteriores, as necessidades dos seus
públicos” (1967: 7). Nesse sentido, para observar uma obra crítica é preciso ter essa
assertiva de Wellek em mente, considerando as principais influências do pensamento
do crítico e o lugar em que ele se encontra. Wellek, nessa mesma introdução, comen-
ta ainda: “A crítica é uma parte da história da cultura em geral e assim se coloca num
contexto histórico social. Evidentemente, ela é influenciada pelas mudanças gerais
do clima intelectual, pela história das idéias e mesmo pelas filosofias determinadas,
se bem que estas não possam ter, elas próprias, inspirado sistema de estética (1967:
7).
Coutinho, provavelmente, a partir do momento que teve a oportunidade de apri-
morar seus estudos literários na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, en-
tre os anos de 1942 a 1947, pôde se alimentar dessas “mudanças gerais do clima inte-
lectual”. Sorveu nesse ínterim os recentes estudos feitos acerca da Teoria Literária,
tendo, então, contato com as novas tendências críticas as quais tinham como parâ-
metro principal fatores intrínsecos ao objeto literário.
É por isso que, se comparado aos críticos literários brasileiros de seu tempo, pos-
sui critérios bem diversos, tanto é que ficou famoso por seus embates com críticos
cujos critérios eram impressionistas e biográficos (Álvaro Lins) ou sociológicos e his-
toricistas (Antonio Candido). De acordo com Süssekind, era uma estratégia de con-
quista de espaço:
A escolha do alvo (Álvaro Lins) não era evidentemente gratuita. Tratava-
se de um dos críticos mais poderosos da época (1940-1950). Atingi-lo era,
então, acertar em cheio nos próprios mecanismos de qualificação intelectual
vigentes. Era abalar o sistema literário que fizera dele ‘imperador’. E, com isso,
se abriria espaço para um outro tipo de critério de avaliação profissional, para
uma substituição do jornal pela universidade como ‘templo da cultura literária’
e da figura do crítico enciclopédico e impressionista, com sua habilidade para
a crônica, pelo professor universitário, com seu jargão próprio e uma crença
inabalável no papel modernizador que poderia exercer no campo dos estudos
literários. Tratava-se, em suma, de substituir o rodapé pela cátedra. E conquistar
o poder até então em mãos de não-especialistas para as daqueles dotados
de ‘aprendizado técnico’, nas palavras de Afrânio. Isto é, para os críticos-
professores (1993: 19-20).
Assim, Coutinho, após sua volta ao Brasil, publicou inúmeros artigos no Diário de
Notícias, do Rio de Janeiro, no suplemento literário “Correntes Cruzadas”, apontan-
do novas perspectivas para se encarar o fenômeno literário e, consequentemente,
seu julgamento crítico. Apesar do contato com uma diversidade teórica, o seu retor-
no para o Brasil e a divulgação de novos procedimentos de análise literária fez que
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
[47-56]
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL) 49
A história da crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
muitos o apontassem como propagador do new criticism, vertente crítica norte-ame-
ricana. Porém, o próprio Coutinho aponta no texto “Crítica de mim mesmo”: “O que
trouxe na minha bagagem, depois de cinco anos de estudos e contatos intelectuais,
não foi o new criticism apenas, mas toda uma global doutrinação pela renovação da
crítica literária, que, no Brasil, estava dominada pelo impressionismo”.
Ele comenta, então, que a renovação da crítica por ele pretendida seria uma “nova
crítica” e essa, segundo o autor, vai além do new criticism, pois pretende fazer uma
crítica o mais globalizante possível, abarcando métodos de origens diversas, tais
como o “aristotelismo de Chicago, o formalismo eslavo, a estiologia teuto-suíça e
espanhola, a escola inglesa” e, também, o new criticism. Assim, falar sobre das influ-
ências de Coutinho, abordando-o apenas como um divulgador do new criticism pare-
cereducionista, porque seu pensamento crítico tem embasamentos mais amplos.
A crítica literária brasileira na década de 40 estava voltada a critérios, segundo ele,
extrínsecos à literatura, ora embasados na vida do autor, ora embasados em teorias
sociológicas e direcionamento histórico. É por isso que, na sua incansável luta por
uma renovação da crítica literária brasileira, ele propõe uma crítica voltada às análises
de elementos intrínsecos à matéria literária.
Se para Coutinho são esses novos pensamentos críticos os ideais para se fazer
uma “crítica verdadeira”, o movimento natural foi o de negar a crítica que vinha sen-
do exercida até então. Distanciava-se, portanto, da crítica que utilizava métodos ex-
traliterários, em detrimento das novas teorias estético-literárias, buscando uma críti-
ca que tomasse a literatura como objeto autônomo, dando à sua crítica “status” de
ciência.
Para ele, o tratamento da análise literária deveria ser tomado de modo científico,
e é por isso que argumentou que a crítica produzida pela academia possuía um valor
acentuado, se comparada com as críticas deterministas e impressionistas publicadas
em rodapés de jornais. Nesse sentido, as críticas começaram a ser encaradas com um
novo olhar, como registra em “Crítica de mim mesmo”:
Há seriedade, anti-improvisação, preocupação científica, entre os jovens
críticos. Embora não se aceite o historicismo, o determinismo, o biografismo,
respeita-se a história, a influência do meio, o papel do autor e do público,
da língua. Mas o essencial no ato crítico é o estudo da obra, em que pesa a
variedade de abordagens. E isso é nova crítica.
O que havia, então, de diferente e renovador nessa concepção de crítica? Se ob-
servado o discurso produzido por Coutinho, percebe-se o seu posicionamento que
sente a necessidade de lutar contra abordagens sociológicas, deterministas e impres-
sionistas, para focar na matéria literária, isto é, o conteúdo estético, recorrendo às
diversas teorias para conquistar uma visão mais ampla e abrangente do objeto em
estudo. Para ele, o estético torna-se essencial e “inclui, incorpora o histórico, o social,
o político, o religioso, o econômico, porém esses elementos não existem na obra tais
como na realidade. O real histórico é diverso do real literário. A verdade histórica é
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
[47-56]
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL) 50
A história da crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
diferente da verdade estética ou poética. Está acima dela, com ela não se confunde”
(“Crítica de mim mesmo”).
A maioria dos escritos sobre Coutinho acabam reduzindo sua teoria à disseminação
e à tentativa de aplicação das teorias do new criticism no Brasil, a qual, reconhece-se
teve influência sobre sua atividade crítica e pedagógica, sobretudo por sua formação
estado-unidense na década de 40. Mas, será que é suficiente apenas pensar em Couti-
nho e suas relações com o new criticism, esquecendo-se que buscou fazer uma crítica
sob perspectivas antes inauditas dentro da crítica literária brasileira? Coutinho ousou
cutucar uma crítica que parecia acomodada, imersa na produção de textos críticos
voltados ora para critérios, que por ele são considerados rasos (autobiografismo e
impressionismo), ora para critérios embasados em teorias sociológicas e de cunho
historicista. Dessa forma, ele consegue perceber que há outras possibilidades, ou-
tras tendências teóricas para além do que se fazia até então. E isso, de certa forma,
consuma-se em suas produções não apenas como teórico, mas também organizador
e diretor de inúmeras obras de referência, chegando ao seu projeto mais ousado com
A Literatura no Brasil (1955-1959), marcado por uma tentativa de articulação de uma
grande história de estilos de época no Brasil:
é baseado nesta separação entre fatores intrínsecos e extrínsecos e na
atribuição de autonomia para o literário que projeta os volumes de A literatura
no Brasil, publicada de 1955 a 1959. Obra coletiva – este, aliás, um dos pontos
mais altos: a percepção da importância do trabalho em equipe –, cabiam, em
geral, ao seu organizador os capítulos introdutórios a cada período abordado,
cuja função seria a de definir suas linhas mestras e, ainda, articular uma história
literária cujo desenrolar se pautasse exclusivamente no diálogo entre diferentes
quadros estilísticos que se sucedem linearmente no tempo. (Süssekind 1993:
22)
Apesar de ter empreendido uma nova forma de se fazer uma história da literatu-
ra, reconhece que nem todos os colaboradores participaram ou compreenderam o
sentido das novas metodologias e dos novos conceitos impostos à obra. Mas seu
movimento é ainda renovador diante das historiografias literárias brasileiras, pois,
segundo Coutinho, para estudar a história literária brasileira, “em vez de um crité-
rio político, deve-se adotar uma filosofia estética, compreendendo-a como um va-
lor literário. Para tal, a periodização correspondente é de natureza estilística, isto é,
em lugar da divisão em períodos cronológicos ou políticos, a ordenação por estilos”
(Coutinho 1999: 132).
É fato, portanto, que as pretensões de Coutinho são renovadoras, mas para enten-
dê-lo como crítico é preciso também entender como observa a história da crítica lite-
rária ocidental, e como havíamos dito, isso se esclarecerá no livro Crítica e Poética.
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
[47-56]
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL) 51
A história da crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
2. Crítica e Poética: um livreto essencial
O livro Crítica e Poética (1968) é composto por cinco ensaios: “Por uma Crítica Es-
tética”, “A Poética: Conceito e Evolução”, “A Crítica”, “Evolução da Crítica Shakes-
peariana” e “A Crítica Literária no Brasil”. Esses artigos tornam-se essenciais aos es-
tudiosos da literatura, pois, por meio de uma linguagem didática e sucinta, Coutinho
apresenta a história da crítica literária, partindo dos filósofos antigos Aristóteles e
Platão. O que de pode depreender de mais importante desses ensaios que esclare-
cem sobre a “evolução” do pensamento crítico literário ocidental são as linhagens de
pensamento dicotômicas estabelecidas ao longo da história, advindas da antiguidade
clássica greco-romana.
De acordo com Coutinho, de Platão surgiram as críticas de valor didático e morali-
zante da literatura e, consequentemente, de valores extrínsecos ao objeto literário.
Desse pensamento, nascem as concepções das poéticas normativas de Horácio e de
Longino, e dos retóricos helenísticos e alexandrinos. Da Arte Poética, de Horácio, ger-
minam as críticas que privilegiam o docere cum delectare (ensinar/educar com prazer/
deleite), ou seja, “uma crítica moralizante ou moralista, decorrente de um conceito
de literatura, que via a literatura como guia de julgamento moral e difusão da cultura
ética.” (Coutinho 1968: 68). A literatura sob esse ponto de vista teve suas manifes-
tações, no Brasil, entre os jesuítas, os quais usavam poesia e teatro como meio de
catequizar. O segundo tipo de manifestação dessa corrente proveniente de Horácio
é a da literatura como instrumento de propaganda política, a chamada “Littérature
engagé”, na França.
O último e o mais difundido tipo de conceito de literatura dessa vertente é a que
toma a Literatura como documento histórico ou como documento de uma sociedade
(Taine e crítica marxista). Já Longino, a quem se dá autoria do texto Do Sublime:
introduziu na compreensão do fenômeno literário a alma do autor como
elemento que deveria ser considerado e estudado para compreender-se a
Literatura. [...] o que chamamos hoje a interpretação psicológica da Literatura,
e veio a ter no século XVII e no século XVIII, sobretudo quando entrou no
romantismo, uma fortuna enorme. (Coutinho 1968: 73)
Dessa atitude, surge, sobretudo, a crítica biográfica, para a qual o que importa
na análise não é a obra em si, mas toda a vida do autor. O principal expoente dessa
vertente é o francês Sainte-Beuve, que exerceu grande influência na crítica brasileira
do início do século XX. E, por último, estão ainda dentro do conceito platônico da lite-
ratura os retóricos helenísticos e alexandrinos. De acordo com Coutinho, essa crítica
tem como foco a língua, o verbo como elemento essencial; dessa forma é voltada
para uma análise filológica da obra literária.
De Aristóteles, por outro lado, provêm os valores intrínsecos ao objeto literário,
os quais são defendidos por Coutinho. No entanto, essa consciência da crítica para as
análises intrínsecas demorou muito tempo a ser estabelecida, principalmente porque
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
[47-56]
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL) 52
A história da crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
os textos de Aristóteles e de Horácio eram lidos de modo muito aproximado, detur-
pando de certa forma as teorias aristotélicas: “o Renascimento foi mais latino do que
helênico [...] obras gregas, como a Poética, passaram para o mundo ocidental através
do veículo romano, no caso o retoricismo horaciano, ao que se deve a deturpação das
teorias aristotélicas [...] Houve uma sorte de fusão de Aristóteles e Horácio durante o
Renascimento” (Coutinho 1968: 20-21). Essa fusão também é apontada por Wellek:
O neoclassicismo é uma fusão de Aristóteles com Horácio, uma reafirmação
dos seus princípios e opiniões, a qual sofreu alterações relativamente pequenas
durante quase três séculos. Este fato por si afirma algo que muitos historiadores
da literatura relutam em reconhecer: a grande diferença entre teoria e prática
ao longo da história da literatura, (Wellek 1967: 5)
Apenas quando houve uma dissociação entre as teorias de Aristóteles com as de
Horácio, a Poética aristotélica começou a ser vista como uma obra próxima às doutri-
nas estéticas da literatura. Coutinho, então, diz que as correntes em voga nos países
anglo-saxões e eslavos, isto é, as correntes estruturalistas e formalistas são fruto des-
sa concepção aristotélica da literatura.
Da concepção aristotélica da literatura, segundo Coutinho, a crítica pretenderá
libertar-se:
1. da biografia;
2. da autobiografia, sob a roupagem de impressionismo
3. da psicologia, em que se resumem todos os estudos da personalidade do
autor;
4. da sociologia, pois não passam de sociologia os estudos sobre meio social
e econômico do autor;
5. da filologia e ciência da linguagem, em uma palavra, da história, pois são
antes “históricos” os estudos dos fatores exteriores à obra de arte, históricos
ou políticos. (Coutinho 1968: 24)
3. A crítica literária no Brasil
Coutinho estabelece como parâmetro, no Brasil, a década de 1950 como o mo-
mento de tomada de consciência da crítica, pois, segundo ele, é a partir dessa ocasião
que ela deixa de ser considerada um gênero literário para tomar caráter de atividade
reflexiva, próxima à filosofia e à ciência.
No entanto, se o quadro que se estabelece na história da crítica literária ocidental
foi o apresentado por Coutinho em Crítica e Poética, era natural que esses campos
da crítica se frutificassem no Brasil. Com base no texto “A Crítica Literária no Brasil”,
resumirei como essas críticas de um modo ou de outro estabelecem relações com a
história da crítica.
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
[47-56]
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL) 53
A história da crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
Como foi dito anteriormente, o pensamento platônico da literatura e que deu ori-
gem à Arte Poética, de Horácio, irá influenciar a crítica literária brasileira. Nas fases
iniciais da literatura brasileira, mais precisamente, no Barroco e Neoclassicismo, tan-
to a crítica quanto a literatura têm como base o dogmatismo horaciano. A literatura
servia como meio de catequização, divulgando a religião católica e seus preceitos.
Com o Romantismo, essa tradição se rompe e começa haver uma busca pela nacio-
nalidade literária. Coutinho aponta que “[a] literatura não deveria realizar-se pelos
modelos absolutos das formas tradicionais. Deveria condicionar-se ao meio onde se
produzia, recolhendo os usos e costumes, as tradições populares, as peculiaridades
idiomáticas, os temas e tipos que constituem a cultura do povo” (1968: 122).
Desse novo direcionamento, resultou o “Instinto de nacionalidade” (1873), de Ma-
chado de Assis, texto que, de acordo com Coutinho, tornou-se um “manifesto da
independência literária, claro que, inicialmente, dirigido contra o predomínio luso”
(1968: 123). A tentativa de compreender a literatura brasileira e de buscar as raízes da
cultura da sociedade brasileira, remontando o passado, são nitidamente característi-
cas do período romântico, e desse espírito que se volta para a história faz que se re-
direcionem os estudos literários para essa ordem. Começa, então, a onda historicista
brasileira da crítica, iniciada por Francisco A. Varnhagen (1816-1878). Coutinho atenta
para o fato, dizendo: “Desde então, os estudos críticos e de história literária no Brasil
se realizariam, segundo uma grande família de críticos brasileiros, como uma depen-
dência da história geral, política e social, utilizando o método histórico, e concebida a
literatura como um reflexo das atividades humanas gerais, um fenômeno histórico”
(1968: 123-124).
Nas épocas Realista e Naturalista, são as teorias de Comte, Taine, Buckle, Haeckel,
Darwin e Spencer que influenciam não apenas a literatura, mas também a crítica lite-
rária. E o aparato teórico advindo de outras ciências para embasar a análise do objeto
literário formou a tradição de uma crítica sociológica no Brasil:
O fato é que a tradição dos estudos literários que representa a monumental
obra de Silvio Romero, a História da literatura brasileira (1988), baseada na
interpretação socióloga [...] é, ainda hoje, grande o número de críticos a ela
filiados.” – Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, diversos críticos de
orientação marxista (Astrojildo Pereira e Nelson Werneck Sodré).
[...] e Antonio Candido (1918), sobretudo na sua obra Formação da literatura
brasileira (1959), com idêntica tendência ao enquadramento histórico-social
como critério crítico. (Coutinho 1968: 127)
Além dessas vertentes, Coutinho vai apontar, ainda, as que derivaram da crítica
biográfica de Sainte-Beuve, e mais remotamente, de Longino. Para o crítico essa é a
vertente mais popular e a mais divulgada no Brasil. Comenta também sobre os que
tomam a obra por meio do plano verbal e gramatical, veio crítico difundido no Brasil
por aqueles que ficaram conhecidos como os críticos gramaticais. É importante res-
saltar a sua abordagem da crítica literária produzida nos jornais:
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
[47-56]
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL) 54
A história da crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
Assim, praticada na imprensa diária, a crítica não podia deixar de sofrer a
influência do espírito ligeiro e superficial do jornalismo, o que lhe comunicou
um caráter circunstancial, aproximando-a do tipo ‘review’ dos ingleses e norte-
americanos. [...] consiste em fornecer uma ‘impressão’ acerca da obra do
momento. Daí seja comumente conhecida como ‘impressionismo’, ainda que
não consiga atingir o nível do verdadeiro impressionismo de Anatole France,
Jules Lemaître, Walter Pater. (Coutinho 1968: 131)
Ele aproveita da oportunidade, dessa forma, para criticar esse tipo de análise lite-
rária, apontando a sua superficialidade com trato do objeto literário.
Por fim, comenta sobre as reações contra a doutrina de Silvio Romero e o impres-
sionismo crítico, que, segundo ele, começaram a ser desencadeadas já com os simbo-
listas. Cita como críticos que de certa forma defenderam os valores estéticos: Nestor
Victor, Henrique Abílio, Andrade Muricy, Tasso da Silveira, Barreto Filho, Mário de
Andrade e Tristão de Ataíde. No entanto, aponta que essa reação foi seu próprio
objetivo ao voltar dos Estados Unidos, mostrando as ideias fundamentais que regem
esse pensamento:
1. Necessidade de criação de uma consciência crítica para a literatura brasileira
[...];
2. Valorização do estudo superior e sistemático de letras nas Faculdades de
Filosofia [...];
3. Reconsideração dos problemas técnicos da poesia, ficção e drama, graças
ao mesmo estudo superior, e, ao mesmo tempo, criação do espírito profissional
e de especialização na crítica;
4. Defesa da perspectiva e abordagem estético-literária na apresentação
crítica, contra o predomínio do método histórico [...];
5. Valorização da concepção estética da crítica, para a qual o que importa,
sobretudo, é a obra, o texto e na análise do texto [...];
6. Estabelecimento de critérios críticos de cunho objetivo, ‘científicos’, isto é,
critérios que absorvam cada vez mais o espírito científico, introduzindo em seus
domínios as revoluções metodológica e científica que logram outras disciplinas
[...]. Mas sem recorrer aos métodos das várias ciências, e sim procurando
absorver métodos peculiares ao objeto de estudo da crítica literária [...];
7. Relegação para segundo plano da preocupação biográfica em crítica; o
mesmo em relação aos fatores ambientais, históricos, sociológicos, econômicos,
supervalorativos pelo determinismo naturalista;
8. Revisão dos conceitos historiográficos, à luz desses princípios, com a
criação de nova teoria historiográfica para a literatura [...] periodização de
natureza estética e pelos estilos individuais e de época. (Coutinho 1968: 138-
139-140)
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
[47-56]
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL) 55
A história da crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
4. Conclusão
Antes de ser crítico literário, pode-se de certa forma considerar Coutinho como um
grande pensador da crítica literária brasileira, que se movimentou no sentido de dar
novos parâmetros aos estudiosos que estavam acostumados a analisar obras guia-
dos por valores extrínsecos, distanciando-os do objeto literário. Além disso, talvez,
seu maior legado tenha sido o de oferecer uma nova lente para os estudiosos da
literatura, pois Coutinho queria não apenas renovar a crítica literária brasileira, mas
também propor um entendimento geral da crítica e como ela foi estabelecida por
diferentes critérios ao longo do tempo.
Como se viu, a crítica literária possui fundamentos que devem ser compreendidos
dentro de um contexto histórico, social e filosófico e, como foi apontado por Wellek,
a crítica “é influenciada pelas mudanças gerais do clima intelectual, pela história das
ideias e mesmo pelas filosofias determinadas, se bem que estas não possam ter, elas
próprias, inspirado sistema de estética” (1967: 7). Tomada essa consciência logo que
se iniciam os estudos acerca da teoria e crítica literárias, as leituras sobre e de textos
literários tornar-se-ão mais claros, fugindo de um reducionismo do “gostei” ou do
“não gostei”.
Hoje, os cursos de Letras das universidades brasileiras devem esse crédito a Cou-
tinho, pois é também por influência dele que os estudos literários e, consequente-
mente, os departamentos de literatura começam a tomar relevância nesses espaços.
Por mais que nessa obra (Crítica e Poética) de Coutinho tivesse a intenção de mostrar,
mesmo que de modo reduzido, os caminhos percorridos pela crítica literária ociden-
tal e brasileira, é importante perceber que ele defende sempre a crítica na qual acre-
dita, isto é, a da vertente aristotélica e a que se importa com o estético.
Não se pode, portanto, negar que de suas influências efetivas dentro do cenário
crítico brasileiro, mas ainda há muito que ser compreendido e mapeado, principal-
mente quanto à sua convicção de que as universidades teriam papel importante de
transformação para a crítica literária brasileira.
Obras citadas
COUTINHO, Afrânio. 1968. Crítica e poética. Rio de Janeiro: Acadêmica.
——. “Crítica de mim mesmo”. Disponível no site: http://www.pacc.ufrj.br/literaria/
mimmesmo.html. Acesso em: 13/02/2011.
SÜSSEKIND, Flora. Papéis colados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993.
WELLEK, René. 1967. História da crítica moderna. 2 vols. São Paulo: EDUSP, 1967.
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
[47-56]
Ana Luiza Martignoni Spínola (UEL) 56
A história da crítica em Crítica e Poética, de Afrânio Coutinho
A critical history in Crítica e poética, by Afrânio Coutinho
ABSTRACT: This article aims to address the essays present in Afrânio Coutinho’s Crítica e Poética (1968),
which we consider indispensable to perceive Coutinho’s vision on the history of western literary criti-
cism, and also to understand why criticism in Brazil has taken several directions over time. In addition,
we use the work of the critic René Wellek (1903-1995), especially the book A História da Crítica Mod-
erna, paying attention, sometimes, to the influence of his theory in the thought of Afrânio Coutinho.
KEYWORDS: Afrânio Coutinho; Crítica e Poética; René Wellek.
Recebido em 30 de setembro de 2011; aprovado em 30 de dezembro de 2011.
Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 22 (dez. 2011) – 1-56 – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa
[47-56]
Você também pode gostar
- Crítica Literária Conceito e EvoluçãoDocumento13 páginasCrítica Literária Conceito e EvoluçãoFlávia PessoaAinda não há avaliações
- Folha de S.Paulo - Que Fim Levou A Crítica Literária - 25 - 8 - 1996Documento5 páginasFolha de S.Paulo - Que Fim Levou A Crítica Literária - 25 - 8 - 1996Andreia SouzaAinda não há avaliações
- 18 Questões Sobre o RomantismoDocumento9 páginas18 Questões Sobre o RomantismoHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Da Obra O Cortiço Do Autor Aluísio de AzevedoDocumento3 páginasResenha Crítica Da Obra O Cortiço Do Autor Aluísio de AzevedoWillian Michel Schneider50% (2)
- Anjos MagosDocumento32 páginasAnjos Magosdt300Ainda não há avaliações
- Análise Capítulo 6 Primo BasilioDocumento3 páginasAnálise Capítulo 6 Primo BasilioAline MartinsAinda não há avaliações
- A influência de René Wellek no pensamento crítico de Afrânio CoutinhoDocumento10 páginasA influência de René Wellek no pensamento crítico de Afrânio Coutinholinguistica modernaAinda não há avaliações
- A crítica literária de Álvaro Lins e o debate sobre o impressionismoDocumento11 páginasA crítica literária de Álvaro Lins e o debate sobre o impressionismoMarcos RodriguesAinda não há avaliações
- A Crítica Literária e a Constituição da Cultura Intelectual Brasileira nos Anos 1920Documento13 páginasA Crítica Literária e a Constituição da Cultura Intelectual Brasileira nos Anos 1920Ana IzabelAinda não há avaliações
- Evolução Crítica LiteráriaDocumento13 páginasEvolução Crítica LiteráriaelementhusAinda não há avaliações
- 45-Texto Do Artigo-96-89-10-20131024Documento23 páginas45-Texto Do Artigo-96-89-10-20131024Dulsilene S. RapozoAinda não há avaliações
- Laura Brandini, A Querela Da Crítica FrancesaDocumento13 páginasLaura Brandini, A Querela Da Crítica FrancesamaxhinaAinda não há avaliações
- Teoria da Literatura: Temporalidade, Literariedade e CorrentesDocumento8 páginasTeoria da Literatura: Temporalidade, Literariedade e Correntesclaudia100% (1)
- A Nova Critica de Afranio CoutinhoDocumento5 páginasA Nova Critica de Afranio CoutinhoFabiano de AndradeAinda não há avaliações
- Folha de S.Paulo - Que Fim Levou A Crítica Literária - 25 - 8 - 1996Documento5 páginasFolha de S.Paulo - Que Fim Levou A Crítica Literária - 25 - 8 - 1996pedrohsg.letrasAinda não há avaliações
- Análise da literatura minoritária em contos de Gerald VizenorDocumento23 páginasAnálise da literatura minoritária em contos de Gerald VizenorAliancaBh InternoAinda não há avaliações
- Literatura comparada em perspectivaDocumento17 páginasLiteratura comparada em perspectivaLuana ZanonAinda não há avaliações
- PERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000Documento6 páginasPERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000TatianeCostaSousaAinda não há avaliações
- Ensinando literatura além da literaturaDocumento16 páginasEnsinando literatura além da literaturaLetícia de CarvalhoAinda não há avaliações
- Lukács Leitor de Proust e Kafka Segundo Carlos Nelson CoutinhoDocumento42 páginasLukács Leitor de Proust e Kafka Segundo Carlos Nelson CoutinhoRaphaelAinda não há avaliações
- Formalismo Russo e New Criticism: análise comparativaDocumento23 páginasFormalismo Russo e New Criticism: análise comparativaFernando Guimarães SavesAinda não há avaliações
- Introdução à Estética FilosóficaDocumento10 páginasIntrodução à Estética FilosóficaJoice Beatriz Valduga da CostaAinda não há avaliações
- Resenha analisa coletânea de textos de Antonio Candido e sua abordagem críticaDocumento7 páginasResenha analisa coletânea de textos de Antonio Candido e sua abordagem críticaSandro AragãoAinda não há avaliações
- Legados da Escola dos AnnalesDocumento66 páginasLegados da Escola dos AnnalesRenan OAAinda não há avaliações
- Formalismo RussoDocumento16 páginasFormalismo RussoAvelino SilvaAinda não há avaliações
- Crítica Literária - Formalismo RussoDocumento2 páginasCrítica Literária - Formalismo RussoRoberto PiresAinda não há avaliações
- O tempo e o espaço das manifestações literárias_Anco MárcioDocumento21 páginasO tempo e o espaço das manifestações literárias_Anco MárcioFabiana Ferreira da CostaAinda não há avaliações
- O Espaço Da Crítica Literária - A Academia e Os RodapésDocumento15 páginasO Espaço Da Crítica Literária - A Academia e Os RodapésGabriela AlmeidaAinda não há avaliações
- Sociologia Da LiteraturaDocumento6 páginasSociologia Da LiteraturaKauê OliveiraAinda não há avaliações
- Corpo, Arte e Filosofia No BrasilDocumento29 páginasCorpo, Arte e Filosofia No Brasilnetunno100% (1)
- Crise da Crítica LiteráriaDocumento9 páginasCrise da Crítica LiteráriaARayniacAinda não há avaliações
- Literatura Comparada Teoria Da Literatura Literária Crítica PDFDocumento18 páginasLiteratura Comparada Teoria Da Literatura Literária Crítica PDFhokaloskouros9198Ainda não há avaliações
- PERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000Documento6 páginasPERRONE MOISES Leyla Que Fim Levou A Critica Literaria in Inutil Poesia e Outros Ensaios Breves Companhia Das Letras 2000rodrigomichellAinda não há avaliações
- Apresentação: Caminhos Da CríticaDocumento321 páginasApresentação: Caminhos Da CríticaZuila KellyAinda não há avaliações
- Literatura Como MissãoDocumento3 páginasLiteratura Como MissãoKaio SnowAinda não há avaliações
- TCC Crítica Literária 3Documento6 páginasTCC Crítica Literária 3Jonas Souza100% (1)
- Écoles Et Courants Littéraires - LEITURA - FR.PTDocumento29 páginasÉcoles Et Courants Littéraires - LEITURA - FR.PTIsaac O JorgeAinda não há avaliações
- ESQUEMA DE ANTONIO CANDIDODocumento12 páginasESQUEMA DE ANTONIO CANDIDOHenrique BarrosAinda não há avaliações
- Françoise Choay e a obra de Camillo SitteDocumento18 páginasFrançoise Choay e a obra de Camillo SitteIvvy QuintellaAinda não há avaliações
- Teoria LiterariaDocumento17 páginasTeoria LiterariaGuguh SantosAinda não há avaliações
- AD. MUSSALIM Análise Do Discurso Literário - Campo Discursivo e Posicionamento InterlínguaDocumento15 páginasAD. MUSSALIM Análise Do Discurso Literário - Campo Discursivo e Posicionamento InterlínguaThiago OliveiraAinda não há avaliações
- Narrativas de Cadaveres e A Teleologia Da Historia Da World LiteratureDocumento26 páginasNarrativas de Cadaveres e A Teleologia Da Historia Da World LiteratureAlexandre JuniorAinda não há avaliações
- A evolução da crítica literária segundo Botelho e FerreiraDocumento4 páginasA evolução da crítica literária segundo Botelho e FerreiraMarcos FernandesAinda não há avaliações
- Hans Robert Jauss - A História Da Literatura Como Provocação À Teoria LiteráriaDocumento6 páginasHans Robert Jauss - A História Da Literatura Como Provocação À Teoria LiteráriaRenan GerundoAinda não há avaliações
- Literatura e Sociedade HojeDocumento12 páginasLiteratura e Sociedade HojeAndré OliveiraAinda não há avaliações
- Literatura Comparada - CompletoDocumento40 páginasLiteratura Comparada - CompletoAline Cristina MazieroAinda não há avaliações
- GAGLIARDI, Caio. O Problema Da Autoria Na Teoria Literária.. Apagamentos, Retomadas e RevisõesDocumento15 páginasGAGLIARDI, Caio. O Problema Da Autoria Na Teoria Literária.. Apagamentos, Retomadas e RevisõesAnonymous QMFYEGcfZ7Ainda não há avaliações
- Teoria Literária: Fundamentos e AbordagensDocumento17 páginasTeoria Literária: Fundamentos e AbordagensJohnLocke0% (1)
- Adriana Iozzi Kleini - O Artista Como Crítico Sobre Italo Calvino EnsaístaDocumento6 páginasAdriana Iozzi Kleini - O Artista Como Crítico Sobre Italo Calvino EnsaístaEren BaytarAinda não há avaliações
- Daniel Buren no GuggenheimDocumento10 páginasDaniel Buren no GuggenheimIvair ReinaldimAinda não há avaliações
- IFCE - Análise dos métodos históricos na literaturaDocumento4 páginasIFCE - Análise dos métodos históricos na literaturaAylana DuarteAinda não há avaliações
- CARVALHAL, Tânia Franco. Vinte e Cinco Anos de Crítica Literária No Brasil - Notas para Um BalancoDocumento7 páginasCARVALHAL, Tânia Franco. Vinte e Cinco Anos de Crítica Literária No Brasil - Notas para Um BalancogabrielbiscoitoAinda não há avaliações
- Momento Crítico - Dos Rodapés À Academia, o Impasse Da Crítica Literária Publicada Nos JornaisDocumento81 páginasMomento Crítico - Dos Rodapés À Academia, o Impasse Da Crítica Literária Publicada Nos JornaisGabriela AlmeidaAinda não há avaliações
- Literatura Comparada Ontem e Hoje Campo EpistemoloDocumento19 páginasLiteratura Comparada Ontem e Hoje Campo EpistemoloWongtellingAinda não há avaliações
- Aula 8 - O Formalismo Russo e o EstruturalismoDocumento16 páginasAula 8 - O Formalismo Russo e o Estruturalismoluciana100% (2)
- O Que é um Clássico segundo Sainte-BeuveDocumento26 páginasO Que é um Clássico segundo Sainte-BeuveMateus SilvaAinda não há avaliações
- A LiterariedadeDocumento10 páginasA LiterariedadeMgsfariaAinda não há avaliações
- PCC 6º SemestreDocumento5 páginasPCC 6º SemestreKellyBarbosaAinda não há avaliações
- Os marxistas e a arte analisadoDocumento7 páginasOs marxistas e a arte analisadoHitallo VianaAinda não há avaliações
- Henri Bergson e a intuição filosófica em Evaldo CoutinhoDocumento13 páginasHenri Bergson e a intuição filosófica em Evaldo CoutinhoZecaVianaAinda não há avaliações
- Fronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoNo EverandFronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoAinda não há avaliações
- Literatura e interartes: rearranjos possíveis: Volume 1No EverandLiteratura e interartes: rearranjos possíveis: Volume 1Ainda não há avaliações
- As razões da voz: entrevistas com protagonistas da poesia sonora no século XXNo EverandAs razões da voz: entrevistas com protagonistas da poesia sonora no século XXAinda não há avaliações
- A CartomanteDocumento3 páginasA CartomanteHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO Taffarel Bandeira GuedesDocumento189 páginasDISSERTAÇÃO Taffarel Bandeira GuedesHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- Trovadorismo A ClassicismoDocumento35 páginasTrovadorismo A ClassicismoAlex Júnior Costa da Silva100% (7)
- 50 Pensadores Que Formaram o Mundo ModernoDocumento235 páginas50 Pensadores Que Formaram o Mundo ModernoRute SouzaAinda não há avaliações
- A CarteiraDocumento5 páginasA CarteiraHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- 26 Antonio MartinsDocumento12 páginas26 Antonio MartinsEgidio MaozeAinda não há avaliações
- As Origens Da Arte e As Razões Do HomemDocumento9 páginasAs Origens Da Arte e As Razões Do HomemHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- AtividadeDocumento4 páginasAtividadeHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- A Linguagem Como Um Instrumento de INTERAÇÃODocumento2 páginasA Linguagem Como Um Instrumento de INTERAÇÃOHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- Apostila 1 Simulados Conhecimentos Pedagógicos PDFDocumento48 páginasApostila 1 Simulados Conhecimentos Pedagógicos PDFLuciana Paz100% (2)
- 50 Pensadores Que Formaram o Mundo ModernoDocumento235 páginas50 Pensadores Que Formaram o Mundo ModernoRute SouzaAinda não há avaliações
- SócratesDocumento253 páginasSócratesjose_carlos_da_4581100% (8)
- A Decima Segunda Noite - Luis Fernando Verissimo PDFDocumento90 páginasA Decima Segunda Noite - Luis Fernando Verissimo PDFRoberto P. MouraAinda não há avaliações
- Vestibular UECE 2019 prova conhecimentos geraisDocumento23 páginasVestibular UECE 2019 prova conhecimentos geraisHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- O Estudo Analítico Do PoemaDocumento101 páginasO Estudo Analítico Do PoemaCláudia Maria de Vasconcellos100% (3)
- Analise de Pos-Tudo Metalinguagem Na Poe PDFDocumento7 páginasAnalise de Pos-Tudo Metalinguagem Na Poe PDFHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- Acordes Violão CompletoDocumento82 páginasAcordes Violão CompletoHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- Dicionario de SociologiaDocumento477 páginasDicionario de SociologiaVanderlei HermesAinda não há avaliações
- Carta À FamíliaDocumento1 páginaCarta À FamíliaHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- 50 Pensadores Que Formaram o Mundo ModernoDocumento235 páginas50 Pensadores Que Formaram o Mundo ModernoRute SouzaAinda não há avaliações
- Semântica lexical emDocumento3 páginasSemântica lexical emHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- AsTeoriasSigno SignificacoesLinguisticaDocumento23 páginasAsTeoriasSigno SignificacoesLinguisticaClaudia Silveira BuenoAinda não há avaliações
- Análise da história da literatura brasileira de Lúcia Miguel-Pereira e seu enfoque na prosa de ficção entre 1870-1920Documento9 páginasAnálise da história da literatura brasileira de Lúcia Miguel-Pereira e seu enfoque na prosa de ficção entre 1870-1920Helder Gondim GondimAinda não há avaliações
- AsTeoriasSigno SignificacoesLinguisticaDocumento23 páginasAsTeoriasSigno SignificacoesLinguisticaClaudia Silveira BuenoAinda não há avaliações
- Bocage Arte e VivenciaDocumento14 páginasBocage Arte e VivenciaHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- AsTeoriasSigno SignificacoesLinguisticaDocumento23 páginasAsTeoriasSigno SignificacoesLinguisticaClaudia Silveira BuenoAinda não há avaliações
- 4 EstilisticaDocumento15 páginas4 EstilisticaHelder Gondim GondimAinda não há avaliações
- Teorias sobre progressões harmônicasDocumento59 páginasTeorias sobre progressões harmônicasMarcello Caminha FilhoAinda não há avaliações
- IFRN Campus Natal Cidade Alta analisa o conto Desenredo de Guimarães RosaDocumento1 páginaIFRN Campus Natal Cidade Alta analisa o conto Desenredo de Guimarães RosageisyydiasAinda não há avaliações
- A Guardiã das Estórias de CuraDocumento2 páginasA Guardiã das Estórias de CuraMarina JunqueiraAinda não há avaliações
- Lançamento Pedra Fundamental Congregação Vivendo AvivamentoDocumento2 páginasLançamento Pedra Fundamental Congregação Vivendo AvivamentoNélio MeloAinda não há avaliações
- PDFDocumento42 páginasPDFMark Faviere100% (3)
- Moodle - Ficha 1Documento4 páginasMoodle - Ficha 1Carlos FragosoAinda não há avaliações
- Sacramento Da Eucaristia e CrismaDocumento3 páginasSacramento Da Eucaristia e CrismaManuel Alves100% (1)
- Atividade Discursiva I - ED Ética e Relações No TrabalhoDocumento6 páginasAtividade Discursiva I - ED Ética e Relações No TrabalhobrunovoselicAinda não há avaliações
- Olhos fixos no defuntoDocumento2 páginasOlhos fixos no defuntoivanquareAinda não há avaliações
- Tecnico de Animaco 2D e 3DDocumento37 páginasTecnico de Animaco 2D e 3DACGLAinda não há avaliações
- Proposta Pedagógica-Tema para 2019Documento9 páginasProposta Pedagógica-Tema para 2019Marcos Wendel GalindoAinda não há avaliações
- Missa Sertaneja canto de comunhãoDocumento1 páginaMissa Sertaneja canto de comunhãolu_sp_367371Ainda não há avaliações
- História da Arte de 15.000 a.C. a 2001 emDocumento2 páginasHistória da Arte de 15.000 a.C. a 2001 emRodriguesRP100% (2)
- Novas diretrizes para reuniões da Sociedade de Socorro em 2019Documento13 páginasNovas diretrizes para reuniões da Sociedade de Socorro em 2019Ju gacha penaAinda não há avaliações
- O Rito Adonhiramita - História e Idiossincrasias PDFDocumento22 páginasO Rito Adonhiramita - História e Idiossincrasias PDFAlfredo Luiz CostaAinda não há avaliações
- História da Literatura JaponesaDocumento25 páginasHistória da Literatura JaponesaFernanda NishiokaAinda não há avaliações
- Homilia 5 Domingo Tempo Comum Ano BDocumento3 páginasHomilia 5 Domingo Tempo Comum Ano Bmuriloguesser3278Ainda não há avaliações
- Nibiru e os Anunnaki: a origem da humanidade segundo os sumériosDocumento12 páginasNibiru e os Anunnaki: a origem da humanidade segundo os sumériostrancedj2003Ainda não há avaliações
- Fei Hok Phai: o estilo da garça voandoDocumento24 páginasFei Hok Phai: o estilo da garça voandoPontaraAinda não há avaliações
- PLNMDocumento2 páginasPLNMSofia Carreira100% (1)
- Teatro Do Oprimido e Outras Poc3a9ticas Polc3adticas 1 PDFDocumento223 páginasTeatro Do Oprimido e Outras Poc3a9ticas Polc3adticas 1 PDFHJUSTO67% (3)
- Entendendo o Dispensacionalismo j2Documento7 páginasEntendendo o Dispensacionalismo j2Herlane CostaAinda não há avaliações
- Ano A 4 Tempo Comum (Trindade em Diante) 2008Documento164 páginasAno A 4 Tempo Comum (Trindade em Diante) 2008MarlonAinda não há avaliações
- Tipos de lajes de concreto: vantagens e desvantagensDocumento10 páginasTipos de lajes de concreto: vantagens e desvantagensMarina SeabraAinda não há avaliações
- Relação cursistas sem envio Módulo 3Documento2 páginasRelação cursistas sem envio Módulo 3Cristiano TavaresAinda não há avaliações
- Questões Brasil Colônia ENEM 2010 a 2018Documento18 páginasQuestões Brasil Colônia ENEM 2010 a 2018Luiz GustavoAinda não há avaliações
- Dinâmicas de Grupo para ApresentaçãoDocumento10 páginasDinâmicas de Grupo para ApresentaçãoThais SansoniAinda não há avaliações
- Planejamento de aulas de Português, Matemática, Ciências, Geografia e HistóriaDocumento7 páginasPlanejamento de aulas de Português, Matemática, Ciências, Geografia e HistóriaLizandra Mesquita lizaAinda não há avaliações