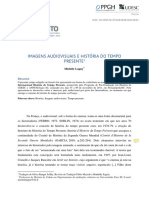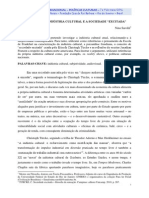Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Catalogo Forumdoc 2010
Enviado por
dougresendeDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Catalogo Forumdoc 2010
Enviado por
dougresendeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
14 0 festival do filme documentário e etnográfico - fórum de antropologia, cinema e vídeo
catalogo.indd 1 04.11.10 00:20:17
catalogo.indd 2 04.11.10 00:20:17
verdade e criação no cinema direto:
de suas origens às bolinHas de papel
ruben caixeta de queiroz
Todo mundo que vota na Dilma é semi-analfabeto, ignorante e SÓ PODE ser
nordestino. Esse povinho medíocre, mas coitados! Eles vivem na seca e a terra é toda
rachada. É só dar 100 reais e fazer uma política de pão e circo que a gente continua
contando com eles como massa de manobra!
(De um eleitor de José Serra, publicado na internet)
A antropologia moderna, aquela inaugurada por Malinowski,
na década de 1920, constituiu-se com base num conjunto de princípios
metodológicos que previa uma boa formação teórica do pesquisador e
sua longa inserção no campo para colher dados de uma outra realidade
social, lingüística e cultural, completamente distinta daquela de origem do
antropólogo. A preocupação principal era evitar que tal realidade “outra”
observada fosse filtrada pelas lentes preconceituosas do homem ocidental,
tal como procediam os relatos dos viajantes, missionários e administradores
coloniais. A longa pesquisa de campo apresentava-se como um período
para mergulhar no outro mundo, e, ao mesmo tempo, desfazer-se do “meu”
mundo. Contudo, na volta para casa, quando o “estudioso” de outras culturas
tinha que transformar seus dados brutos em um texto, não mais na língua
nativa mas na sua língua (o inglês, no caso), um constrangimento muito sério
lhe apresentava: será que, nesta tradução/transformação, os termos nativos
da outra cultura não seriam traídos? E, uma vez traduzidos, será que o leitor
compreenderia tais termos na lógica nativa, e, confiaria na tradução proposta?
Tais perguntas circundavam em torno de uma questão mais simples: será que
o acontecimento/fato relatado existiu e me foi transmitido tal qual?
De fato, hoje isso é de mais fácil compreensão (nem por isso
significa uma verdade ou unanimidade), sabemos que a coisa e o fato não
existem antes e independentemente da “visão” e da descrição que lhe
237
catalogo.indd 237 04.11.10 00:20:41
é proposta. Mas é preciso ver este dilema do início da antropologia
moderna como um esforço por se constituir como ciência (isto é,
seguindo certas regras metodológicas, na tentativa de descobrir leis de
funcionamento da sociedade humana), e como uma ciência eticamente
responsável, isto é, apesar de constatar que toda observação do humano
(e mesmo do não-humano) não opera sem a subjetividade ou sem a
invenção, é preciso do pesquisador um esforço para deixar-se impregnar
pelo “dado” e pela “lógica” do observado. Diria que o etnógrafo moderno
encontra-se enlaçado num duplo movimento: é preciso ser afetado pelo
“nativo” e, ao mesmo tempo, convencer o seu leitor de que esteve lá no
campo, que viu o fato narrado tal como acontecido. Vejo esta a razão
pela qual o texto “Argonautas do Pacífico Ocidental” de Malinowski
é construído no presente, como se o leitor estivesse lá, observando no
lugar de Malinowski. Pergunta-se ao leitor: eles são tão diferentes assim?
Eles são humanos? Sim, responde o etnógrafo, eles são eles, estive lá,
você, leitor, espanta-se pelo fato de que eles não são como você, eles são
outros humanos, a realidade é outra. Duvida? Aqui estão as fotos, no
final do livro, veja com os seus próprios olhos, as fotografias! Ou seja, o
que o etnógrafo faz é mostrar-se no presente etnográfico, é mostrar que
esteve participando daquilo que foi narrado.
Entre 1958 e 1962, o surgimento do cinema direto – na
verdade, esta categoria “cinema direto” engloba outras vertentes que
se referiam a um movimento do documentário que ocorria numa
mesma época e em diversos países, tais como: “free cinema”, da escola
documentarista inglesa (1956-1960); “candid-eye”, do grupo anglófono
canadense do National Film Board (NFB); “cinéma spontané” e “cinéma
vécu”, do grupo francófono do mesmo NFB (entre eles, Pierre Perrault
e Michel Brault); “living camera” do grupo de jornalistas em torno do
Drew Associates (1959-1960); “cinema do comportamento” de Richard
Leacock e Pennebaker; “cinema verdade” dos franceses Jean Rouch e
Edgard Morin1 – apresentou uma questão semelhante mas invertida
238
catalogo.indd 238 04.11.10 00:20:41
àquela da antropologia moderna: podemos filmar e captar o real tal
qual ele apareceria se não fosse filmado? Agora, no cinema direto, a
força da imagem seria suficiente para convencer o espectador da verdade
dos fatos, de que o mostrado existe porque foi extraído diretamente da
realidade. Neste sentido, a narrativa do documentário deveria esconder
e não revelar o processo de construção do filme, isto é, não deveria
mostrar no filme (em sua realização ou em sua montagem) a câmera e
o que estava atrás da câmera. Na verdade, tal busca pelo mundo real, às
vezes distante, jamais visto pelo observador ocidental (ou visto, mas não
formulado de forma consciente), já se configurava na obra de um dos
precursores do cinema etnográfico, como Robert Flaherty e seu filme
Nanook, o esquimó (1922). O que o cinema direto levou adiante e tirou
proveito, no final dos anos de 1950, foram as inovações tecnológicas –
equipamentos portáteis, som e imagem sincronizados – e, desta forma, se
aproximou mais do mundo real, das pessoas, das falas das pessoas: ou seja,
fugiu dos estúdios, deixou o roteiro de lado, acompanhou personagens
reais e trabalhou com “atores” não-profissionais. Tudo isso, igualmente,
já tinha sido inaugurado e levado adiante pelo cinema de Dziga Vertov
e de seu filme ainda hoje celebrado O homem com a câmera (1929).
Contudo, entre os dois, Flaherty e Vertov, uma diferença enorme se
apresentava quanto ao lugar que cabia o processo de construção do filme
na montagem do próprio filme: se em Flaherty a presença do diretor e
da câmera devia ser apagada ou minimizada na montagem final do filme
(chamemos isso de ilusionismo, ou, paradoxalmente, realismo), em
Vertov a própria construção do filme deveria ser revelada na montagem
do final do filme (chamemos isto de construtivismo).
No cinema direto, há dois filmes emblemáticos que marcam a
diferença apontada acima: o primeiro deles seria o documentário norte-
americano Primary (1960), dirigido por Robert Drew; o segundo seria
o francês Chronique d’un été (1960) de Jean Rouch e Edgar Morin.
Teóricos atuais do cinema documentário têm tentado definir estas duas
239
catalogo.indd 239 04.11.10 00:20:41
maneiras e estilos de mise en scène: o primeiro (a do direto americano)
definida como “cinema de observação”; a segunda (a do cinema verdade
francês), “cinema de interação”. De forma mais didática, Erik Barnouw
resumiu assim a distinção entre as duas tendências:
O documentarista do cinema direto levava sua câmera
para uma situação de tensão e torcia por uma crise; a
versão de Rouch do cinema-verdade tentava precipitar
uma. O artista do cinema direto aspirava à invisibilidade; o
artista do cinema-verdade de Rouch era frequentemente
um participante assumido. O artista do cinema direto
desempenhava o papel de um observador neutro; o artista
do cinema-verdade assumia o de provocador. (Barnouw
apud DA-RIN 2004: 150-151)
Contudo, penso que esta divisão entre os dois estilos é muito
simplista e pouco fecunda, por várias razões. Em primeiro lugar, do lado do
cinema de Jean Rouch, é preciso afirmar que ele é múltiplo e diverso. Aliás,
Jean Rouch afirmou por diversas vezes que dois de seus maiores inspiradores
foram propriamente Flaherty e Vertov. Ao longo da sua obra, há filmes que
se aproximam de um estilo ou de outro, da observação ou da provocação, da
ciência ou da poesia. Chronique d’un été é um manifesto ou um experimento
assumidamente vertoviano, que afirma que a realidade só existe a partir
da sua fabricação, do inconsciente que vem à tona por aproximação e por
encenação. E a quem Jean Rouch recorre para ser o câmera deste filme?
Michel Brault, do cinema documentário canadense; quem, aliás, trouxe
para o cinema verdade francês princípios e técnicas fundamentais de Les
raquetteurs (1958), filme no qual o uso da grande angular combina com o
uso da câmera na mão, levando a aproximação do cineasta com as pessoas
e com os gestos das pessoas filmadas. Além disso, encontramos na obra
de Jean Rouch, uma década depois de Chronique d’un été, filmes que são
rigidamente descritivos e observacionais, como aqueles da série Sigui (1967-
1974) ou Horendi (1972)2.
240
catalogo.indd 240 04.11.10 00:20:41
Em segundo lugar, do lado do cinema direto americano, a
chamada “invisibilidade” da câmera e dos processos de construção do
filme, que foi considerada ou tem sido considerada pelos defensores
da “interatividade” – que, no cinema documentário brasileiro, sempre
gozaram de uma grande aceitabilidade; a razão disto ainda está por ser
revelada – como prova de uma ingenuidade ou uma crença equivocada na
força do real, deveria ser considerada, pelo menos do meu ponto de vista,
como uma grande virtude da sua produção. Os filmes do direto americano
são tão construtivistas quanto os “interativistas”, e os realizadores deste
cinema (americanos ou canadenses) sabem bem disso: a prova maior
talvez seja o filme Pour la suite du monde (1963) de Pierre Perrault
e Michel Brault. Até mesmo toda a produção de Frederik Wiseman,
que, em geral, têm como personagem principal as instituições (hospital,
zoológico, escolas etc.), é uma prova de um cinema que, sem ter que
revelar na montagem a câmera e quem está por trás dela, se aproxima
das pessoas filmadas, trava com elas um diálogo, que, evidentemente, é
cortado, construído no momento da edição; tudo isso feito no intuito de
se colocar o mais próximo possível do “pensamento nativo” – o que está
sujeito, evidentemente, a traições (como toda tradução) e reformulações.
Certa vez, ao ser interrogado se sua câmera não constrangia as pessoas
filmadas, e se as pessoas não atuavam diante da câmera – de todo modo,
se isso acontecia, não aparecia de forma alguma na versão montada -,
Wiseman respondeu que não, que, depois de horas e horas de filmagem,
os personagens de seus filmes passavam a se comportar como se não
houvesse câmera ali filmando, ou como se a câmera e o realizador
fossem apenas mais um elemento do cenário. E, além disso, completava
Wiseman, é um equívoco pressupor esta separação entre representação e
mundo real, entre vida e encenação, pois o próprio mundo que vivemos
e suas instituições (a justiça, a escola, os manicômios com seus loucos
e médicos que tratam dos loucos...) são feitos de representação, são
jogos nos quais atuam personagens, com efeitos reais e ficcionais tão
maravilhosos quanto desastrosos. E sobre isso, um filme extraordinário
241
catalogo.indd 241 04.11.10 00:20:41
é The Chair (1962) de Richard Leacok: farsa, drama, sofrimento,
angústia, espera, vazio, falta de sentido, violência, cinismo, inverdades,
tudo construído e apresentado no filme a partir de um mundo real e
encenado ao mesmo tempo;3 mundo perverso neste caso, naquele da
justiça penal e de sua instituição nos Estados Unidos4.
Neste sentido, cabe menos negar, e mais aproximar, fazer
coincidir, os dois estilos de cinema direto, o americano e o francês.
Ambos são portadores daquilo que eu e César Guimarães definimos
provisoriamente como “marca” do documentário, e que significa uma
diferença, ainda que sutil, entre sua prática e aquela da ficção: os filmes
documentários são submetidos ao risco do real e se constróem a partir
de um acolhimento no filme da mise en scène das pessoas filmadas.5
Dito isto, cabe situar um lugar no qual o cinema documentário
americano se diferencia do cinema verdade francês: é aquele do registro
da palavra. Silvio Da-Rin (2004: 152) apresenta de forma muito bem
resumida o pensamento destas diferenças: 1) Richard Leacock considera
fundamental “a forma como as pessoas se comunicam, ou seja, falando”,
mas esta fala deve ser vista como intrínseca à espontaneidade humana
e deve ser captada nas falas dos atores entre si; 2) já Edgar Morin
de Chronique d’un été achava que “o ato, afinal, é a palavra; o ato se
traduz através de diálogos, das discussões, conversas”, incluindo aquelas
entre os atores e entre os cineastas (que são, portanto, também atores
do filme) e as pessoas filmadas. A apresentação desta dupla e distinta
posição sobre o lugar da palavra no documentário, que ocorreu numa
data e num lugar preciso, em 1963 na cidade francesa de Lyon, ainda
ressoa no debate contemporâneo. O texto do crítico francês Jean Louis
Comolli, “No lipping”, escrito em meados da década de 2000, é uma
recusa do discurso daqueles que se manifestam e se sublevam, pelo jeito
de forma bastante freqüente, contra o uso da palavra (do blablablá) no
documentário. Contra esta postura, que, segundo o crítico, na verdade,
quer negar a palavra e o pensamento dos sujeitos filmados (e, no seu
242
catalogo.indd 242 04.11.10 00:20:41
lugar, apresentar a “voz” do dono, da “mídia” ou da publicidade, que,
neste caso, pode ser apenas travestida de “belas” imagens), é preciso
que o documentarista se invista da palavra das pessoas filmadas, do seu
corpo, da sua palavra no corpo, que é uma palavra subjetiva, particular,
de um lugar, e que ninguém pode falar ou exprimir de um outro lugar.
Reside aí a honestidade do documentário, um compromisso com o
pensamento das pessoas abordadas no cinema, mesmo que elas sejam
nossas inimigas. Comolli (2008: 332) chega mesmo a citar, em nota
de rodapé, uma frase atribuída a Pierre Perrault: “se eu olhar homens
que gesticulam, constróem, caçam, pescam, estarei fazendo zoologia. O
estudo do homem começa pela palavra”.
Esta honestidade do documentário não deve ser confundida
com uma busca ingênua da palavra ou da imagem enquanto cópia do
mundo real, pois, sempre há, mesmo no mundo real (no mundo vivido,
não-filmado), uma distância enorme entre as palavras e as coisas.
Vejamos.
Filmar é trazer cinema ao mundo, transformá-lo em
cinema. Somente uma ilusão religiosa de transparência
e de imanência nos faz crer que nossa relação com o
mundo não é, de saída, feita de intervenção, de alteração.
E mesmo que filmar se limitasse a captar e gravar, isso
já seria, sempre, colocar em relação e construir, tecer,
tramar, colar, conjugar: não é necessário que a câmera
e aquilo que ela filma sejam montados em conjunto
para fabricar uma cena? Nada de escritura, pois, sem
manipulação do mundo. Toda a questão é saber como
e com que objetivo, por intermédio de que lógicas,
em que pensamentos sobre as coisas. Tudo é escritura,
mas nem todas as escrituras se equivalem e apenas
algumas podem pretender, além de sua eficácia,
uma honestidade ou autenticidade (grifo meu).
243
catalogo.indd 243 04.11.10 00:20:41
Como julgá-las? Rejeitando os procedimentos que
desprezam o espectador. Um espectador desprezado
representa desprezo para todos os outros. E vemos
esse desprezo, dia após dia, agir nos procedimentos da
televisão moldada pela publicidade. Não é por acaso
que a publicidade, modelo do consumo audiovisual, é
uma espécie de lixeira da palavra, isso se deve ao mau
acabamento das dublagens e da pós-sincronização.
Devemos compreender a produção da palavra filmada
na atualidade como o lugar de uma guerrilha sem
nome: há o campo da “palavra destruída”, que são as
mídias em seu funcionamento majoritário; há aquele
da palavra construída após a ruína, que sempre foi e
continua sendo aquele do cinema, hoje do cinema
documentário. (Comolli 2008: 120)
Certa vez (nas famosas aulas de Jean Rouch na Cinemateca
Francesa, nos sábados matinais, lá por volta de 1995), Richard
Leacock disse que não mais sentia prazer em fazer documentários na
atualidade, pois: 1) seria quase impossível seguir personagens (como
fora possível com aqueles do filme Primary, dois candidatos em jogo
na disputa pela indicação pelo partido democrático do candidato para
presidente dos Estados Unidos6) no mundo contemporâneo, onde
se tem que disputar lugar e espaço com uma multidão de jornalistas
atrás da imagem e da palavra; 2) neste contexto, mesmo se a imagem
e a palavra fossem captadas pelo documentarista, ela não poderia
competir com aquelas mostradas e fabricadas pela mídia, pelos planos
previamente traçados pelo sabor e interesse do marketing, ou seja, o
“real”, neste caso, seria menos verdadeiro, teria menos apelo, do que
o mundo veiculado pela publicidade. Ao lembrar deste debate, não
tenho como não trazer à tona a recente disputa presidencial no Brasil
entre Dilma Roussef e José Serra.
244
catalogo.indd 244 04.11.10 00:20:41
Em primeiro lugar, sabemos que aquilo que os candidatos estão
a dizer nos seus programas de televisão, nos seus pronunciamentos, nos
seus próprios “programas” de governo, na blogosfera, pode ser tudo, menos
uma vontade mínima de se aproximar da verdade dos fatos, de honrar o
compromisso com o eleitor (ou com o espectador). Na verdade, tudo o
que dizem é previamente ensaiado-tramado pelos marqueteiros7. Neste
jogo, o espectador (ou eleitor), que deveria ser tratado como portador de
uma subjetividade e dotado de uma capacidade de discernimento (entre
o bem e o mal, na linguagem da propaganda serrista), é tratado como
imbecil. E é no mundo da internet que vemos com mais freqüência, sem
pudor, a exibição de todas as armas publicitárias e todos os preconceitos,
como aquele do eleitor de José Serra citado na epígrafe: “Todo mundo
que vota na Dilma é semi-analfabeto ignorante e SÓ PODE ser
nordestino. Esse povinho medíocre, mas coitados! Eles vivem na seca
e a terra é toda rachada. É só dar 100 reais e fazer uma política de
pão e circo que a gente continua contando com eles como massa de
manobra”. Nos debates televisivos, o que vemos é tudo, menos o debate
de idéias: primeiro, o que se mostra ali é o que previamente foi pensado
para ser dito pelos marqueteiros, e, depois de ser dito no debate, o que
vai ser reproduzido e repetido no dia seguinte pela mídia, pelo próprio
programa dos candidatos e pela opinião pública de uma forma geral.
Nestas imagens e discursos publicitários de campanha, há de tudo,
menos honestidade e compromisso com o mundo vivido das pessoas e
com o que pensam essas pessoas; parece que tudo pode ser manipulado
e fabricado, inclusive os fatos, desde que rendam dividendos eleitorais.
Vejamos um exemplo concreto, à título de conclusão.
Todos vão se recordar da famosa bolinha de papel, que atingiu
a cabeça do candidato José Serra durante uma caminhada nas ruas do
bairro Campo Grande, Rio de Janeiro. A campanha do candidato, em
desvantagem nas sondagens de opinião, precisava de um fato novo,
de preferência que provocasse na opinião pública uma repulsa às
245
catalogo.indd 245 04.11.10 00:20:41
estratégias dos adversários, que lhe imputasse uma imanente violência, ódio,
agressividade. Ficamos sabendo através de uma reportagem do SBT no dia
seguinte: no percurso da caminhada, os militantes do PSDB encontraram-
se com os militantes do PT; houve um começo de hostilidade; o candidato
José Serra recebeu na cabeça uma bolinha de papel, mas continuou andando
normalmente; de repente, recebeu um telefonema; logo em seguida decidiu
abandonar a caminhada e ir fazer uma tomografia no hospital. Logo depois
do incidente, antes da reportagem citada, os jornais e os blogues já haviam
disparado: “o candidato Serra levou uma pancada na cabeça de militantes
petistas, foi parar no hospital”. No dia seguinte, como dito, através de uma
reconstrução de trechos de imagens captadas no momento do acontecimento,
sobrepostas a uma locução, a reportagem do SBT deixava claro para o
espectador que tudo não passava de uma farsa, ou melhor, que a bolinha
de papel só poderia mesmo ter servido, naquele caso, para produzir uma
“imagem” violenta dos petistas. No dia seguinte, a rede Globo de televisão,
oponente aos petistas na disputa eleitoral, e ao canal de televisão SBT, mostrou
uma outra versão dos fatos, contemplada por imagens produzidas por uma
câmera de vídeo e uma câmera de telefone celular: tais imagens, sobrepostas a
uma locução, foram manipuladas para mostrar que, de fato, o candidato tinha
sido atingido por uma bolinha de papel, mas também por um outro objeto
“não-identificado”, mas que parecia ser uma bobina de fita crepe, que, esta
sim, teria machucado o candidato. Pelo que diziam as imagens, sobretudo
devido a sua qualidade, não podemos, nós telespectadores, nos convencer
da “verdade” do acontecido, que é afirmada pela palavra do locutor. Diante
disso, a produção da informação jornalística busca no depoimento de um
perito especialista, Ricardo Molina8, a prova que as imagens (sem análise)
não podem oferecer. Do seu escritório de trabalho, depois de ter analisado as
imagens, ele apresenta a “verdade” de frente para as câmeras da Globo: “de
fato, houve dois eventos, um no qual o candidato Serra foi atingido por uma
bolinha de papel, sem causar danos, e outro no qual ele foi atingido por um
objeto mais pesado, provavelmente, uma fita crepe, que, este sim, teria lhe
machucado.” Quase que de forma simultânea, é divulgado na Internet um
246
catalogo.indd 246 04.11.10 00:20:41
vídeo no qual um professor universitário analisa e desmonta a montagem
feita pela rede Globo que fora veiculada no seu Jornal Nacional. Na verdade,
conclui-se a desmontagem, pode até ser que o candidato Serra tenha sido
atingido por dois ou mais objetos, leves ou mais pesados, mas, pela imagem
montada pela rede Globo, apenas podemos ver a primeira bolinha de papel;
o segundo “objeto não-identificado” mostrado pelas imagens (feitas a partir
de um celular) não passa de um borrão de imagem, resíduo da imagem de
um personagem localizado atrás do candidato, tudo apresentado através de
uma fusão de montagem que se quer passar para o espectador como um
único plano seqüência.
O que quero sublinhar com a descrição deste evento é que tanto
na montagem da reportagem do SBT quanto na montagem da rede Globo,
quanto na desmontagem do professor de comunicação da imagem feita
pela rede Globo, há uma manipulação do mundo, há uma escritura. Mas,
como diria Comolli, a questão aqui é saber como e com que objetivo e por
intermédio de que lógicas todas estas imagens são produzidas e veiculadas.
Sem dúvida nenhuma, na produção da informação do caso relatado,
podemos dizer que não há nenhum compromisso com a honestidade e com
a autenticidade.
Enfim, manipulação há em qualquer esforço de re-construção ou
escritura do real através do cinema. Manipulação há em qualquer escritura
de uma etnografia que quer traduzir o pensamento e o mundo vivido por
uma outra realidade. Contudo, seja no documentário, seja na etnografia,
se há de saída o dado da intervenção e alteração do mundo observado, há
também a honestidade de tentar se aproximar ao máximo do ponto de vista
do nativo e da sua ontologia, ou, dito numa linguagem baziniana, nestas
duas práticas carrega-se uma certeza de que há, nem que seja uma faísca, um
resíduo, um ruído do mundo real, e trata-se antes de tudo de guardá-lo
com profundo respeito. Nisto reside a autenticidade do documentário
do cinema direto. Autenticidade que é negada pela publicidade e pela
reportagem de televisão hoje em dia.
247
catalogo.indd 247 04.11.10 00:20:41
REFERÊNCIAS
DA-RIN, Silvio. Espelho Partido: tradição e transformação do documentário.
Rio de Janeiro, Azougue Editorial, 2004.
COMOLLI, Jean-Louis. Ver e Poder: a inocência perdida: cinema, televisão,
ficção, documentário. Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2008.
GUIMARÃES, César & CAIXETA DE QUEIROZ, Ruben. Pela
distinção entre ficção e documentário, provisoriamente. In COMOLLI,
Jean-Louis. Ver e Poder: a inocência perdida: cinema, televisão, ficção,
documentário. Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2008.
PARENTE, André. Narrativa e Modernidade: os cinemas não-narrativos
do pós-guerra. Campinas, Papirus, 2000.
1
Conferir Silvio Da-Rin (2004: 106) e André Parente (2000: 112).
2
Ainda deveríamos lembrar que Jean Rouch estabeleceu ao longo de sua trajetória um diálogo com
antropólogos e cineastas os mais diversos, tendo isto refletido na sua obra. Apenas para citar en
passant: toda uma geração de antropólogos que se inicia em Marcel Mauss e Marcel Griaule, passa por
Germaine Dieterlen e Margaret Mead, encontra-se com Michel Leiris e Gilbert Rouget, flerta com o
cinema documentário norte-americano de Timoty Asch e John Marshall.
3
Neste filme, são extraordinários todos os diálogos e palavras captados em som direto, bem como são
o silêncio e o não-dito.
4
Neste sentido, além de The Chair, não poderíamos deixar de citar pelo menos quatro outros: um dos
irmãos Mayles, Salesman (1969); e três de Wiseman, Titicut Follies (1967), High School (1968) e
Hospital (1970). Na sociedade do espetáculo, na qual vivemos hoje, de fato, somos filmados o tempo
todo, e, parece-nos, o que é artificial e inautêntico é exatamente um mundo sem a câmera, sem o seu
duplo, a imagem. Sobre isso, ver o belo filme de Kiarostami Close-up (1990) e a sua belíssima análise
feita por Jean-Louis Comolli (2008: 296-300).
5
Conferir, César Guimarães e Ruben Caixeta de Queiroz (2008).
6
O filme de João Moreira Sales, Entreatos (2004), sobre a primeira campanha presidencial vitoriosa
de Lula, pode ser visto como uma espécie de Primary adaptada ao Brasil, o que prova que ainda, apesar
de tudo, há espaço para o filme documentário no mundo espetacularizado tal qual aquele desejado por
Richard Leacock. Outro exemplo, seria Vocação do Poder (2004) de Eduardo Escorel.
7
Às vezes, até mesmo copiado de outros mundos reais, como parece ter sido a campanha conservadora
e fundamentalista do candidato José Serra copiada dos Estados Unidos.
8
Cabe ressaltar que a reportagem da rede Globo faz questão de dar credibilidade ao informante:
Molina seria um cientista da prestigiosa Universidade de Campinas. Contudo, até nisso a verdade
é manipulada ou escondida do telespectador: Molina nesta ocasião já era um ex-professor desta
universidade, tendo sido afastado pela instituição por “más práticas administrativas”.
248
catalogo.indd 248 04.11.10 00:20:41
Você também pode gostar
- Candomblé-ÌYÀMÌ ÒSÒRÓNGÀDocumento94 páginasCandomblé-ÌYÀMÌ ÒSÒRÓNGÀcattyp100% (30)
- Die For You - Lovely LoserDocumento454 páginasDie For You - Lovely LoserMaria Oliveira100% (2)
- Pierre SorlinDocumento11 páginasPierre SorlinDaniela de CamposAinda não há avaliações
- Roteiro Documentario ContemporaneoDocumento18 páginasRoteiro Documentario ContemporaneoAnonymous UdpVS2100% (1)
- Metodos de Pesquisa Gerhardt e Silveira - 2009 UFRGSDocumento118 páginasMetodos de Pesquisa Gerhardt e Silveira - 2009 UFRGSManoel Augusto de Andrade80% (5)
- Apostila Aeronáutica Eaoear 2018 Engenharia Civil - 2 VolumesDocumento3 páginasApostila Aeronáutica Eaoear 2018 Engenharia Civil - 2 VolumesMIxdigital17% (6)
- FONEMA K 230308 110410Documento16 páginasFONEMA K 230308 110410Claudia LigockiAinda não há avaliações
- Historia e Cinema Uma Leitura Teorica de O Pequeno Principe PDFDocumento10 páginasHistoria e Cinema Uma Leitura Teorica de O Pequeno Principe PDFUNIVERSESTADUGOIMORRINHOAinda não há avaliações
- Num Ate 599Documento14 páginasNum Ate 599ArchaeoAnalytics Meeting100% (1)
- Roland Barthes - Ineditos...Documento7 páginasRoland Barthes - Ineditos...Issenguel AntónioAinda não há avaliações
- Como Fazer Documentários: Conceito, Linguagem e Prática de ProduçãoDocumento10 páginasComo Fazer Documentários: Conceito, Linguagem e Prática de ProduçãoLais TeixeiraAinda não há avaliações
- Cinema e Antropoceno: Novos sintomas do mal-estar na civilizaçãoNo EverandCinema e Antropoceno: Novos sintomas do mal-estar na civilizaçãoAinda não há avaliações
- BUCK-MORSS, Susan. A Tela Do Cinema Como Prótese de Percepção PDFDocumento21 páginasBUCK-MORSS, Susan. A Tela Do Cinema Como Prótese de Percepção PDFValquiria JohnAinda não há avaliações
- Elsaesser - Cinema Mundial - Realismo, Presença, Evidência PDFDocumento23 páginasElsaesser - Cinema Mundial - Realismo, Presença, Evidência PDFramayana.lira2398Ainda não há avaliações
- Gesto e PercepçãoDocumento25 páginasGesto e PercepçãoMariana Baltar100% (3)
- Sociologia Do CinemaDocumento20 páginasSociologia Do CinemaCarlos ReynaAinda não há avaliações
- Ferraz - A Piramide Humana de Jean RouchDocumento12 páginasFerraz - A Piramide Humana de Jean RouchLouise CarvalhoAinda não há avaliações
- Pornô - Contra-Análise Social e A Era de Ouro Do Obsceno FilmadoDocumento12 páginasPornô - Contra-Análise Social e A Era de Ouro Do Obsceno FilmadoAlex GonçalvesAinda não há avaliações
- Imagens Audiovisuais e História Do Tempo Presente - Michèle LagnyDocumento22 páginasImagens Audiovisuais e História Do Tempo Presente - Michèle LagnyÉbano NunesAinda não há avaliações
- A Relação Cinema-História e A Razão Poética Na Reconstrução Do Paradigma Histórico - Jorge NóvoaDocumento8 páginasA Relação Cinema-História e A Razão Poética Na Reconstrução Do Paradigma Histórico - Jorge Nóvoajuliane santana lópesAinda não há avaliações
- Do Comercial Ao ExperimentalDocumento19 páginasDo Comercial Ao ExperimentalFábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- Notas Sobre A Forma Do Documentário PDFDocumento21 páginasNotas Sobre A Forma Do Documentário PDFMarcos CaioAinda não há avaliações
- Derivas Da FicçaoDocumento18 páginasDerivas Da FicçaooscarguarinAinda não há avaliações
- A Construção Do Campo Cinematográfico O Nascimento de Um Meio de Comunicação SocialDocumento14 páginasA Construção Do Campo Cinematográfico O Nascimento de Um Meio de Comunicação SocialceciinhaferreiraAinda não há avaliações
- Altafini Thiago Cinema Documentario BrasileiroDocumento26 páginasAltafini Thiago Cinema Documentario BrasileiroPéricles MendesAinda não há avaliações
- FRESSATO, Soleni. Reflexões Sobre A Representação Do Povo No Cinema em Cineastas e Imagens Do Povo.Documento5 páginasFRESSATO, Soleni. Reflexões Sobre A Representação Do Povo No Cinema em Cineastas e Imagens Do Povo.Alexandre Vander VeldenAinda não há avaliações
- O Cine Eu Ou Como o Planeta Passou A Girar em Torno Do Meu UmbigoDocumento16 páginasO Cine Eu Ou Como o Planeta Passou A Girar em Torno Do Meu Umbigonina.ricciAinda não há avaliações
- Territórios no Cinema Brasileiro: A Visibilidade do LixoNo EverandTerritórios no Cinema Brasileiro: A Visibilidade do LixoAinda não há avaliações
- Cinema, Uma Técnica, Uma Representação e Um SimulacroDocumento12 páginasCinema, Uma Técnica, Uma Representação e Um SimulacroAna PaimAinda não há avaliações
- Imagens Audiovisuais e História Do Tempo PresenteDocumento22 páginasImagens Audiovisuais e História Do Tempo PresenteGeovane CarvalhoAinda não há avaliações
- Trabalho Final HistoriaDocumento6 páginasTrabalho Final HistoriaVitor SimoesAinda não há avaliações
- Historia Da Midia 6Documento12 páginasHistoria Da Midia 6Paulo PratesAinda não há avaliações
- Cinema MemóriaDocumento22 páginasCinema MemóriaMEIO ECIAinda não há avaliações
- Meize Caravana Farkas - ItinerariosDocumento12 páginasMeize Caravana Farkas - ItinerariosDébora CotaAinda não há avaliações
- Documento, Arquivo, Ensaio Fílmico - A Apropriação de Imagens Na Produção Audiovisual ContemporâneaDocumento18 páginasDocumento, Arquivo, Ensaio Fílmico - A Apropriação de Imagens Na Produção Audiovisual ContemporâneaWilker PaivaAinda não há avaliações
- Artigo Rouch Tessituras 3 10Documento8 páginasArtigo Rouch Tessituras 3 10Isabela VieiraAinda não há avaliações
- A BarbosaDocumento51 páginasA BarbosaIallif NatanAinda não há avaliações
- 5 - PIAULT, Marc Henri. "Espaço de Uma Antropologia Audiovisual"Documento11 páginas5 - PIAULT, Marc Henri. "Espaço de Uma Antropologia Audiovisual"Eduardo AraujoAinda não há avaliações
- Resenha NanookDocumento4 páginasResenha NanookVítorRodriguesAinda não há avaliações
- A Ilha Das Flores 05Documento7 páginasA Ilha Das Flores 05Honorato FabianoAinda não há avaliações
- Monografia - O Sequestro Do CinemaDocumento44 páginasMonografia - O Sequestro Do CinemaCrystal DuarteAinda não há avaliações
- A Noetica Do Video EtnograficoDocumento20 páginasA Noetica Do Video EtnograficoPatrícia Jeanny de Araújo Cavalcanti MedeirosAinda não há avaliações
- Projeto Cinema Doutorado 1Documento11 páginasProjeto Cinema Doutorado 1Diego TavaresAinda não há avaliações
- Cinema Mundial - Realismo, Evidencia, PresençaDocumento23 páginasCinema Mundial - Realismo, Evidencia, Presençaramayana.lira2398Ainda não há avaliações
- Eu Pertenço A Um Grupo de Seres MalditosDocumento15 páginasEu Pertenço A Um Grupo de Seres Malditosjeane reis alvesAinda não há avaliações
- Soc 51 MauroDocumento17 páginasSoc 51 MauroEduardo GomesAinda não há avaliações
- O Cinema Como Fonte Da HistóriaDocumento23 páginasO Cinema Como Fonte Da HistóriavaldenicioAinda não há avaliações
- Daniela Giovana Siqueira - DissertaçãoDocumento137 páginasDaniela Giovana Siqueira - DissertaçãoIsabel BeirigoAinda não há avaliações
- Primitivismo Artistico e Zoologicos Humanos Na Pintura e Cinema Expressionista20200204-82372-Tgnuyv-With-Cover-Page-V2Documento13 páginasPrimitivismo Artistico e Zoologicos Humanos Na Pintura e Cinema Expressionista20200204-82372-Tgnuyv-With-Cover-Page-V2Hitamara GollAinda não há avaliações
- Bilros: "O Drama Das Secas": Alegorias Da Fome No Filme Documentário de Rodolfo NanniDocumento25 páginasBilros: "O Drama Das Secas": Alegorias Da Fome No Filme Documentário de Rodolfo NanniAugusto LiraAinda não há avaliações
- Fundamentos Da FicçãoDocumento29 páginasFundamentos Da FicçãoDomingos BernardoAinda não há avaliações
- Palestra Despedagogias II FÓRUM UFRJ 2022, de AndréaFrançaDocumento11 páginasPalestra Despedagogias II FÓRUM UFRJ 2022, de AndréaFrançaAndrea França MartinsAinda não há avaliações
- Imagofagiaespanhol 2Documento15 páginasImagofagiaespanhol 2Andrea França MartinsAinda não há avaliações
- REVOLUÇÃO de 30 Artigo de - Noe FreireSandes & - Vera - BergerotDocumento15 páginasREVOLUÇÃO de 30 Artigo de - Noe FreireSandes & - Vera - BergerotJuliane SilvaAinda não há avaliações
- O Cinema de Eduardo CoutinhoDocumento7 páginasO Cinema de Eduardo CoutinhoRaffael LimaAinda não há avaliações
- Enganosas, As Imag343434ens de FilmesDocumento12 páginasEnganosas, As Imag343434ens de FilmesLuan GabrielAinda não há avaliações
- A Representacão Do Cotidiano No Filme PublicitárioDocumento12 páginasA Representacão Do Cotidiano No Filme PublicitárioMarcelo RibaricAinda não há avaliações
- Documentário e AntropologiaDocumento230 páginasDocumentário e AntropologiaPatrícia Nogueira100% (1)
- 2019 - Capliv - Jcsi Cinema NovoDocumento18 páginas2019 - Capliv - Jcsi Cinema NovoGlauco GusmãoAinda não há avaliações
- 1 OS INTELECTUAIS E O CINEMA NOVO, SUAS VINCULAÇÕES E SUAS PROPOSTAS. Hélton Santos Gomes RESUMO - O Objetivo Deste TrabalhoDocumento11 páginas1 OS INTELECTUAIS E O CINEMA NOVO, SUAS VINCULAÇÕES E SUAS PROPOSTAS. Hélton Santos Gomes RESUMO - O Objetivo Deste TrabalhoDanilo OliveiraAinda não há avaliações
- Evelyse Horn - Fotografia ExpressãoDocumento12 páginasEvelyse Horn - Fotografia ExpressãoEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Apostila Cinema Direto e Cinema Verdade Grupo Estudos UffDocumento39 páginasApostila Cinema Direto e Cinema Verdade Grupo Estudos UffRicardo Almeida Gomes100% (1)
- O Cinema e o Conhecimento Da HistóriaDocumento8 páginasO Cinema e o Conhecimento Da HistóriaRafael TenórioAinda não há avaliações
- Artigo (Análise Do Filme Aruanda)Documento10 páginasArtigo (Análise Do Filme Aruanda)kenna-racAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento20 páginas1 PBIsacondelAinda não há avaliações
- Cinema NovoDocumento9 páginasCinema NovofelippeslimaAinda não há avaliações
- Nina SaroldiDocumento11 páginasNina SaroldiPriscillaBibianoAinda não há avaliações
- Yoko ONO GrapefruitDocumento328 páginasYoko ONO GrapefruitdougresendeAinda não há avaliações
- Eduardo Coutinho o Cinema Documentario e A Escuta Sensivel Da Alteridade PDFDocumento15 páginasEduardo Coutinho o Cinema Documentario e A Escuta Sensivel Da Alteridade PDFdougresendeAinda não há avaliações
- A Imagem Pode Matar?Documento37 páginasA Imagem Pode Matar?dougresendeAinda não há avaliações
- Flash Cards 2 - 750 Palavras Mais ComunsDocumento68 páginasFlash Cards 2 - 750 Palavras Mais ComunsRosa Cintia BongianniAinda não há avaliações
- Fundamentos e Metodologia Do EnsinoDocumento2 páginasFundamentos e Metodologia Do EnsinoKarina Dessordi SertaoAinda não há avaliações
- Hipoícones Segundo PeirceDocumento11 páginasHipoícones Segundo Peirceadrianasantos20Ainda não há avaliações
- PORTUGUÊSDocumento17 páginasPORTUGUÊSANAXIMANDRO OLÍMPIO DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Guia para Elaboração de Regimento Interno Do GDFDocumento29 páginasGuia para Elaboração de Regimento Interno Do GDFhenriquesodreAinda não há avaliações
- Diário Reflexivo - Aula 12 - Miguel Angel Schmitt Rodriguez - ItajaíDocumento2 páginasDiário Reflexivo - Aula 12 - Miguel Angel Schmitt Rodriguez - Itajaímasr82Ainda não há avaliações
- Galaxya IIIDocumento162 páginasGalaxya IIIAndre LuzAinda não há avaliações
- Alfabetização Baseada Na CiênciaDocumento19 páginasAlfabetização Baseada Na CiênciaAjuda com trabalhosAinda não há avaliações
- O Significado de Fim Da Lei em Romanos 10 4Documento13 páginasO Significado de Fim Da Lei em Romanos 10 4Tonleo TonAinda não há avaliações
- História e Filosofia Da EducaçãoDocumento35 páginasHistória e Filosofia Da EducaçãoisabellebelchiorAinda não há avaliações
- Pronomesdemonstrativosereferenciao 140726084009 Phpapp02Documento13 páginasPronomesdemonstrativosereferenciao 140726084009 Phpapp02Clau Olive FotosAinda não há avaliações
- Gragnato, Luciana. o Desenho No Design de Moda. 2008. Dissertação (Mestrado em Design) Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo.Documento9 páginasGragnato, Luciana. o Desenho No Design de Moda. 2008. Dissertação (Mestrado em Design) Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo.izziesoaresAinda não há avaliações
- 20Documento44 páginas20Luiz CunhaAinda não há avaliações
- 3diário InglêsDocumento87 páginas3diário InglêsRonaldoePatricia AraujoAinda não há avaliações
- Teste6 - 1.2Documento17 páginasTeste6 - 1.2Luis JesusAinda não há avaliações
- Aula Mat Discreta Princípio Da Casa Dos PombosDocumento25 páginasAula Mat Discreta Princípio Da Casa Dos Pombososnildo carvalhoAinda não há avaliações
- Resumo - Leite & CallouDocumento8 páginasResumo - Leite & CallouAlcione A O de AraújoAinda não há avaliações
- Adjetivo Com ExercíciosDocumento4 páginasAdjetivo Com ExercíciosMarlucy RochaAinda não há avaliações
- Livro DonasciDocumento217 páginasLivro DonasciFabio Jota100% (1)
- Questões Enem - Função e Análise SintáticaDocumento4 páginasQuestões Enem - Função e Análise SintáticaHemilton bURNzAinda não há avaliações
- Segunda, 7 de Março Cumprimentos: Dyi J Dyi Chi U Chi U S I I IDocumento81 páginasSegunda, 7 de Março Cumprimentos: Dyi J Dyi Chi U Chi U S I I Itope kaAinda não há avaliações
- (4.2.10) Mensagens12 - DP - (Qa E)Documento8 páginas(4.2.10) Mensagens12 - DP - (Qa E)Raúl SilvaAinda não há avaliações
- Figuras de Linguagem - ResumoDocumento4 páginasFiguras de Linguagem - Resumoblackhat220Ainda não há avaliações