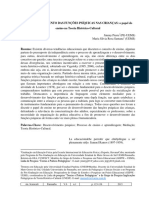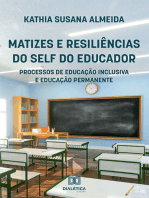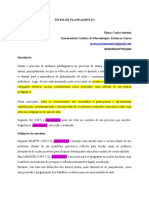Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resenha Do Livro Por Amor e Força
Resenha Do Livro Por Amor e Força
Enviado por
Bruna Rodrigues0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações4 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações4 páginasResenha Do Livro Por Amor e Força
Resenha Do Livro Por Amor e Força
Enviado por
Bruna RodriguesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
RESENHA DO LIVRO: Por amor e por força
A autora, Maria Carmen Silveira Barbosa, possui graduação em Pedagogia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (1983), especialização em
Alfabetização em classes populares pelo GEEMPA (1984) e em Problemas no
Desenvolvimento Infantil pelo Centro Lidia Coriat (1995), mestrado (1987) e doutorado
(2000) em Educação pela UFRGS e Universidade Estadual de Campinas,
respectivamente. É pesquisadora do Grupo de Estudos em Educação Infantil – GEIN,
militante do Movimento Interfóruns de Educação Infantil e professora da UFRGS,
Faculdade de Educação, Departamento de Estudos Especializados. Tem experiência na
área de Educação Básica, com ênfase em Educação Infantil, publicações de livros,
artigos e capítulos de livros além de orientar teses e dissertações nos seguintes temas:
educação, educação infantil, infância, formação de educadores, creche.
O livro “Por amor e por força: rotinas na educação infantil” conta com 12
capítulos, nos quais a autora apresenta discussões do processo social que constituiu as
rotinas na educação infantil. Segundo Barbosa (2006) o livro não tem como meta
defender ou criticar negativamente as rotinas, mas sim refletir, questionar e analisar
como essas são desenvolvidas, ou seja, seguem o princípio da emancipação ou da
dominação. Ao decorrer da produção a autora expõe informações coletadas em sua
pesquisa que embora tenha sido realizada em instituições estrangeiras e instituições
públicas e privadas de diferentes lugares são encontradas similitudes nas propostas de
rotina. Neste sentido, a autora coloca que apesar das propostas de rotinas das creches
transmitirem a ideia de que são algo particular e singular às unidades educativas, essas
estão diretamente ligadas à organização social e política, isto é as rotinas não são
construídas naturalmente e sim conforme as “regras” impostas pela sociedade. Assim, a
rotina pedagógica é um componente de grande importância para estruturar e organizar
os tempos e espaços das instituições de educação infantil levando em consideração as
especificidades dos sujeitos envolvidos.
Ao introduzir a discussão sobre as rotinas Barbosa (2006) apresenta um
apanhado histórico da situação e avanços conquistados pela educação infantil, além de
dados e procedimentos utilizados em sua pesquisa. Segundo a mesma, a partir da década
de 1970, a educação das crianças de 0 a 6 anos começa a ter um novo caráter no que se
refere às políticas públicas e teorias educacionais. No ano de 1988 através da
Constituição Federal as crianças e os/as adolescentes começam a ser considerados/as
enquanto sujeitos de diretos e a oferta de atendimento gratuito tornou-se um direito da
criança. Todavia, esse contexto não esteve isento de contradições, visto que o mesmo
governo que apoiou a aprovação da lei criou políticas públicas de financiamento que
não contemplavam a oferta de uma educação infantil de qualidade. Barbosa (2006)
também explana sobre o crescimento da produção bibliográfica sobre educação infantil,
a qual a partir dos anos de 1980 contou com um expressivo aumento no número de
autores/as nacionais discutindo essa temática.
Outro ponto abordado pela autora está relacionado às propostas pedagógicas
para primeira infância (crianças de 0 a 6 anos), nas quais se torna necessário conhecer
cada criança que está no ambiente da educação infantil, respeitando os seus limites,
desejos e anseios. Esses pressupostos remetem a não homogeneização das práticas,
considerando as crianças como seres singulares, elementos estes que precisam ser
considerados nos momentos de elaboração das rotinas. Portanto, o adulto precisa
observar e ter sensibilidade perante os comportamentos das crianças para não reproduzir
práticas de rotulações.
A regularidade que as rotinas pedagógicas apresentam foi aspecto discutido pela
autora, no sentido de refletir acerca de determinados elementos que estão
implicitamente articulados, como por exemplo, a hora do sono, que repercute
cotidianamente. Nessa discussão, o uso do tempo precisa ser pensando e planejado
pelos/as profissionais, pois nos constituirmos num processo histórico em que cada vez
mais a institucionalização do tempo nas escolas foram mecanismos rígidos. As crianças
nos espaços de educação infantil geralmente não participam da discussão sobre o uso do
tempo nas atividades realizadas, sendo determinadas na maioria das vezes pelos adultos.
A respeito do ambiente nas instituições infantis, a autora acredita que a
arquitetura da construção de uma instituição de educação representa parte da proposta
político pedagógica, influenciando diretamente nas expressões corporais das crianças. É
preciso pensar em cada detalhe dessa construção levando em consideração as
particularidades das crianças pequenas, no sentido de criar diferentes possibilidades
para a ampliação do universo cultural e conceitual das crianças (BARBOSA, 2006, p.
135).
Considerando a elaboração das rotinas, a autora destaca as semelhanças das
escolas com as fábricas, já que os modos de organização do trabalho no setor fabril são
muito parecidos com os das creches, principalmente no que tange ao funcionamento
hegemônico. A partir daí, surgem às questões referentes às classificações das idades e
das matérias; subdivisões internas das instituições; conteúdos de ensino, entre outros.
Nessa direção as rotinas não são práticas exclusivas das instituições educacionais.
Retomando a questão sobre o que está previsto e o que realmente acontece nas
rotinas das instituições, Barbosa (2006) salienta que os adultos também se encontram
presos aos aspectos de homogeneização, sendo preciso considerar nos momentos de
organização das rotinas a consideração de que estas estão sendo elaboradas para
crianças heterogêneas, com vivências diferenciadas que precisam ser respeitadas.
Dentre os pontos abordados que envolvem a rotina na educação infantil também
estão as formas de organização e representação das rotinas, entre elas visual e oral. Na
primeira são apresentadas para as crianças, geralmente através de cartões com figuras,
para simbolizar a próxima ação da rotina. Conforme a autora essa estratégia pode
facilitar a participação das crianças e das famílias. A outra é na modalidade oral, em que
através de conversas é colocado o que já foi realizado e o que ainda há por vir.
Os materiais também são elementos extremamente importantes na organização
das rotinas, sendo que esses proporcionam a criação de alternativas de atividades para
os grupos. Com relação às atividades da rotina, a autora ressalta duas interpretações,
entre elas: Atividades de socialização, como por exemplo: Entrada, saída, refeição,
sono; e Atividades consideradas pedagógicas. As primeiras costumam ser demarcadas
por divisões de tempos institucionais, sendo de comum acordo com todos os grupos
pertencentes à instituição.
Diante desse assunto Barbosa (2006) relata sobre a questão da separação nas
atividades de rotina entre os cuidados e a educação. Nessa direção, a mesma
proporciona reflexões que remetem a indissociação entre o cuidar e o educar. Nas
proposições da autora, “(...) sob uma ação de cuidado, há um projeto educativo e que
todas as propostas pedagógicas precisam avaliar a dimensão dos cuidados necessários
para sai plena realização.” (BARBOSA, 2006, p. 169).
A respeito da organização temporal a autora observou que nas rotinas destinadas
às crianças pequenas as atividades são mais lentas, exigindo um tempo mais amplo e
sem a exigência de que as crianças cumpram as ações no tempo previamente definido.
Já na pré-escola, as rotinas apresentam-se mais próximas do modelo escolar.
Sobre a flexibilidade das rotinas, Barbosa (2006) ressalta dois pontos chave.
Primeiro a importância de respeitar os horários de cada criança e a partir daí, montar as
rotinas, e segundo a questão da dita “organização”, em que através das rotinas as
crianças sentem-se mais seguras com relação à disposição das ações. Ela ainda afirma
que na educação infantil as propostas são definidas pelo tempo, impondo um ritmo as
atividades e tendo espaço para certa flexibilização, já nas series iniciais isso não é tão
permitido, devido a carga de conteúdos.
Com relação à padronização a mesma levanta o debate sobre a homogeneização
das práticas de rotinas, enquanto uma prática de controle social. Sendo assim, as rotinas
seguem um padrão fixo e universal, no que tange a formulação, estrutura e
representação. Todavia, ao apresentarem-se de maneira universal não estão sendo
consideradas as questões referentes às particularidades e singularidades de cada criança.
Isto é, os modos de padronização das rotinas tende a criar um discurso único.
A autora indica também que as transformações atingidas na sociedade
contemporânea, realizaram mudanças acerca das discussões em torno da educação
infantil. Isso porque, a vida moderna passou a exigir algumas demandas como o
autocontrole e a interiorização de regras. Assim, as pedagogias passaram a valorizar
questões como a criatividade, livre expressão, trabalhos em grupo que, segundo a
autora, resultou em uma maior exibição dos resultados realizados pelas crianças. No
entanto, os processos pelos quais se alcançavam esses resultados não levavam as
especificidades das crianças. Dessa forma, Barbosa (2006) indica a importância da
atuação dos/as professores/as na elaboração de propostas que considerem as crianças
como sujeitos de direitos capazes de participar na elaboração de propostas e organização
dos tempos e dos espaços na instituição que convivem.
Finalizando destacamos que ao decorrer do livro a autora vai expondo questões
referentes às rotinas na educação infantil, considerando o universo abrangido em sua
pesquisa. Em meio aos seus relatos podemos depreender que embora as rotinas
apresentem-se com propostas flexíveis, em alguns casos acabam sendo universais e
padronizadas. Contudo, conforme a autora as rotinas também podem ser analisadas por
outro ângulo, no qual os rituais servem como maneira de criação da identidade social,
criando assim sentidos para as crianças. Em face ao debate reiteramos a necessidade de
reflexões sobre as rotinas, de tal forma que as regras e normas sejam discutidas,
construídas e reconstruídas constantemente. A partir daí, aumentam-se as chances das
crianças serem respeitadas na sua totalidade, enquanto sujeitos ativos e de direitos.
Você também pode gostar
- O Trabalho Do Professor Na Educação InfantilDocumento480 páginasO Trabalho Do Professor Na Educação InfantilInaiara Vitória100% (3)
- As Dimensões do projeto político-pedagógico: Novos desafios para a escolaNo EverandAs Dimensões do projeto político-pedagógico: Novos desafios para a escolaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Apostila de Geografia - ATUALIZADA - Curso CidadeDocumento344 páginasApostila de Geografia - ATUALIZADA - Curso Cidademisselangela100% (1)
- Fundamentação TeoricaDocumento8 páginasFundamentação TeoricaMeire Gonçalves100% (3)
- Inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas - Avanços e desafiosNo EverandInclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas - Avanços e desafiosAinda não há avaliações
- 90 - Agora, Acabou A Brincadeira! - A Transição Da Educação Infantil para o Ensino Fundamental Na Perspectiva Dos Coordenadores PedagógicosDocumento8 páginas90 - Agora, Acabou A Brincadeira! - A Transição Da Educação Infantil para o Ensino Fundamental Na Perspectiva Dos Coordenadores PedagógicosDea Cortelazzi100% (1)
- Gestão escolar e políticas públicas educacionaisNo EverandGestão escolar e políticas públicas educacionaisAinda não há avaliações
- LegislaçãoDocumento15 páginasLegislaçãoMarianne Da Silva SoaresAinda não há avaliações
- ROTINAS NA ED. INFANTIL - Dia 21 - DaniDocumento25 páginasROTINAS NA ED. INFANTIL - Dia 21 - DaniKelly FlAinda não há avaliações
- (05.10) Xiii ++Livro+Eder +a+Rotina+Na+Educação+InfantilDocumento114 páginas(05.10) Xiii ++Livro+Eder +a+Rotina+Na+Educação+Infantildangerous menAinda não há avaliações
- Fracasso EscolarDocumento15 páginasFracasso Escolarapi-26019392100% (6)
- TCC Curriculo2Documento17 páginasTCC Curriculo2JUSSARA APARECIDA DUARTE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- A Afetividade Como Prática Pedagógica Na Educação InfantilDocumento21 páginasA Afetividade Como Prática Pedagógica Na Educação InfantilCharlesAinda não há avaliações
- Paulo Freire e o Tema Escola, Família e ComunidadeDocumento16 páginasPaulo Freire e o Tema Escola, Família e ComunidadeEsther MurtaAinda não há avaliações
- O Estudo Da Família Na Formação Do Pedagogo/ProfessorDocumento15 páginasO Estudo Da Família Na Formação Do Pedagogo/Professorcmalexandre1156Ainda não há avaliações
- Relações de Gênero Na EscolaDocumento11 páginasRelações de Gênero Na EscolaPintinho RelanAinda não há avaliações
- Objetivação e AncoragemDocumento16 páginasObjetivação e AncoragemjoarezjpAinda não há avaliações
- Artigo InclusãoDocumento14 páginasArtigo InclusãovaleriaAinda não há avaliações
- Bases Didaticas InclusivasDocumento6 páginasBases Didaticas InclusivasJacyene AraújopAinda não há avaliações
- 72-Texto Do Artigo-679-1-10-20230118Documento32 páginas72-Texto Do Artigo-679-1-10-20230118Amanda DondaAinda não há avaliações
- Artigo Lucilene PolotoDocumento31 páginasArtigo Lucilene PolotoArtur Mota da SilvaAinda não há avaliações
- JojocuDocumento5 páginasJojocuFernando JoãoAinda não há avaliações
- Alfabetização Hoje Onde Estão Os MétodosDocumento13 páginasAlfabetização Hoje Onde Estão Os MétodosKedma Ribeiro100% (1)
- RelaDocumento9 páginasRelaFabiana SolisAinda não há avaliações
- Metodologia Do TrabalhoDocumento12 páginasMetodologia Do Trabalhoapi-3711729Ainda não há avaliações
- Intervenção em Psicologia EscolarDocumento14 páginasIntervenção em Psicologia EscolarkethullygoncalvesAinda não há avaliações
- Relação Família & EscolaDocumento21 páginasRelação Família & EscolaFabiana SallesAinda não há avaliações
- A Educação Não Formal Como Espaço de Atuação Da Prática Do PedagogoDocumento9 páginasA Educação Não Formal Como Espaço de Atuação Da Prática Do PedagogoOlùkọ́ Patrícia PereiraAinda não há avaliações
- Pesquisa IntervençãoDocumento11 páginasPesquisa IntervençãoCristiano Alves de OliveiraAinda não há avaliações
- Gestão Da EscolaDocumento256 páginasGestão Da EscolaBeatriz_Moires_533981% (16)
- Indisciplina EscolarDocumento7 páginasIndisciplina EscolarKamilla SoaresAinda não há avaliações
- É Por Isso Que Albuquerque KunzlwDocumento9 páginasÉ Por Isso Que Albuquerque Kunzlwcoração prisAinda não há avaliações
- Psicologia Social Na Escola - Relato de Uma ExperiênciaDocumento4 páginasPsicologia Social Na Escola - Relato de Uma ExperiênciaRenata VilelaAinda não há avaliações
- Leitura 1° UnidadeDocumento16 páginasLeitura 1° Unidadetamiresfernandes.tf.tf3Ainda não há avaliações
- Manuais e Artigos AOE Atendimento Ao Aluno PDFDocumento523 páginasManuais e Artigos AOE Atendimento Ao Aluno PDFEdgar Henrique50% (2)
- Introduzindo A Perspectiva de Gênero Na Formacao DocenteDocumento15 páginasIntroduzindo A Perspectiva de Gênero Na Formacao DocenteJoão Paulo AndradeAinda não há avaliações
- 3098 4550 1 PBDocumento14 páginas3098 4550 1 PBFranklin de PaulaAinda não há avaliações
- 2.1 Curriculo Educacao Infantil Zilma MoraesDocumento14 páginas2.1 Curriculo Educacao Infantil Zilma Moraesjaqueline1408Ainda não há avaliações
- 12556-Texto Do Artigo-45214-1-10-20191017Documento9 páginas12556-Texto Do Artigo-45214-1-10-20191017Luana BonattoAinda não há avaliações
- BARABOSA - As Rotinas Na Educacao InfantilDocumento14 páginasBARABOSA - As Rotinas Na Educacao InfantiltgomestgomesAinda não há avaliações
- Repensando o Fracasso EscolarDocumento16 páginasRepensando o Fracasso EscolarAriadne Silva PrestesAinda não há avaliações
- Concepções de Professores Sobre A Inclusão Escolar de Alunos Com Distúrbios NeuromotoresDocumento19 páginasConcepções de Professores Sobre A Inclusão Escolar de Alunos Com Distúrbios NeuromotoresGabriel CandidoAinda não há avaliações
- Apostila Coordenação PedagogicaDocumento19 páginasApostila Coordenação PedagogicaNaty MoraesAinda não há avaliações
- Indisciplina Na Escola Ações Docentes Frente A Este DesafioDocumento15 páginasIndisciplina Na Escola Ações Docentes Frente A Este DesafioLaiana PortoAinda não há avaliações
- Experiências da Educação: reflexões e propostas práticas: - Volume 5No EverandExperiências da Educação: reflexões e propostas práticas: - Volume 5Ainda não há avaliações
- 43024-Texto Do Artigo-122241-1-10-20190522Documento14 páginas43024-Texto Do Artigo-122241-1-10-20190522Rebeca CanutoAinda não há avaliações
- Teorico 3Documento22 páginasTeorico 3Giovanni Cirino CabralAinda não há avaliações
- Meninos Na Educação Infantil: o Olhar Das Educadoras Sobre A Diversidade de GêneroDocumento23 páginasMeninos Na Educação Infantil: o Olhar Das Educadoras Sobre A Diversidade de GênerojuliadcoelhoAinda não há avaliações
- Trabalho Ev127 MD4 Sa9 Id4105 03102019214953Documento5 páginasTrabalho Ev127 MD4 Sa9 Id4105 03102019214953LUDERLY ARAÚJOAinda não há avaliações
- Gênero Sexualidade e EducaçãoDocumento11 páginasGênero Sexualidade e EducaçãoAnny ApssAinda não há avaliações
- A Batida Do Pente - As Práticas Morais Na EscolaDocumento25 páginasA Batida Do Pente - As Práticas Morais Na EscolaRodrigoAinda não há avaliações
- TRABALHO OrientadorDocumento11 páginasTRABALHO Orientadorcassyagodynho11Ainda não há avaliações
- Trabalho Ev140 MD1 Sa9 Id6597 01102020224408Documento12 páginasTrabalho Ev140 MD1 Sa9 Id6597 01102020224408Isadora PatriciaAinda não há avaliações
- Anizia Aparecida Nunes Luz Lucrecia Stringhetta MelloDocumento12 páginasAnizia Aparecida Nunes Luz Lucrecia Stringhetta MelloThayná PassosAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Da Personalidade Da Criança: o Papel Da Educação Infantil1Documento11 páginasDesenvolvimento Da Personalidade Da Criança: o Papel Da Educação Infantil1Eduardo Moura da CostaAinda não há avaliações
- Ressignificando Praticas Pedagogicas No Contexto Da Escola Publica o Saber e o Fazer PDFDocumento14 páginasRessignificando Praticas Pedagogicas No Contexto Da Escola Publica o Saber e o Fazer PDFTadeu CorreiaAinda não há avaliações
- Histórias de Indisciplina Escolar - Capítulo IIIDocumento8 páginasHistórias de Indisciplina Escolar - Capítulo IIIbizocaAinda não há avaliações
- Artigo Tati Final! PDFDocumento30 páginasArtigo Tati Final! PDFRone CleitonAinda não há avaliações
- O Oe e Sua Pratica AtualDocumento16 páginasO Oe e Sua Pratica AtualEmanuel AndradeAinda não há avaliações
- Sucesso escolar e o ensino de Sociologia: discursos e práticas numa escola pública de ensino médioNo EverandSucesso escolar e o ensino de Sociologia: discursos e práticas numa escola pública de ensino médioAinda não há avaliações
- Aprendizagem docente na educação superior: o ser e fazer-se professor orientador no contexto do estágio supervisionadoNo EverandAprendizagem docente na educação superior: o ser e fazer-se professor orientador no contexto do estágio supervisionadoAinda não há avaliações
- Matizes e Resiliências do Self do Educador: processos de educação inclusiva e educação permanenteNo EverandMatizes e Resiliências do Self do Educador: processos de educação inclusiva e educação permanenteAinda não há avaliações
- Fichamento - Raízes Do Brasil (Capitulo 5)Documento2 páginasFichamento - Raízes Do Brasil (Capitulo 5)Ruy Cavalcante OliveiraAinda não há avaliações
- Plano-2º QUINZENA - Inglês EJA EIXO IVDocumento3 páginasPlano-2º QUINZENA - Inglês EJA EIXO IVNatália PimentelAinda não há avaliações
- 4.2 Língua Portuguesa - Análise Da ACARA - Ing PDFDocumento76 páginas4.2 Língua Portuguesa - Análise Da ACARA - Ing PDFyechezkielAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Etica I PDFDocumento3 páginasPlano de Ensino - Etica I PDFGerson VieiraAinda não há avaliações
- Soluções Construtivas em Alvenaria - Gouveia, Lourenço e VasconcelosDocumento2 páginasSoluções Construtivas em Alvenaria - Gouveia, Lourenço e VasconcelosLeonardo NetoAinda não há avaliações
- Artigo Trajetoria de Inezil Penna MarinhoDocumento10 páginasArtigo Trajetoria de Inezil Penna MarinhojosilmaxAinda não há avaliações
- (2009) Curso - Apostila Sociologia (Completa)Documento112 páginas(2009) Curso - Apostila Sociologia (Completa)Gustavo De Pádua BrazãoAinda não há avaliações
- Mandioca Herbicidas Pré e Pós EmergenciaDocumento78 páginasMandioca Herbicidas Pré e Pós Emergenciashaieny haryelAinda não há avaliações
- 1 - Apostila - Ensino Da Arte No BrasilDocumento40 páginas1 - Apostila - Ensino Da Arte No BrasilCris SanchesAinda não há avaliações
- Semanticas Da Infancia - Pancera, CarlosDocumento8 páginasSemanticas Da Infancia - Pancera, CarlosNatália Silveira TrianiAinda não há avaliações
- 3 - Resumo DigCompEduDocumento20 páginas3 - Resumo DigCompEduluisadn5502704Ainda não há avaliações
- Guia Do Aluno e Do Responsável 2020 Revisado 1Documento57 páginasGuia Do Aluno e Do Responsável 2020 Revisado 1Sgt FontineleAinda não há avaliações
- JF ServidorDocumento40 páginasJF ServidorProfa. Tula PereiraAinda não há avaliações
- Niveis de PlanejamentoDocumento4 páginasNiveis de PlanejamentoEusebio Bernardo Fortunato100% (6)
- Publicação Ciências HumanasDocumento284 páginasPublicação Ciências HumanasCriz Melo VinhalAinda não há avaliações
- Decomposiçao Triangulo Pela Altura Ref HipotenusaDocumento7 páginasDecomposiçao Triangulo Pela Altura Ref Hipotenusarufilopes1397100% (1)
- Gog Do Acampja - Ulb 2021 - Chegou A HoraDocumento16 páginasGog Do Acampja - Ulb 2021 - Chegou A HoraRafael D'Ávila100% (1)
- Do Crepsculoao Outro DiaDocumento120 páginasDo Crepsculoao Outro DiaNELSON XAVIERAinda não há avaliações
- E-BOOK - Criança ConfianteDocumento27 páginasE-BOOK - Criança ConfianteRafaela NatividadeAinda não há avaliações
- Conteudo 03Documento5 páginasConteudo 03amanda carolinaAinda não há avaliações
- O Trio - João LopesDocumento1 páginaO Trio - João LopesjoaoganzarollilopesAinda não há avaliações
- Aula 1Documento17 páginasAula 1Vinicius Balt0% (2)
- CongregacionalismoDocumento56 páginasCongregacionalismoRovanildo Vieira SoaresAinda não há avaliações
- Políticas Culturais e Novos Desafios PDFDocumento24 páginasPolíticas Culturais e Novos Desafios PDFTarcizio MacedoAinda não há avaliações
- Programa de Aprimoramento Profissional Na Área Da Saúde - SES-SPDocumento18 páginasPrograma de Aprimoramento Profissional Na Área Da Saúde - SES-SPGilberlan ChavesAinda não há avaliações
- Unimed CREADocumento8 páginasUnimed CREAIrineu AndradeAinda não há avaliações
- 34 98 1 PB Surrealismo Loucura PernambucoDocumento13 páginas34 98 1 PB Surrealismo Loucura PernambucofellipegtxAinda não há avaliações
- A Importância Do Controle de Custos - Estudo de Um Caso RealDocumento59 páginasA Importância Do Controle de Custos - Estudo de Um Caso RealJoaoluizferreira85Ainda não há avaliações