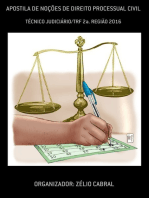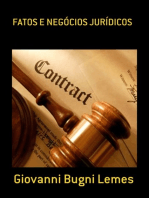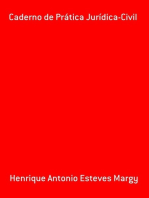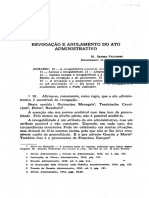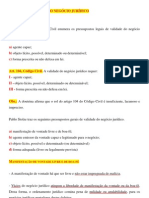Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sebenta - TGDC - Ii - JLG PDF
Enviado por
bethânia zambonTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Sebenta - TGDC - Ii - JLG PDF
Enviado por
bethânia zambonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Nota: O presente documento tenta retirar o mais importante dos recomendados pela
regência, pelo que, atenta à subjetividade empregue na seleção da matéria, a nosso
ver, relevante, é recomendada a consulta dos manuais da regência. É de notar que o
presente documento pode conter algumas gralhas.
CAPÍTULO I. REPRESENTAÇÃO
Representação – forma de cooperação entre os seres humanos, e que se traduz num
exercício, por parte de uma pessoa, em nome e por conta de outrem, sendo que os
efeitos deste exercício repercute-se na esfera jurídica deste último. É importantíssima a
invocação por parte do representante perante o terceiro dos poderes de representação
(contemplatio domini). Assim, sempre que o representante não o fizer, o negócio
celebrasse na sua própria esfera.
A representação não se limita à celebração de negócios e à emissão de declarações de
vontade, já que qualquer SJ exercitável pode cair na representação, nomeadamente:
aproveitamento de direitos, cumprimento de deveres, etc.
Classificação da Representação
É tradicional classificar a representação em:
▪ Legal – tem fonte na lei e abrange os casos de representação dos menores e,
quando a sentença de acompanhamento assim o dita, os maiores
acompanhados no âmbito do poder paternal (art.º 1878) e da tutela (art.º 1921),
respetivamente.
▪ Orgânica – apesar de podermos falar de uma representação orgânica no plano
interno da PC (no que respeita à vontade de um dado órgão da PC), comumente,
referimo-nos à representação orgânica a nível externo, isto é, àqueles que
representam a PC perante terceiros (sendo os representantes da PC no plano
externo, os responsáveis pela formação da sua vontade).
Note-se que, atendendo à natureza das PC, estas não podem ser representantes
de si mesmas, daí que, por isto e pelo facto dos seus representantes pertencerem
à pessoa representada, em rigor, e segundo MC, não há uma verdadeira
representação.
▪ Voluntária – tem na sua base a concessão de poderes de representação ao
representante pelo representado, sendo para tal usualmente utilizada a
procuração.
Em suma, e independentemente do tipo de representação em causa, a representação
decorre da presença, na esfera do representante, de um direito potestativo: o direito
de agir em nome e por conta do representado, fazendo surgir, na esfera deste, os efeitos
jurídicos dos negócios celebrados.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 1
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Mandato
Com base no art.º 1157, resulta que o mandato implica uma prestação de facto, em
nome próprio, mas por conta do mandante.
O mandato presume-se gratuito , a não ser que tenha por objeto atos que o mandatário
pratique por profissão, sendo neste caso oneroso (art.º 1158/1). Tratando-se de
mandato oneroso, a retribuição é remetida (artigo 1158º/2), sucessivamente, para:
▪ o acordo das partes;
▪ as tarifas profissionais;
▪ os usos;
▪ e os juízos de equidade.
A extensão do mandato consta do art.º 1159, no qual se distingue mandato geral (art.º
1159/1), de mandato especial (art.º 1159/2). A maior diferença em ambos, é a de que
existe, no mandato geral, uma atividade genérica, contrapondo-se à atividade específica
do mandato especial.
Contudo, segundo MC, conclui-se que ambos os mandatos incluem tarefas acessórias,
necessárias à execução do mandato: como a obtenção de registos, o pagamento de
impostos, etc.
Contudo, segundo este autor, mais claro quanto a este ponto ficou o mandato especial,
considerando-se que o art.º 1159/2 permite ao mandatário celebrar todos os atos
preparatórios: incluindo o contrato-promessa correspondente ao instrumento visado.
A pluralidade de mandatários dá lugar a tantos mandatos quantas as pessoas
designadas, contudo, assim não será quando o contrato exare que eles devam agir
conjuntamente (art.º 1160).
A Posição do Mandatário
O art.º 1161 enumera as obrigações do mandatário, as quais se podem agrupar do
seguinte modo:
▪ Deveres de atuação (art.º 1161/a))
O art.º 1161/a) especifica que devem ser observadas as instruções do mandante,
relativas aos negócios visados (ou, de outro modo, cairíamos numa situação de
subordinação jurídica, assumindo o mandato a natureza de um contrato de trabalho).
▪ Deveres de informação (art.º 1161/b)) e de comunicação (art.º 1161/c))
O art.º 1162 permite que o mandatário não execute o mandato ou que se afaste das
instruções recebidas.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 2
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Pode-se falar, neste âmbito, em problemas relacionados com a integração (art.º 239) e
com a alteração das circunstâncias (art.º 437/1). Efetivamente, o surgimento de novas
circunstâncias, que não se possam equacionar perante a matéria contratual existente:
ou manifesta uma lacuna contratual, ou dá corpo a uma alteração de circunstâncias.
Em qualquer dos casos, caberá ao mandatário, mesmo sem lhe ser feito o
correspondente pedido, dar as informações relevantes.
▪ Deveres de prestação de contas (art.º 1161/d))
Este dever postula negócios patrimoniais, com movimentos recíprocos e,
possivelmente, uma conta-corrente.
▪ Deveres de entrega (art.º 1161/e))
A obrigação final de entrega abrange, pela letra da lei, uma atividade material de
entrega de dinheiro, documentos e objetos envolvidos.
O mandatário deve ainda transmitir para o mandante os direitos adquiridos em
execução do mandato. O art.º 1163 fixa os termos da aprovação tácita da execução ou
inexecução do mandato.
O mandatário pode, na execução do mandato, fazer-se substituir por outro (apenas se
o mandante o permitir ou se essa faculdade resultar do mandato) ou servir-se de
auxiliares (se o contrato não o excluir ou se o tipo de mandato em causa não implicar o
contrário), nos termos em que o procurador o pode fazer (art.º 1165º e art.º 264/1 e
4).
O art.º 1166 dispõe quanto à pluralidade de mandatários destinados a agirem
conjuntamente.
A Posição do Mandante
A posição do mandante é, de certo modo, simétrica à do mandatário, sendo que é o
art.º 1167 quem nos permite perceber que o mandante fica adstrito a dois pontos:
▪ Fornecer ao mandatário os meios necessários à execução do mandato (art.º
1167/a)) (e.g. adiantamentos em dinheiro, quando pressupostos ou previstos no
contrato, ou a coisas móveis, podendo estar ainda em jogo documentos,
autorizações e informações).
O legislador entendeu reforçar esta obrigação (art.º 1168).
▪ Efetuar pagamentos a vários títulos (art.º 1167/b), c) e d))
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 3
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A Cessação do Mandato
O art.º 1170/1 proclama o princípio da livre revogabilidade do mandato por qualquer
das partes, salvo quando haja convenção em contrário ou renúncia ao direito de
revogação.
O art.º 1171 considera que no caso de uma revogação tácita, resultante da designação,
pelo mandante, de outra pessoa para a prática dos mesmos atos, a sua eficácia opera
depois de conhecida pelo mandatário.
A livre revogabilidade do mandato pode todavia, quando exercida, dar azo a um dever
de indemnizar a outra parte pela prejuízo que esta sofrer (art.º 1172). Contudo,
havendo justa causa, não se justifica a indemnização.
Havendo pluralidade de mandantes e tendo o mandato sido conferido “para assunto de
interesse comum”, a revogação só opera se realizada por todos (art.º 1173).
O art.º 1174 refere os casos em que o mandato cessa em razão da caducidade. O
mandato caduca, ainda, pelo decurso do prazo a que este esteja sujeito, pela obtenção
do resultado que vise e pela ocorrência de condição resolutiva.
O art.º 1175 tem uma delimitação da maior importância prática, no que toca à morte
ou acompanhamento do mandante.
Mandato Com Representação
O legislador dedicou a este respeito dois preceitos: art.º 1178 e 1179.
Estes preceitos permitem considerar que, em geral, no mandato com representação,
prevalece o regime da procuração sobre o do mandato.
O Mandato Sem Representação
O mandato sem representação é exercido sem que o mandatário invoque a
contemplatio domini (art.º 1180). Note-se que não deixa de haver mandato, ficando o
mandatário obrigado a transferir para o mandante os direitos adquiridos em execução
do mandato (art.º 1181/1).
Quanto aos créditos, o mandante pode substituir-se ao mandatário no exercício dos
respetivos direitos (art.º 1181/2). No que toca às obrigações, contraídas pelo
mandatário em execução do mandato, deveremos atentar no art.º 1182.
O risco do incumprimento pelos terceiros não é responsabilizável ao mandatário, a não
ser que, aquando da contratação, ele conhecesse ou devesse conhecer a insolvência
deles (art.º 1183).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 4
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Caraterização do Mandato
Características gerais do mandato, o mandato é:
▪ um contrato consensual, já que a lei não o sujeita a nenhuma forma solene.
▪ um contrato sinalagmático imperfeito, pelo menos quando gratuito: as
prestações a que o mandante se encontre adstrito não equivalem às adstrições
do mandatário.
▪ um contrato supletivamente gratuito, sendo oneroso quando exercido no
âmbito da profissão do mandatário.
O mandato apresenta-se como um contrato típico de prestação de serviços, sendo que
a relação básica subjacente a qualquer situação de representação está sempre mais
ou menos próxima do mandato.
Requisitos para a Representação
Para além de uma atividade jurídica, a representação trata-se de uma atividade livre:
requer autonomia e margens de decisão por parte do representante (nem que seja a
decisão de usar ou não usar os poderes de representação, mas, para além disso, é o
representante quem conclui os negócios preparatórios, se tal for necessário, sendo,
então, ele quem recebe e imite declarações).
Requisitos da representação:
▪ Atuação jurídica em nome do representado.
O representante, para o ser, deve agir enunciando a contemplatio domini, sob
pena de não haver representação, já que:
o A representação é um direito: o representante poderá ou não exercê-lo,
consoante queira, uma vez que nada o impedirá de negociar para si
próprio.
o O terceiro com quem se contrate tem todo o direito de conhecer a outra
parte, podendo isso, inclusive, fazer depender a sua decisão.
▪ Atuação por conta do representado, já que, segundo MC, faz sentido que o
representante atue no interesse do representado. Contudo, segundo JAV, este
requisito é afastado pelo facto de, segundo o art.º 265/3, a representação poder
ser feita no interesse do representante ou até mesmo de terceiros.
▪ Existência de poderes de representação.
Figuras Semelhantes
→ Recurso a Núncio – o núncio limita-se a transmitir uma mensagem; ao contrário
do representante, o núncio não é investido em poderes de representação e,
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 5
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
como tal, não age em nome do “representado”. O erro do núncio ao transmitir a
mensagem conduz-nos à anulabilidade do negócio (art.º 250).
→ Consentimento – O agente é autorizado a agir em nome próprio na esfera alheia.
Regime da Representação – Os Efeitos da Representação
Segundo o art.º 258, o negócio jurídico celebrado pelo representante, em nome do
representado produz efeitos na esfera do representado, sendo que esta repercussão
tem duas caraterísticas: é imediata e automática.
O poder de disposição mantém-se na esfera de origem, sob pena de ilegitimidade:
simplesmente este poder será atuado pelo representante. Associada a esta
representação, estará uma situação subjacente, em regra, um mandato.
Ainda que do mesmo lado do negócio, existem dois intervenientes: o representante e o
representado, sendo que a relevância das vontades é avaliada com base no art.º 259/1.
A má fé do representado (art.º 259/2) prejudica sempre, mesmo que o representante
esteja de boa-fé. “Má-fé” está aqui aplicada em termos muito amplos, de modo a
exprimir o conhecimento, o desconhecimento culposo e, em geral, a prática de
quaisquer ilícitos. Não obstante os efeitos do negócio jurídico serem desencadeados na
esfera jurídica do representado, o comportamento declarativo é do representante.
Se o erro é do representado, é na pessoa dele que se devem aferir dos requisitos de
relevância respetivos, e vice-versa.
Assim, a complexidade da representação determina, deste modo, que o vício da
declaração (art.º 247), a ignorância ou conhecimento de um facto seja aferida na
pessoa que determina esse aspeto da declaração negocial, em princípio, o
declarante/representante, podendo, no entanto, ser igualmente o representado.
Justificação dos Poderes do Representante
Numa situação de representação, o representante age em nome e por conta do
representado, pelo que dá a conhecer aos interessados a existência desta mesma
representação, sendo que o destinatário da conduta tem o direito de exigir que o
representante faça prova dos seus poderes, sob pena da declaração não produzir efeitos
(art.º 260/1). Constando os poderes de representação de um documento, pode o
terceiro exigir uma cópia assinada pelo representante (art.º 260/2).
Negócios Consigo Mesmo
Dispondo de poderes de representação, o representante poderia ser levado a usá-los
num contrato em que, ele próprio, fosse a outra parte. Na eventualidade de um
representante ser levado a usar os poderes de representação num contrato em que, ele
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 6
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
próprio, fosse a outra parte, surge um conflito de interesses. Isto porque o
representante poderia sacrificar os interesses que lhe foram confiados pelo
representado, justificando-se, deste modo, a restritividade da lei (art.º 261).
O art.º 261 distingue 3 hipóteses:
▪ Negócio celebrado pelo representante consigo mesmo e em nome próprio.
▪ Negócio celebrado pelo representante em representação de um terceiro.
▪ Negócio celebrado por pessoa a quem o representante tivesse subestabelecido
os seus poderes de representação, com o próprio representante.
Perante a eventualidade descrita, o representado decidirá, em última instância, se o
negócio lhe convém ou se, pelo contrário, pretende impugná-lo.
Todavia, estamos no domínio da autonomia privada, o que nos leva a perceber que o
representado poderá confirmar a celebração do negócio (art.º 288), declarando
especificamente que concorda com a celebração do negócio pelo representante em
nome de si próprio.
A Procuração e o Negócio Base
A representação voluntária é utilizada por meio da procuração (art.º 262).
A procuração é um negócio jurídico unilateral (implica a liberdade de celebração e de
estipulação e surge perfeita apenas com uma declaração de vontade, não sendo
igualmente necessária qualquer aceitação para que produza efeitos).
O beneficiário que não queira ser procurador poderá renunciar, fazendo a procuração
se extinguir (art.º 265/1).
Em princípio, a procuração pode ter por objeto a prática de quaisquer atos, salvo
disposição legal em contrário, contudo, esta pode ser nula por ter um objeto
indeterminável (art.º 280/1).
Atendendo ao art.º 262/2, a procuração poderá ser verbal quando vise negócios
consensuais, devendo ser passada por escrito sempre que essa seja a forma requerida
para o negócio a celebrar.
Procuração Expressa
O declarante declara, de forma expressa (art.º 217), constituir seu procurador alguém
que identifica e a quem declara conferir poderes de representação, para, em seu nome,
praticar certos atos ou celebrar certos negócios.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 7
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Procuração Tácita
▪ Procuração tolerada – quando alguém admite, repetidamente, que um terceiro
se assuma seu representante. Apesar de MC não admitir que, por esta via, se dê
uma verdadeira procuração, parte da doutrina discorda.
▪ Procuração aparente – Quando alguém se assume representante de outrem sem
o seu conhecimento, contudo esta representação poderia ter sido evitada se o
representado aparente tivesse utilizado do cuidado exigível.
Em qualquer dos casos teria de se exigir boa-fé por parte do terceiro protegido: a tutela
não opera quando ele conhecesse ou devesse conhecer a falta de procuração.
Poderes Gerais e Poderes Especiais
Para esta contraposição, atenta a lacuna jurídica existente, aplica-se, por via analógica,
o art.º 1159.
O Negócio Base/Relevância Na Procuração
Enquanto que a procuração promove a concessão de poderes de representação, o
mandato dá azo a uma prestação de serviços.
Normalmente, o negócio base da procuração será um contrato de mandato, sendo que
neste ponto há, entre a procuração e o mandato, uma específica situação de união (a
qual é reconhecida pela própria lei, como se observa nos art.º 1178 e 1179).
Regras quanto ao Procurador e à Substituição
Segundo o art.º 263, o procurador não necessita de ter mais do que a capacidade de
entender e querer, exigida pela natureza do negócio que haja a efetuar. Esta regra deriva
da utilização do procurador como mero núncio, sendo que o controlo da sua aplicação
derivará da “natureza do negócio que haja para efetuar”.
O procurador terá de ter outorgado validamente no negócio-base ou, de outro modo, a
invalidade deste implica a da procuração, por aplicação, direta ou analógica do art.º
265/1.
Note-se que uma PC pode ser designada procuradora, ficando dotada de poderes de
representação exercidos pelos titulares dos órgãos competentes, nos termos da lei e
dos respetivos estatutos.
O art.º 264/1 admite a substituição do procurador em três hipóteses:
▪ Se o representado o permitir.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 8
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Se a faculdade de substituição resultar do conteúdo da procuração (através de
uma cláusula de substabelecimento).
▪ Se essa mesma determinação resultar da relação jurídica que a determina.
Substabelecimento – situação em que há um representante que representa igualmente
o representado, a diferença é que a outorga em vez de ser feita pelo representado é
pelo representante. Este dispositivo poderá ser feito:
▪ Com reserva – o procurador não é excluído, este mantém os poderes que lhe
foram conferidos. (regime supletivo, art.º 264/2).
▪ Sem reserva – exclusão do procurador, passando a ser o substabelecido o único
investido em poderes de representação.
O art.º 264/3 estipula um regime que fixa uma regra de mera responsabilidade por culpa
in eligendo ou in instruendo.
Finalmente, o art.º 264/4 admite que o procurador se sirva de auxiliares na execução da
procuração, contudo, a isto pode obstar o negócio-base ou a natureza do ato a praticar.
A Cessação da Procuração
O art.º 265/1 e 2 prevê três formas de extinção da procuração:
▪ A renúncia do procurador.
▪ A cessação do negócio-base (extinto o mandato, extinta a procuração).
▪ A revogação pelo representado.
▪ Quando conferida por tempo determinado, a caducidade.
Contudo, sem prejuízo da regra da livre renunciabilidade aos poderes de representação,
por parte do procurador, este poderá ter de indemnizar, se causar danos e a sua
responsabilidade emergir da relação-base. Para além disto, se se tratar de mandato, o
art.º 1172 determina um dever de indemnizar.
As regras da extinção da procuração são obtidas por meio de uma aplicação analógica
dos art.º 1175 e 1776.
Na pluralidade de representantes, funcionará, por analogia, o art.º 1177.
No caso de a procuração ser conferida também no interesse do procurador, ou de
terceiro, o art.º 265/3 considera a procuração irrevogável, a não ser que: haja acordo
do interessado, ou então, que haja uma justa causa.
Segundo Batista Machado e segundo o Ac. do TRL de 05/11/2020, justa causa é um
conceito indeterminado cuja aplicação exige necessariamente uma apreciação
valorativa do caso concreto. Será uma justa causa/fundamento importante, qualquer
circunstância, facto ou situação em face da qual, e segundo a boa-fé:
▪ não seja exigível a uma das partes a continuação da relação contratual;
▪ capaz de fazer perigar o fim do contrato ou de dificultar a obtenção desse fim;
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 9
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ possa fazer desaparecer pressupostos, pessoais ou reais, essenciais ao
desenvolvimento da relação, designadamente, qualquer conduta contrária ao
dever de correção e lealdade.
A justa causa representará, em regra, um incumprimento dos deveres contratuais:
será aquela violação contratual que dificulta, torna insuportável ou inexigível para a
parte não inadimplente1 a continuação da relação contratual.
Em certos casos, porém, a justa causa não consiste numa violação do contrato pelo
sujeito contra o qual é exercido o direito de resolução, mas num facto que se liga à vida
ou à esfera de controle daquela parte a que a lei confere o direito de resolução (e.g., o
comodante que venha a ter uma necessidade urgente e inesperada do objeto dado em
comodato pode resolver o contrato com fundamento em ‘justa causa’ nos termos do
citado art. 1140).
A revogação da procuração poderá também ser tácita (aplicação analógica do art.º
1171), assim: o representado que designe outro procurador, para a prática dos mesmos
atos, está, implicitamente, a revogar a procuração primeiro passada.
Em qualquer caso, ocorrendo a cessação da procuração, o representante deve restituir,
ao representado, o documento de onde constem os seus poderes, se existir (art.º 267,
preceito destinado a evitar que terceiros possam ser enganados quanto à manutenção
dos poderes de representação).
A Tutela de Terceiros
A procuração não pode ser tratada como uma relação exclusiva entre o representante
e o representado, já que terceiros também são envolvidos. Contudo, no que respeita à
procuração, estes não intervêm. Daí que o Direito dispense uma tutela de terceiros.
A Proteção perante as Modificações e a Extinção Da Procuração
Procurando contemplar os interesses e a confiança de terceiros, o art.º 266 estabeleceu
as seguintes regras:
▪ Tratando-se de atuações que dependam da iniciativa do representante, devem
ser levadas ao conhecimento de terceiros por meios idóneos, sendo que a sua
inobservância, apenas remete para uma inoponibilidade das modificações ou da
revogação (art.º 266/1). Note-se que, a jurisprudência entende que o
representado terá de provar que os terceiros conheciam a revogação da
procuração.
▪ Nos restantes casos de extinção da procuração, não se refere um expresso dever
de dar a conhecer aos terceiros; não obstante, elas não podem ser opostas ao
terceiro que “sem culpa, as tenha ignorado” (art.º266/2). A jurisprudência
entende que não há qualquer presunção de ignorância, assim, o terceiro que
1
Parte incumpridora
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 10
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
queira beneficiar desta situação, terá de a invocar e de provar o seu
desconhecimento.
Para explicar a produção de efeitos da procuração, cuja extinção, por não ter sido
comunicada aos terceiros interessados, mantém eficácia, surgiram duas teorias:
→ Teoria do Negócio Jurídico, que entende que a procuração só se extingue
quando a sua cessação seja conhecida pelos terceiros a proteger.
→ Teoria da Aparência Jurídica, que entende que a procuração se extinguiu
efetivamente, todavia, mercê da aparência e para tutela de terceiros, ela
mantém alguma eficácia.
Esta é a teoria com acolhimento em Portugal, sendo que o art.º 266, ao precisar
as condições nele enunciadas, dispensa uma determinada proteção aos terceiros
aí referidos.
O Direito Português e a Procuração Institucional
Pergunta-se se, perante o direito português, são utilizáveis os esquemas da procuração
tolerada e aparente. Na falta de procuração, e mesmo em situações de tolerância ou de
aparência, nada há que, objetivamente, faculte a aplicação do referido art.º 266.
Todavia, o terceiro que seja colocado numa situação de acreditar, justificadamente, na
existência de uma procuração, poderá ser protegido, sempre que do conjunto da
situação resulte que a invocação da falta de procuração, pelo suposto representado,
constitua abuso de direito, nas modalidades: de venire contra factum proprium ou na
modalidade de surrectio.
O Direito português vigente comporta um dispositivo em torno do qual se afigura
possível construir uma ideia de procuração institucional, destinada a assegurar o tráfego
jurídico e a proteger terceiros. Assim, segundo o art.º 23/1 do Decreto-Lei n.º 178/86
(Regulamenta o Contrato de Agência ou Contrato Comercial):
“O negócio celebrado por um agente sem poderes de representação é eficaz
perante o principal se tiverem existido razões ponderosas, objetivamente
apreciadas, tendo em conta as circunstâncias do caso, que justifiquem a confiança
do terceiro de boa-fé na legitimidade do agente, desde que o principal tenha
igualmente contribuído para fundar a confiança do terceiro.”
Pode-se, deste modo, considerar os seguintes requisitos:
▪ atuação em nome alheio.
▪ terceiro de boa-fé.
▪ confiança justificada por parte deste terceiro.
▪ contribuição do agente para a confiança de terceiro.
A pessoa que contrate com um alegado representante tem um mínimo de cautelas a
observar (e.g. a exigência da prova dos poderes do representante dentro de prazos
razoáveis, sob pena de deixar a declaração sem efeitos – art.º 260), mas se a situação
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 11
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
for institucional, no sentido de surgir enquadrada numa organização permanente, com
trabalhadores ou agentes e serviços diferenciados, a realidade sociocultural é diversa
(e.g. ninguém vai a um supermercado invocar perante o empregado da caixa o artigo
266º, exigindo-lhe a justificação dos seus poderes), já que a confiança é imediata, total
e geral. Compete ao empregador manter a disciplina na empresa, assegurando-se da
legitimidade dos seus colaboradores. Fala-se, neste âmbito, de uma procuração
institucional.
Assim, a procuração institucional surge sempre que uma pessoa de boa-fé, contrate
com uma organização em cujo nome atue um agente em termos tais que, de acordo
com os dados socioculturais vigentes, e visto a sua inserção orgânica, seja tranquila a
existência de poderes de representação.
A Procuração Post Mortem
Segundo MC, infere-se do art.º 265 que a morte do representado não implica,
necessariamente, a caducidade da procuração (e.g. ocorrendo a morte do comerciante,
prosseguem os negócios concluídos pelos trabalhadores e agentes, com a diferença de
que, agora, com efeitos na esfera jurídica dos respetivos sucessores). De argumentação
diferente é Catarina Brandão Proença, defendendo que sempre que há a morte do
representado, dá-se a extinção da procuração. A morte do representante leva sempre à
extinção da representação.
No entanto, apesar do que defende MC, este autor admite também que nas situações
individualizadas, a procuração tende a caducar pela morte do representado, em virtude
da cessação da relação subjacente.
Representação Sem Poderes
Representação sem poderes – ato praticado em nome e por conta de outrem sem que,
para tanto, existam os necessários poderes de representação.
À partida, semelhante negócio deveria ser nulo, já que está ferido de legitimidade,
todavia o negócio poderá ser favorável ao dominus, daí se considerar este negócio
ineficaz, já que, só assim se permite ao representado ratificar o negócio jurídico, de
forma a acolhê-lo a si e aos seus respetivos efeitos, na esfera jurídica deste alegado
representado (art.º 268).
A ratificação do ato não se confunde com a aprovação da sua prática. A aprovação
apenas implica que o dominus renuncie a eventuais indemnizações que lhe poderiam
caber, por danos causados com a atuação do representante não empossado de poderes.
Assim, a ratificação é a vontade do “representado” de não invocar os mecanismos do
incumprimento eventualmente perpetuado pelo falsus procurator.
Deste modo, o ato praticado e que constitui uma violação contratual, é passível de
ratificação, mas não de aprovação, daí que nada iniba a aplicação da responsabilidade
contratual do “representante” (art.º 800/1).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 12
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Não há qualquer contradição na hipótese de uma ratificação sem aprovação, já que a
ratificação coloca-se num plano específico, não prejudicando o caráter jurídico e
eticamente reprovável da conduta do representante não empossado de poderes.
A ratificação está sujeita à forma requerida para a própria procuração (art.º 268/2) e
tem eficácia retroativa (ou seja, o negócio produz efeitos desde o momento em que teve
início), sem prejuízo dos direitos de terceiros em revogar ou rejeitar a celebração do
negócio.
Enquanto não houver ratificação, o negócio mantém-se, todavia é ineficaz em relação
ao “representado”.
Contudo, apesar deste terceiro poder ficar vinculado à decisão do representado em
ratificar ou não o negócio jurídico, segundo o art.º 268/4:
→ Se o terceiro não tiver conhecimento da falta de poderes do representante no
momento da conclusão do negócio, este mesmo terceiro pode revogar ou
rejeitar o negócio, até que este seja ratificado.
→ Já se o terceiro tiver conhecimento desta deficiência, este fica vinculado à
decisão do alegado representado, sendo que, apesar disto, o terceiro tem a
faculdade de fixar um prazo para que sobrevenha a ratificação, considerando-se
negada (passando o negócio a não produzir quaisquer efeitos) se este prazo for
ultrapassado (art.º 268/3).
O Abuso de Representação
O art.º 269 reporta-se ao abuso da representação, determinando que, nessa
eventualidade, seja aplicado o regime da representação sem poderes, “se a outra parte
conhecia ou deveria conhecer o abuso”.
O abuso de representação supõe a existência de poderes representativos, sendo esses
poderes que justificam que o negócio celebrado pelo representante seja eficaz, a não
ser no caso explicitado no art.º 269.
Sendo o representante empossado de poderes, o abuso de representação poderá residir,
segundo JAV:
→ Na violação do fim da outorga de poderes representativos, i.e., na violação do
fim da procuração (o representado conhece o fim com que a procuração foi
concedida e, mesmo assim, exerce os seus poderes de representação em
desconformidade com este fim).
→ Na desobediência das instruções dadas pelo representado ao representante.
Todavia, note-se que nem sempre esta desobediência representará um abuso de
representação, na medida em que, uma procuração outorgada no interesse do
representante ou de terceiro, poderá justificar o desrespeito pelas instruções
dadas.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 13
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Assim, quando o terceiro conhece ou devia conhecer a desconformidade do exercício
dos poderes representativos face ao fim da procuração ou às instruções dadas pelo
representado, a lei equipara esta situação à ausência de poderes representativos, pelo
que se declara o negócio ineficaz (sendo que este carece de ratificação para se tornar
efetivamente eficaz).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 14
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
CAPÍTULO II. A CONTAGEM DE PRAZOS
Distinguem-se dois tipos de prazos: os prazos civis e os prazos processuais. Atualmente,
o prazo civil (todos os prazos, salvo norma em contrário) conta-se de acordo com as
regras do art.º 279, resultando a regra mais geral do art.º 296.
O cômputo dos prazos
O art.º 296 remete o cômputo dos prazos para o art.º 279. Este artigo fixou, no
essencial, dois tipos de regras:
▪ regras destinadas a interpretar as declarações de vontade feitas pelas partes, a
propósito da estipulação de termo.
▪ regras mais gerais sobre o cômputo dos prazos.
Evidentemente, as regras sobre a interpretação das declarações poder-se-ão aplicar a
quaisquer outras fontes, quando estas assumissem a configuração prevista. Assim:
▪ quando o termo se reporta ao princípio, maio ou fim do mês, entende-se, como
tal, o primeiro dia, o dia 15 e o último dia do mês.
▪ quando se fixe o principio, meio ou fim do ano entende-se, respetivamente, o
primeiro dia do ano, o dia 30 de junho e o dia 31 de dezembro.
▪ é havido, respetivamente, como prazo de 1 ou 2 semanas ou designado por 8 ou
15 dias.
▪ é havido, respetivamente, como prazo de 1 ou 2 dias o designado por 24 ou 48
horas.
O mesmo art.º 279 contém, depois, regras gerais sobre a contagem de prazos:
▪ na contagem de qualquer prazo não se inclui o dia em que ocorreu evento a
partir do qual o prazo começa a correr.
▪ o prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, terminará às
24 horas do dia que corresponda, dentro da última semana, mês ou ano, a essa
data.
O final do art.º 279/c), contém uma regra para que cumpre estar atento: se no último
mês não existir dia correspondente, o prazo finda no último dia desse mês.
Finalmente, o prazo que termine um domingo ou feriado transfere-se para o primeiro
dia útil seguinte (art.º 279/e)). Na segunda parte do art.º 279/e), numa tentativa de
aproximar os prazos civis dos processuais, veio o legislador equiparar as férias judiciais
aos domingos e feriados, quando o ato sujeito a prazo tenha de ser praticado em juízo.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 15
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
SUBCAPÍTULO I. PRESCRIÇÃO
Natureza imperativa e fundamento
A imperatividade da prescrição não é um dado evidente, nem pacífico, daí a necessidade
de apresentação dos fundamentos da prescrição:
▪ Fundamentos atinentes ao devedor
À medida que o tempo passe, o devedor irá ter uma crescente dificuldade em
fazer prova do pagamento que tenha efetuado. A não haver prescrição, qualquer
pessoa poderia, a todo o tempo, sere demandada novamente por quase tudo o
que pagou ao longo da vida.
Além disso, sem prescrição, o devedor iria comprometer as suas hipóteses de
regresso (de que lhe seja devolvido o que pagou), sempre que estivessem em
causa situações subjetivamente complexas. Teria de se precaver com novas
garantias ou, quiçá, de constituir reservas.
Em suma, o devedor nunca ficaria seguro de ter deixado de o ser, ficando numa
posição permanentemente fragilizada, argumentando-se, por isso, com a
segurança jurídica.
▪ Fundamentos de ordem geral
A prescrição serviria ainda escopos de ordem geral, atinentes à paz jurídica e à
segurança. A ideia de uma paz jurídica não colhe, já que o Tribunal não pode, ex
officio, constatar a prescrição (art.º 303).
Tão pouco parece razoável, para MC, a ideia de que a prescrição serviria, em
simultâneo, o interesse do credor e do devedor. No campo do direito privado, o
interesse do credor será sempre de dispor de um máximo de pretensões,
podendo ordenar no tempo, de acordo com as suas conveniências, o exercício
dos seus direitos.
Temos, pois, de assumir, segundo MC que a prescrição visa, no essencial, tutelar o
interesse do devedor: a usucapião protege a pessoa que poderia estar na iminência de
entregar a coisa, i.e., o seu devedor, nunca a pessoa a quem uma usucapião seja oposta.
Natureza das normas sobre a prescrição; a rigidez dos
prazos
A prescrição nada tem de excecional, pelo que a interpretação das suas normas procede
de modo comum.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 16
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Note-se que quando fixo um prazo, a norma torna-se autossuficiente, esgotando-se
na missão de fixar um prazo. Assim, não é lícito, o intérprete-aplicador, alongar ou
restringir prazos fixados por lei, a coberto de diretrizes jurídico-científicas.
Quanto às partes, perante o art.º 300, elas terão de deixar incólumes os dispositivos
legais, não podendo facilitar nem dificultar a prescrição, nem mesmo perante acordo
das partes.
A renúncia à invocação da prescrição
Depois de ter decorrido o seu prazo e de se ter constituído o direito potestativo de
invocar, o art.º 302/1 admite a renúncia.
A renúncia será, assim, uma declaração unilateral, que visa a extinção do direito
potestativo de invocar a prescrição. Já se tem exigido, para a eficácia da renúncia, que
o devedor tivesse conhecimento de que a dívida se encontrava prescrita, embora tal
requisito não seja unânime na doutrina.
O devedor que não tivesse nem pudesse ter conhecimento do seu direito de invocar a
prescrição, não pode lhe pode renunciar, todavia, também não é possível demonstrar,
designadamente nos casos de renúncia tácita, que o devedor conhecia o expirar da
prescrição.
Assim, segundo MC, a renúncia à prescrição apenas é operativa quando o devedor
conhecesse o decurso do prazo.
Especifica o art.º 302/2 que a renúncia pode ser tácita. O preceito, embora decorrente
já do art.º 217/1, tem a sua utilidade, sendo que a jurisprudência esclarece alguns
pontos:
▪ Renuncia tacitamente a prescrição quem, depois de decorrido o prazo
prescricional, reconheça a dívida exequenda, obrigando-se a pagá-la.
▪ Há renúncia tácita quando se admita que a dívida de capital e juros subsiste,
apesar de decorrido o prazo.
▪ Há igualmente renúncia tácita quando o devedor de uma obrigação prescrita
proponha ao credor formas de pagamento.
▪ Há, ainda, renúncia tácita quando o devedor declara, após a prescrição, que
pagará quando receber determinadas indemnizações.
Foi muito discutida, nos nossos tribunais, a questão de saber se, havendo renúncia à
prescrição, se iniciaria, daí para o futuro, nova contagem de prazo.
Sendo que a lei estipula que não pode haver negócios que dificultem, para o futuro, a
prescrição (art.º 300), a renúncia é possível, mas apenas após o decurso do respetivo
prazo (art.º 302/1): nela, o devedor despoja-se do direito de invocar uma certa
prescrição já consumada, não de futuras prescrições. Assim, verificada a renúncia, pode
iniciar-se nova prescrição, se o direito continuar a não ser exercido.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 17
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
i. Beneficiários e invocação
O art.º 301 determina que a invocação aproveita a todos os que dela possam tirar
benefício, sem exceção dos incapazes.
A prescrição é uma posição privada concedida no interesse do devedor: este, poderá
usá-la ou não. A hipótese de um devedor, beneficiado pela prescrição, não a querer usar,
nada tem de anormal, atendendo a que poderão prevalecer aspetos morais ou até
mesmo patrimoniais e pragmáticos.
O art.º 303 é claro: o tribunal não pode suprir a prescrição oficiosamente. Em rigor, o
simples decurso do prazo dá lugar ao aparecimento de um direito potestativo, o de
invocar a prescrição.
A prescrição pode ser invocada por terceiros, desde que tenham interesse legítimo na
sua declaração (art.º 305/1). Trata-se de uma manifestação de legitimidade que é dada
aos credores para exercer certos direitos relativos ao devedor e que tem a sua sede mais
geral nos art.º 605 ss..
Havendo renúncia já consumada, os credores não podem invocar a prescrição como se
nada tivesse ocorrido: terão de impugnar essa renúncia ou, pelo menos, de invocar a
prescrição dentro do condicionalismo requerido para a impugnação em causa: ou da
ação pauliana (art.º 305/2 e 610).
A inoponibilidade no caso julgado aos credores do devedor, predisposta no art.º 305/3,
é um novo afloramento de uma regra geral. O caso julgado, em si, é eficaz entre quem
tenha sido parte do processo que o originou.
Início do prazo
Enquanto que o sistema objetivo (o prazo começa a correr assim que o direito possa ser
exercido e independentemente do conhecimento que, disso, tenha ou possa ter o
respetivo credor) dá primazia à segurança, o sistema subjetivo (o início só se dá quando
o credor tenha conhecimento dos elementos essenciais relativos ao seu direito) à
justiça, a junção dos 2 será a melhor solução de iure condendo.
O art.º 306/1, 1.ª parte, adotou o esquema objetivo: dispensa qualquer conhecimento,
por parte do credor, contudo, a expressão “começa a correr quando o direito puder ser
exercido”, deve ser corrigido em função dos art.º 296 e 279, já que o próprio dia não é
contado.
Segundo MC, a injustiça a que este sistema possa dar lugar (já que, para o direito atual,
é indiferente a boa ou má-fé do credor) é temperada pelas regras atinentes à suspensão
da prescrição.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 18
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Numa situação de prestações periódicas, cumpre distinguir o direito unitário ao
surgimento das diversas prestações, do direito singular de crédito a cada uma delas:
▪ O direito singular tem autonomia: prescrevem no prazo que lhe compita
(segundo o art.º 305, em 5 anos).
▪ O direito unitário é regulado no art.º 307, pelo menos nalguns casos.
Assim, tratando-se de renda perpétua ou de renda vitalícia, a prescrição do direito
unitário inicia-se desde a exigibilidade da primeira prestação que não for paga. A
especialidade desta situação reside no facto de haver um título único e não
propriamente, uma prestação nuclear, de que as prestações periódicas decorram,
como acessórios.
Fala o art.º 307 em “outras prestações análogas”, como exemplos: a renda fixada como
indemnização (art.º 567), o legado de prestações periódicas (art.º 2273) e os juros
(art.º 561).
Cumpre ainda sublinhar que, nalguns casos de prescrição a lei portuguesa estabelece
sistemas subjetivos. É o que sucede no enriquecimento sem causa e na responsabilidade
civil (art.º 482 e 498/1), casos em que se prevê uma prescrição de 3 anos cujo início
depende do conhecimento que o credor tenha dos seus direitos.
Accessio temporis
Iniciada a prescrição de determinado direito, ela prossegue independentemente de:
▪ O crédito se transmitir para um devedor diverso do inicial.
▪ O débito transmitir para o novo devedor
Segundo a accessio temporis o novo credor pode ser invocado, contra ele, o tempo de
prescrição já decorrido contra o seu antecessor e o novo devedor pode somar o seu
ao tempo já processado, a favor do seu antecessor.
A accessio temporis evidencia justamente o facto de se considerar a situação em si e não
a pessoa: é indiferente que ocorra uma cessão singular ou universal e a parte creditoris
e debitoris.
O art.º 308 prevê pelo lado do credor (art.º 308/1) e pelo lado do devedor (art.º 308/2).
Os efeitos
Na determinação dos efeitos da prescrição, cumpre distinguir a prescrição em si e a sua
invocação.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 19
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Expirado o prazo, o devedor tem o direito de invocar a prescrição (art.º 303). Essa
invocação pode ser feita judicial ou extrajudicialmente e de modo expresso ou de modo
tácito (art.º 304/1 concatenado com o art.º 303).
A doutrina assimilava, por vezes, a prescrição a uma forma de extinção do direito do
devedor, todavia, o art.º 304/2 não dispõe da mesma forma.
A prestação prescrita, mas cuja prescrição não tenha sido invocada, é uma prestação
comum. Sendo cumprida, não há que falar em prescrição uma vez que o tribunal não a
pode aplicar de ofício, assim, há duas sub-hipóteses:
▪ ou não foi invocada porque o devedor não a quis invocar.
▪ ou não foi invocada porque o devedor não sabia da prescrição: nessa altura, a lei
não permite invalidar o cumprimento, repetindo a prestação.
Em qualquer destes casos, a prescrição não surte quaisquer efeitos por não ter sido
invocada. A ignorância não permite uma invocação posterior ao cumprimento.
Enquanto a prestação prescrita, mas cuja prescrição não tenha sido invocada, pode ser
judicialmente exigida, com a inelutável condenação do devedor, havendo tal invocação,
já não há exigência judicial possível, sendo que se espontaneamente paga, não há
repetição.
A invocação da prescrição tem a consequência de fazer passar o débito prescrito à
categoria de obrigação natural (art.º 403/1). Nada disto se confunde com a renúncia,
que traduz um lado autónomo de disposição do poder de invocar a prescrição.
Decorrido o prazo prescricional:
▪ O devedor pode invocar a prescrição, pode renunciar a ela ou pode nada fazer.
▪ Se invocar a prescrição, a obrigação passa a natural inexigível, mas com soluti
retentio (i.e., retenção do pagamento já realizado, segundo o art.º 403/1); se for
cumprida, não pode ser repetida.
▪ Se renunciar à prescrição, a obrigação mantém-se civil, devendo ser cumprida,
nos termos comuns.
▪ Se nada fizer, obrigação mantém-se civil, contudo, nesta situação encontramo-
nos perante uma de duas hipóteses:
o ou o devedor cumpre a prestação e esta não pode ser repetida, por ser
civil.
o ou não cumpre e irá ser condenado no seu cumprimento, pelo facto da
obrigação ser civil.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 20
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Prescrição ordinária
Segundo o art.º 309, o prazo ordinário da prescrição é de 20 anos. Trata-se de um prazo
único, sempre aplicável quando a lei não fixa hipóteses especiais e independentemente
de boa ou da má-fé do devedor.
Segundo MC, uma prescrição de 20 anos é irrealista, já que se trata de um período muito
longo que retira sentido ao instituto.
Prescrição de cinco anos
Nas palavras do STJ, os art.º 310 e 311 fixa um regime de degrau em degrau. O primeiro
bloco é o da prescrição de 5 anos, prevista no art.º 310, nomeadamente nas suas
diversas alíneas:
a) Trata-se das figuras previstas nos art.º 1231 e 1238.
b) A matéria consta dos art.º 1038/a) e 1039 ss.
c) Figura hoje extinta.
d) Resulta dos art.º 559 ss.; quanto a dividendos, fala-se em “direito aos lucros” da
sociedade.
e) Opera nos casos em que se tenha convencionado que o próprio capital iria sendo
pago em prestações, com juros; Numa ocasião pode suceder que, por força do
contrato, o não pagamento de uma prestação provoque o vencimento das
restantes.
f) Figura tratada no art.º 2203.
g) A jurisprudência referia, em especial, as dívidas por fornecimento de energia
elétrica e as correspondentes aos prémios de seguros.
A prescrição do art.º 311 reporta-se a situações que têm em comum: um direito de base
dotado de certo porte e prestações periódicas que dele se desprendem.
O legislador entende que a não cobrança, durante 5 anos, de uma dessas prestações
deve ser sancionada. Normalmente torna-se difícil, para o devedor, fazer prova do seu
pagamento, após um período já tão dilatado.
A cláusula geral do art.º 311/g) mostra que a situação nada tem de excecional, daí que,
quando outra regra não exista, devem ser lhes reconduzidas.
Prescrições presuntivas
São presuntivas as prescrições cujo prazo é inferior a cinco anos e que se sujeitam a um
regime diferenciado.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 21
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
As prescrições presuntivas baseiam-se numa presunção de que as dívidas visadas foram
pagas. De um modo geral, eles reportam-se a débitos marcados pela oralidade ou
próprios do dia a dia. Qualquer discussão a seu respeito ou ocorre imediatamente, ou é
impossível de dirimir com consciência.
Todavia, remetê-las para a prescrição extintiva (prazo muito curto) poderia ter um efeito
duplamente nocivo:
▪ Contribuiria para um ambiente de laxismo e de desatenção: as pessoas não
procurariam pagar o que devem, refugiando-se numa fácil prescrição.
▪ Conduziria a um aumento da litigiosidade: os credores desencadeariam, à mínima
demora, os procedimentos jurisdicionais, para não serem surpreendidos por
prescrições muito curtas.
Segundo o art.º 312, as prescrições subsequentes a este artigo, fundam-se na presunção
de cumprimento. Assim, ficam abrangidas as prescrições de 6 meses e de dois anos, dos
art.º 316 e 317.
O credor, contra o que resultaria das regras gerais das presunções (art.º 350/2),
não pode ilidir a presunção provando que, afinal, o devedor não pagou. Apenas o
próprio devedor, caindo em si, o poderá fazer: por confissão – art.º 313 e 352.
A confissão pode ser tácita e ocorre “se o devedor se recusar a depor ou a prestar
juramento no tribunal, ou praticar em juízo atos incompatíveis com a presunção de
cumprimento” (art.º 314).
Por exemplo, o opositor ao pedido de condenação no preço de serviços, que nega a
dívida, ilide a presunção que a não pagou.
O art.º 316 destaca a previsão de uma prescrição de seis meses. Abrange os
créditos de estabelecimentos de alojamento, comidas ou bebidas que forneçam.
O art.º 317 prevê prescrições de dois anos, mais concretamente:
▪ Quanto a créditos de estabelecimento que forneçam alojamento ou
alojamento e alimentação a estudantes, bem como os créditos de
estabelecimentos de ensino, assistência ou tratamento, relativamente aos
serviços prestados.
▪ Quanto a créditos de comerciantes pelas vendas a não comerciantes ou não
destinadas ao comércio, entre outras.
▪ Quanto a créditos pelos serviços prestados no exercício de profissões liberais
e pelo reembolso das despesas correspondentes.
Suspensão da Prescrição
Apesar da prescrição estar ontologicamente ligada ao decurso dos prazos, os quais,
por definição, são impessoais (não dependem das particularidades do caso concreto),
este instituto é temperado com algumas regras que permitem respeitar valores que
o Direito não pode ignorar. Aqui se insere a interrupção da prescrição.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 22
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A suspensão pode ocorrer por várias razões, nomeadamente:
▪ Causas Bilaterais – implicam a suspensão da prescrição entre duas pessoas
particularmente relacionadas (e.g. cônjuges; art.º 318).
▪ Causas Subjetivas – suspensão favorável a pessoas que se encontram em
situações que o Direito tutela (art.º 319).
▪ Causas Objetivas – derivam de situações jurídicas sensíveis (e.g. um caso de
força maior; art.º 321).
i. Causas subjetivas e objetivas
As causas subjetivas constam do art.º 319, contudo, o problema reside em definir
“tempo de guerra”. Segundo MC, a prescrição só faz sentido enquanto instituto ao
serviço da segurança, como tal, o referido art.º terá aplicação apenas nos casos de
guerra constitucionalmente declarada ou por todos reconhecida. Para as outras
situações resta-nos o recurso ao art.º 321: suspensão por força maior.
O art.º 320 contempla uma outra causa subjetiva de suspensão: a relativa a menores e
maiores acompanhados. Podemos ainda incluir na história das causas de suspensão
subjetivas a previsão do art.º 322.
O art.º 321 contém, por fim, as causas objetivas de suspensão: a suspensão nos últimos
3 meses do prazo, enquanto o titular estiver impedido de fazer valer o seu direito, por
motivo de força maior (o que designa impossibilidade) e na hipótese de dolo do
obrigado, que o impeça de tal exercício.
A hipótese do dolo do obrigado (art.º 321/2) destina-se a evitar que este possa tirar
partido do ilícito próprio, invocando a prescrição que provocou.
Segundo MC, a suspensão da prescrição faz deter o prazo em curso, mas não inutiliza o
prazo já decorrido, assim, cessando a suspensão, o prazo anteriormente decorrido
aproveita-se, somando-se ao que decorra depois.
Em rigor, cumpre distinguir:
▪ Suspensão inicial (art.º 318, 319 e 320/1) – verificada a causa de suspensão
antes ou aquando da consubstanciação dos requisitos que marca o início da
prescrição, esta não começa; a figura distingue-se do não-início porque, ao
contrário deste, pressupõe os diversos requisitos, mas com a causa suspensiva.
▪ Suspensão intercalar (art.º 318, 319 e 320/1) – a prescrição já se tinha iniciado
quando ocorre a causa suspensiva; o prazo para, aproveitando-se contudo
quando recomece a correr.
▪ Suspensão final (art.º 320/1, 321/1 e 322) – o facto suspensivo, além de
paralisar o decurso do tempo, garante um mínimo de tempo final para o
exercício do direito.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 23
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A suspensão não é uma mera delimitação no conteúdo da prescrição: antes funciona
como objeto de um direito potestativo de deter o funcionamento da prescrição, em
certas circunstâncias, suspendendo o conteúdo do respetivo prazo. Uma vez invocada,
a suspensão tem eficácia retroativa: os seus efeitos operam desde o momento em que
se mostrem reunidos os comportamentos requisitados.
SUBCAPÍTULO II. CADUCIDADE
Lato sensu – corresponde a um esquema geral de cessação de SJ, mercê da
superveniência de um facto a que a lei ou outras fontes atribuem esse efeito; traduz-se
na extinção de uma posição jurídica pela verificação de um facto stricto sensu dotado
de eficácia extintiva (e.g. art.º 1051/1, 1123, 1141 e 1174).
Stricto sensu – forma de repercussão do tempo nas SJ que, por lei ou por contrato,
devam ser exercidas dentro de certo tempo; expirado o respetivo prazo sem que se
verifique o exercício, há extinção (art.º 298/2). A caducidade em sentido estrito poderá
se subdividir em:
▪ simples – a lei limita-se a prever ou a referir a cessação de uma situação jurídica
pelo decurso de certo prazo (e.g. art.º 287/1; 359/1, 477/1, 618 e 621).
▪ punitiva – o direito impõe a cessação de uma SJ como reação ao seu não
exercício no prazo fixado, muitas vezes utilizando a expressão “sob pena de
caducidade” (e.g. art.º 436/2, 652/2, 890 e 1220/1).
Poderíamos pensar que a regra geral é a da caducidade, contudo tal ideia não frutifica.
O princípio mais básico é o da prescrição, ao qual estão sujeitos todos os direitos
disponíveis que a lei não declare isentos de prescrição (art.º 298/1). Contudo, a
presença de uma norma que imponha um prazo é, ela sim, um plus regulativo que apela
à caducidade. Assim, salvo a prescrição, as posições jurídicas ativas não estão sujeitas,
por regra, a nenhum prazo, podendo os seus titulares exercê-las quando entenderem.
> Tipos de caducidade
Caducidade convencional – predisposta Caducidade legal – predisposta
por convenção das partes (art.º 330 e diretamente pela lei.
331/2).
Caducidade relativa a matéria Caducidade relativa a matéria
disponível – as partes podem alterar o indisponível – as partes não podem
regime legal. alterar o regime legal.
Note-se que perante direitos De um modo geral, são disponíveis as SJ
disponíveis, surge o reconhecimento do de natureza não-patrimonial, nas esferas
direito como facto impeditivo (art.º dos direitos de personalidade, da família,
331/2). as posições de tipo público que tenham a
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 24
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
ver com o funcionamento dos Tribunais
ou da Administração pública.
Caducidade relativa a atos Caducidade relativa a ações judiciais –
substantivos – respeitam a direitos reportam-se ao direito de propor certa
extrajudiciais. ação em juízo (têm regras especiais: art.º
332).
Início e suspensão
O prazo de caducidade, salvo se a lei fixar outra data, começa a correr no momento em
que o direito puder ser legalmente exercido (art.º 329). A norma distingue-se quanto à
prescrição por prever que a lei possa fixar outra data e por não associar o início do
decurso do prazo à exigibilidade.
No domínio da caducidade, não se aplicam as regras sobre a suspensão e interrupção
do prazo, que funcionam perante a prescrição (art.º 328). Assim, sucede que no tocante
aos casos de caducidade convencional (art.º 330/2), supletivamente, funciona o
instituto da suspensão, tal como previsto para a prescrição (e.g. art.º 2308/3).
Nos casos em que se tenha impedido o titular do direito de intentar a tempo a ação
impeditiva da caducidade e, depois, se tenha vindo a invocar esta última, na falta de
outra norma que permita manter a justiça, haverá que fazer apelo ao princípio da boa-
fé, de modo que a ação se tenha por intentada no momento em que se verificou a
perturbação impeditiva.
Decurso do prazo e causas impeditivas
A caducidade, uma vez em funcionamento, é inelutável. A caducidade só é detida pela
prática, dentro do prazo legal ou convencional, do ato a que a lei ou uma convenção
atribuam o efeito impeditivo (art.º 331/1).
O decurso do prazo de caducidade não é interferido por vicissitudes ocorridas em
relações paralelas ou na própria relação em que ela se insira. Assim, a caducidade do
direito de pedir a rescisão de um contrato de trabalho não é afetado pela suspensão
desse mesmo contrato, assim como a caducidade da ação da restituição de posse (art.º
1282) não é interrompida pela instauração do procedimento cautelar de restituição
provisória.
Todo o beneficiário pode invocar a caducidade de qualquer pretensão com que se veja
confrontado, sendo esta declarada pela entidade competente para reconhecer o direito
envolvido (e.g. Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nas questões que digam
respeito à caducidade do registo de marcas).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 25
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Quando a caducidade se refira ao direito de propor certa ação em juízo e esta for
tempestivamente proposta, põe-se o problema da sua articulação com a absolvição da
instância ou eventualidades similares.
Nessa eventualidade, o art.º 332/1 remete para o art.º 327/3, assim, não se considera
completada a caducidade antes de decorrerem 2 meses sobre o trânsito em julgado da
decisão. Sendo a instância interrompida, não se conta, para efeitos de caducidade, o
prazo decorrido entre a proposição da ação e a interrupção da instância (art.º 332/2).
Tratando-se de caducidade convencional ou de caducidade relativa a direito disponível,
o art.º 331/2 admite que ela seja detida pelo reconhecimento do direito por parte
daquilo contra quem deva ser exercido (Ac. do STJ de 05.12.1972).
A jurisprudência exige que o reconhecimento tenha o mesmo efeito do que a prática do
ato sujeito a caducidade, não valendo enquanto tal uma simples admissão genérica, mas
um reconhecimento concreto, preciso, sem ambiguidades. Além disso, para ter efeitos
impeditivos da caducidade, o reconhecimento deve ter lugar antes de o próprio direito
em jogo ter caducado.
O conhecimento oficioso
A caducidade é de conhecimento oficioso. O tribunal conhece da caducidade por sua
própria iniciativa, ainda que nenhuma das partes a tenha invocado, ao contrário da
prescrição, em que não o pode fazer se não invocada pela parte que dela beneficia.
Enquanto que com a caducidade o direito extingue-se, na prescrição o direito não se
extingue, surge, pois, o direito potestativo de não cumprir a prestação por decurso do
prazo prescricional.
Ao conhecer a caducidade, o tribunal verifica que o direito, ou o poder em questão, já
caducou, por não ter sido exercido dentro do respetivo prazo, e que se extinguiu, não
subsistindo já.
Caducidade vs. Prescrição
A caducidade distingue-se da prescrição por exigir, ao contrário desta, específicas
previsões: a prescrição contenta-se com a previsão geral do art.º 298/1, embora possa
comportar disposições particularizadas, mormente quando fixada em regimes
diferenciados; já a caducidade exige sempre essas mesmas disposições (por regra, as
posições jurídicas não caducam).
Também os campos de aplicação da caducidade e da prescrição são tendencialmente
distintos. Segundo Guilherme Moreira, a caducidade reporta-se, de modo
predominante, a direitos potestativos, enquanto que a prescrição, segundo Dias
Marques, assume uma feição estruturalmente dirigida às obrigações. Contudo,
evidencie-se que não há nenhuma regra absoluta que imponha tais áreas de influência.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 26
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A prescrição é imune à vontade das partes (art.º 300), enquanto que a caducidade pode
ser modelada pela autonomia privada: seja prevendo novas hipóteses, seja fixando
regras distintas das legais (art.º 330/1). Contudo, note-se que esta intervenção da
autonomia privada comporta limites:
▪ o de tratar de situações indisponíveis – de um modo geral, as de natureza
pessoal ou familiar, de ordem pública, como as integrantes de regras públicas ou
processuais, e as que venham bulir com direitos de terceiros.
▪ o de defraudar o regime da prescrição (art.º 300/1) – quando a caducidade
concorre com regras prescricionais, por exemplo, fixar prazos de caducidade
mais curtos do que a prescrição prevista para a defesa dos consumidores.
A caducidade tem prazos, em regra, curtos, ao contrário da prescrição, cujo horizonte é
constituído pelo prazo ordinário de 20 anos (art.º 309).
Note-se ainda que, enquanto que na prescrição a lei prevê os casos de suspensão e de
interrupção, já na caducidade isso, em princípio, não sucede (art.º 328): exige-se, para
tanto, uma previsão específica, com uma aplicação supletiva da suspensão às
caducidades convencionais (art.º 330/2).
Assim, enquanto que uma SJ prescrita deixa de ser oponível a terceiros, uma SJ
caducada deixa de poder ser exercida.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 27
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 28
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
CAPÍTULO III. ABUSO DE DIREITO
O art.º 334 prevê, de modo expresso, o abuso de direito.
Abuso de direito, segundo MC, é o exercício inadmissível de posições jurídicas, contudo,
JAV, retifica a definição: exercício inadmissível de situações jurídicas.
Segundo JAV, situações em que alguém age a coberto de direitos subjetivos, mas em que
o seu exercício, em específico, colide com a OJ, no seu conjunto, constituem uma ilicitude,
já que vai contra aos limites impostos pelo art.º 234.
O referido art.º 334 começa pela estatuição: “é ilegítimo o exercício”. Para OA, é
importante distinguir a ilegitimidade da ilicitude, já que a ilicitude pressupõe um
elemento subjetivo, a culpa, ao contrário da ilicitude, que, tal como o abuso, será
verificado pela análise objetiva da SJ, independentemente de qualquer reprovação que
também possa ser feita ao sujeito.
Na opinião de MC, “ilegítimo” não foi utilizado no seu sentido técnico, pelo que o
legislador pretendeu dizer “é ilícito” ou “não é permitido”.
De seguida, o processo exige que o titular exceda manifestamente certos limites. Não
parece ser possível que se possa atentar contra a boa-fé ou aos bons costumes, desde
que as ocultas, assim como, também os fins económico e social do direito em jogo
poderão ser alcançados perante desvios não manifestos.
Limites
Os limites impostos pela boa-fé tem em vista a boa-fé objetiva (e.g. art.º 227/1, 239,
437/1 e 762/2). Assim, teríamos um apelo ao:
→ Princípio da Tutela da Confiança – o exercício do direito não deve frustrar as
legítimas expetativas de pessoas que tenham adotado condutas em virtude de
um estado de confiança gerado por outrem. Assim, terá de existir:
o Situação de confiança (a pessoa confia num determinado estado de
coisas, ignorando, sem culpa, o facto de estar a lesar posições jurídicas
alheias).
o Justificação para a confiança (existência de elementos objetivos,
razoavelmente capazes de provocarem uma crença plausível na pessoa
que confia no estado de coisas).
o Investimento da confiança (o confiante desenvolveu toda um conjunto
de atividades, tendo por base a existência da situação de confiança).
o Imputação da situação de confiança (existência de uma pessoa
responsável pela situação de confiança criada, seja por ação ou por
omissão, e contra a qual se invoca a boa fé).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 29
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
→ Princípio da Primazia da Materialidade Subjacente – o exercício jurídico deve
ser avaliado em termos materiais e não valorizar condutas que apenas na
aparência prosseguem objetivos jurídicos. Assim, terá de existir:
o Conformidade material das condutas (os fins pretendidos pelo Direito
devem ser realizados com efetividade durante o exercício jurídico, não
bastando a mera aparência de direito).
o Idoneidade valorativa (inadmissibilidade de o agente que praticou o
facto ilícito poder tirar proveito contra outrem da situação jurídica
violada).
o Equilíbrio no exercício de posições (proibição de atos emulativos –
atuações gratuitamente danosas – e de condutas gravemente
desequilibradas – dano máximo para vantagem mínima).
Quanto aos limites impostos pelos bons costumes, estes remetem-nos para as regras
da moral social, impondo condutas de cariz sexual e familiar, bem como determinados
códigos deontológicos.
Por fim, os limites impostos pelo fim social ou económico do direito, remetem-nos para
a perspetiva funcional de Ihering, quando este define direito subjetivo como um interesse
juridicamente protegido, implicando que estes direitos sejam concedidos visando
determinadas funções. Assim, apresentam-se como funções do direito subjetivo:
▪ Função pessoal – utilidade da SJ para o respetivo titular, sendo, por conseguinte,
abusivos os atos emulativos e os exercícios danosos inúteis.
▪ Função social ou económica – o conteúdo do direito subjetivo tem subjacente
um programa de exercício em prol da sociedade e da economia; caso contrário,
o exercício é abusivo.
Para Diogo Costa Gonçalves, a boa fé, os bons costumes e o fim social ou económico do
direito, são locuções normativas que representam a aproximação a uma ideia, a ideia de
justiça material. Assim, há abuso de direito quando o exercício de um direito, por parte
do seu titular legitimado, age de forma materialmente injusta, de modo que o art.º
334 se apresenta como uma válvula de escape do sistema, permitindo a correção de
situações materialmente injustas, ainda que formalmente corretas.
Tipos de Atos Abusivos
i. Inalegabilidades formais
Chama-se de inalegabilidade formal à situação em que a nulidade derivada da falta de
forma legal de determinado negócio não possa ser alegada sob pena de se verificar um
“abuso do direito”, contrário à boa fé.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 30
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Assim, o agente convence a contraparte a concluir um negócio carente de verificação de
forma legalmente exigida , prevalece-se do negócio e, depois, quando o negócio não lhe
seja mais conveniente, vem alegar a nulidade.
Note-se que apesar de requerer a verificação do princípio da tutela da confiança, a
inalegabilidade formal tem, ainda, em si presente, 2 proposições:
▪ Devem estar em jogo apenas os interesses das partes envolvidas (não relevando
os possíveis terceiros de boa-fé).
▪ A situação de confiança deve ser censuravelmente imputável à pessoa a
responsabilizar.
ii. Venire contra factum proprium
O venire é uma situação em que uma parte assume um comportamento contraditório
com uma postura anterior (factum proprium), através da qual se criou uma situação de
confiança na contraparte.
Podemo-nos deparar com um:
▪ Venire positivo – um agente gera um estado de confiança na contraparte de que
não irá praticar certo ato, agindo posteriormente de forma contrária. Nesta
qualificação de venire, encontramos 3 possibilidades:
o Exercício de direitos potestativos (o titular manifesta a intenção de não
exercer um direito potestativo, mas exerce-o).
o Exercício de direitos comuns (o titular manifesta a intenção de não
exercer um direito comum, mas exerce-o).
o Atuações no âmbito das liberdades gerais (o agente exprime uma
atuação no âmbito de uma liberdade geral, normalmente, a autonomia
privada, e, depois, atua em desconformidade com o enunciado).
▪ Venire negativo – um agente gera um estado de confiança na contraparte de
que irá desenvolver certa conduta, agindo posteriormente de forma contrária.
O factum proprium tem de ser suficientemente credível para convencer uma pessoa
normal, colocada na pessoa do confiante razoável, tendo em conta o esforço realizado
pelo mesmo confiante na obtenção do fator a que se entrega. Este é o elemento
objetivo; contudo, requer-se um elemento subjetivo: que o confiante adira ao facto
gerador de confiança.
iii. Exceptio doli
Poder reconhecido a uma pessoa de paralisar a pretensão de certo agente (através de
uma exceção de não cumprimento), quando este atue dolosamente, sendo que dolo
assume o sentido do art.º 253/1.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 31
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
iv. Supressio e surrectio
Supressio – posição do direito subjetivo que, não tendo sido exercido (em certas
circunstâncias e durante um certo lapso de tempo), não mais possa sê-lo, já que, de
outro modo, seria contrário à boa-fé. Esta constitui uma modalidade de venire contra
factum proprium, com a diferença de que a supressio se traduz num não exercício da SJ.
Surrectio – SJ que uma pessoa adquiriu graças à supressio da contraparte, ou seja, SJ
que surge na esfera jurídica de A por B não ter exercido, de forma prolongada, uma dada
SJ.
v. Tu quoque
A fórmula tu quoque exprime a regra geral pela qual uma pessoa que viole uma norma
jurídica não possa depois, sem abuso:
▪ Prevalecer-se da situação daí decorrente.
▪ Exercer a posição violada pelo próprio.
▪ Ou exigir a outrem o acatamento da situação já violada.
No tu quoque já não está em jogo uma manifestação de tutela da confiança: antes de
um princípio mediante, concretizador da boa-fé e a que a doutrina dá o nome de
primazia da materialidade subjacente.
vi. Desequilíbrio no exercício
O desequilíbrio no exercício corresponde a um tipo extenso e residual de atuações
inadmissíveis, por ato contrário à boa-fé. Abriga subtipos diversificados que em comum
têm o despropósito entre o exercício questionado e os efeitos derivados; entre elas
pode destacar-se:
▪ Exercício Danoso Inútil – o titular não retira qualquer utilidade ou benefício
pessoal do exercício do seu direito, antes causando um dano considerável a
outrem.
▪ Inadmissibilidade de retirar proveito pela parte que atua com dolo –
modalidade específica de exercício danoso inútil, em que se exige aquilo que se
deve restituir logo de seguida.
▪ Desproporção no exercício – desproporção entre a vantagem do titular e o
sacrifício por ele imposto a outrem.
Apesar de, por vezes, se pensar que a titularidade do direito nos permite exercê-lo de
qualquer modo, causando quaisquer danos a outrem de modo lícito, já que causados no
exercício do direito, constitui um grave erro, pois, o exercício de um direito deve ser
feito de modo a causar o mínimo dano a outrem, seguindo o Princípio do Mínimo Dano.
Assim, quem exerce um direito deve, ao fazê-lo, usar da cautela e do cuidado
necessários para que não ofenda direitos alheios ou cause danos a terceiros.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 32
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
NEGÓCIO JURÍDICO
CAPÍTULO I. OS FUNDAMENTOS DA DOUTRINA
DO NEGÓCIO
Autonomia, Teoria da Ação e Sistema
1. A autonomia privada
A autonomia privada exprime a permissão genérica de constituir e de conformar SJ
privadas, de acordo com a livre vontade do sujeito, sem necessidade de fundamentar
ou de explicitar as suas opções. Embora possa ser induzido a partir de vários preceitos
constitucionais, ele está ausente do próprio texto constitucional.
A autonomia abre as portas à liberdade da ação humana. O direito privado surge, por
definição, como uma zona de liberdade, onde as pessoas são convidadas a agir.
CAPÍTULO II. DOGMÁTICA GERAL DO NEGÓCIO
JURÍDICO
Eficácia Jurídica
1. Eficácia, situação e modelo decisão
A eficácia jurídica reporta-se à SJ, sendo que estas resultam de uma decisão jurídica, i.e.,
assume-se como ato e efeito de realizar o Direito, solucionando um caso concreto.
A eficácia jurídica resulta de modelos de decisão, emergindo estes dos fatores que
componham um regime jurídico-positivo aplicável.
2. Eficácia constitutiva, transmissiva, modificativa e extintiva
A eficácia é uma dimensão dinâmica das SJ. Tendo em conta a ordenação da eficácia,
perante a situação jurídica, pode falar-se em eficácia:
▪ Constitutiva – caso se forma uma SJ antes inexistente na ordem jurídica (e.g.
art.º 163/a), alguém que se aposse de uma coisa, fazendo surgir uma situação
prossessória).
▪ Transmissiva – sempre que uma SJ já existente na OJ transite da esfera de uma
pessoa para a de outra (e.g. contrato de compra e venda, segundo o art.º 879/a)).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 33
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Modificativa – na hipótese de uma SJ, centrada numa determinada pessoa, aí se
conservar, mas com alterações no seu conteúdo (e.g. um negócio anulável que
seja confirmado, altera-se, por ter sido sanado, segundo o art.º 288).
▪ Extintiva – na eventualidade de se dar o desaparecimento da OJ de uma SJ antes
existente (e.g. cumprida, a obrigação extingue-se).
Embora não seja o mais comum, em certas hipóteses, um efeito pode revelar-se, em
simultâneo, constitutivo e modificativo (e.g. o proprietário que hipoteca um terreno
constitui o direito de hipoteca a favor do credor hipotecário e modifica a sua própria
situação de propriedade a qual, a partir de então, passará a estar onerada pela garantia).
3. Transmissão e sucessão
Ainda que discutida, cabe apurar uma distinção entre transmissão e sucessão:
▪ Transmissão – passagem de uma SJ da esfera de uma pessoa, para a de outra.
▪ Sucessão – ocorre a substituição de uma pessoa por outra, mantendo-se estática
a SJ, a qual, estando inicialmente na esfera de uma pessoa, surge, depois da
troca, na de outra.
Aparentemente idênticas nos seus resultados, a transmissão e sucessão implicam,
todavia, eficácias diferentes: na transmissão, a SJ transferida pode sofrer certas
alterações de elementos circundantes, enquanto que na sucessão, ela mantém-se
totalmente idêntica.
4. Eficácia pessoal, obrigacional e real; Outros tipos
A eficácia pode ainda classificar-se consoante a natureza das SJ a que se reporte:
▪ Eficácia pessoal – quando a situação jurídica que se constitua, transmita,
modifique ou extinga, não tenha natureza patrimonial.
▪ Eficácia obrigacional – sempre que alguma dessas quatro vicissitudes se reporta
situações obrigacionais.
▪ Eficácia real – sempre que alguma dessas quatro vicissitudes se reporte a
situações próprias do direito das coisas.
Nalguns casos, a lei refere expressamente a eficácia real ou obrigacional; noutros,
apenas uma ponderada consideração de cada caso poderá elucidar a natureza da
situação.
5. O papel dos factos jurídicos
Embora a fonte da produção de efeitos, i.e., de eficácia, só possa residir na vontade do
intérprete-aplicador, não restam dúvidas de que esta acompanha os factos jurídicos,
utilizados como referenciais para as ulteriores tomadas de decisões jurídicas e, daí, para
a própria eficácia jurídica.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 34
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Factos, Atos e Negócios Jurídicos
1. Factos jurídicos; Modalidades
Factos jurídicos lato sensu – evento ao qual o Direito associe determinados efeitos
(segundo MC); todo o acontecimento que produz efeitos jurídicos (segundo JAV).
▪ Factos jurídicos stricto sensu – factos jurídicos considerados, a nível da sua
eficácia, como eventos naturais (segundo MC); factos jurídicos que não tenham
proveniência humana (segundo JAV).
▪ Atos jurídicos lato sensu – factos jurídicos considerados, a nível da sua eficácia,
como manifestações da vontade humana (segundo MC); factos jurídicos que
resultem do comportamento humano (segundo JAV). Os atos jurídicos podem
processar-se no espaço, conferido às pessoas, pela autonomia privada: quando
tal ocorra, eles comportam a classificação de atos em sentido estrito e negócios
jurídicos (diferenciação essa, a qual, o próprio legislador definiu no art.º 295):
o Negócios jurídicos – atos jurídicos (lato sensu) que postulem a liberdade
de celebração e a liberdade de estipulação (segundo MC);
comportamento humano declarativo dirigido à produção de efeitos
jurídicos, mormente, a criação, transmissão, modificação e extinção
(segundo JAV).
o Atos jurídicos lato sensu – atos jurídicos (lato sensu) que postulem a
mera liberdade de celebração; atos jurídicos (lato sensu) sem natureza
declarativa (segundo JAV).
Note-se que não está na autonomia privada a prática de atos ilícitos, pelo que, o Direito
associa a estes efeitos próprios.
E.g. que pode haver de comum entre uma inundação, que aciona os mecanismos de um
contrato de seguro, uma extração da lotaria, que confere direitos a determinados
prémios, e o nascimento de uma pessoa, que dá lugar a um novo centro de imputação
de normas jurídicas é, justamente, a presença de eficácia jurídica.
Segundo MC, pode ser retomada a solução apresentada por Paulo Cunha: no negócio a
liberdade de celebração e de estipulação, enquanto que no ato stricto sensu apenas
ocorre a liberdade de celebração. A presença de liberdade de estipulação faculta um
arrimo útil, de evidente relevo dogmático: as regras aplicáveis ao negócio e ao ato
jurídico são diferentes, uma vez que a liberdade de estipulação, rica no conteúdo e,
sobretudo, nas consequências, conduz à aplicação de múltiplas normas e princípios
jurídicos.
Mas a relevância do NJ transcende os aspetos técnicos, já que este representam a
expressão acabada da autonomia privada, reunindo em si, os vetores mais significantes
do Direito Civil.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 35
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
2. Atos lícitos e ilícitos
Atos lícitos – quando se processa ao abrigo de uma permissão específica, de uma
permissão genérica ou, simplesmente, quando seja irrelevante para o Direito.
Atos ilícitos – comportamentos humanos desconformes com o Direito, por implicarem
atuações proibidas ou redundarem no não acatamento de atitudes prescritas.
A ilicitude provoca, em regra, um juízo jurídico de censura: a culpa. O ato ilícito pode
produzir ainda alguns dos efeitos que se destinavam a paralisar o seu exercício; poderão
ainda ocorrer sanções de diversa natureza.
Modalidades de Negócios Jurídicos
1. Negócios unilaterais e multilaterais ou contratos
Negócios unilaterais – completam-se com a declaração (sendo esta a única) que os
consubstancie, sendo dispensável qualquer anuência de outros intervenientes, já que se
revela perfeita com apenas a intervenção de uma parte (e.g. negócios unilaterais: o
testamento -art.º 2179/1-, a renúncia- art.º 1476/1, e)- ou a confirmação- art.º 288).
Negócios plurilaterais/Contratos – resultam do encontro de duas ou mais vontades,
através de uma proposta e de uma aceitação, fazendo surgir ao encargo de cada
interveniente regras próprias que devem ser cumpridas e podem ser violadas (já que
estas regras constituem meras obrigações).
Contudo, a diferenciação de tratamentos presente nos contratos não pode ir tão longe
que impeça uma convergência entre eles: há um regime conjunto que absorve as
posições em presença, originando, em regra, SJ plurissubjetivas complexas (e.g.
negócios contratuais: a compra e venda- art.º 874-, a doação- art.º 940-, a sociedade-
art.º 980- ou o casamento- art.º 1577).
Dentro dos negócios contratuais, importa referenciar:
▪ Contratos sinalagmáticos e não sinalagmáticos – consoante deem lugar a
obrigações recíprocas, ficando as partes, em simultâneo, na situação de credores
e devedores, ou, pelo contrário, apenas facultem a prestação.
▪ Contratos monovinculantes e bivinculantes – conforme apenas uma das partes
fique vinculada ou ambas sejam colocadas nessa situação. Esta classificação não
se confunde com a anterior: um contrato pode ser sinalagmático, isto é, implicar
prestações correlativas, e, não obstante, apenas uma das partes se encontrar
vinculada à sua efetivação (e.g. no contrato-promessa unilateral, previsto no
art.º 411, há sinalagma uma vez que a sua concretização, através do contrato-
definitivo, existe declarações de ambas as partes: mas apenas uma das partes
deve prestar, se a outra quiser e esta presta quando quiser e caso queira que a
outra preste).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 36
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
2. Negócios conjuntos e deliberações
A classificação entre negócio unilaterais e contratos, atende ao número de partes
envolvidas, sendo que um negócio pode envolver duas ou mais pessoas sem que, de
diversas partes, se possa falar por indiferenciação dos efeitos.
Assim, diferenciamos:
▪ Negócio conjunto – várias pessoas são titulares de posições jurídicas que só
podem ser atuadas em bloco (e.g. vários com proprietários propõem uma
denúncia do arrendamento da coisa comum). O negócio conjunto pode implicar
vontades manifestadas em simultâneo ou sucessivamente, mas todas regidas
pelas mesmas normas jurídicas, de modo a conseguir um determinado efeito.
Quando elas integrem normas diversas, correspondendo portanto a regimes
diferenciados, não cabe falar em negócio conjunto, antes ocorrendo vários atos
autónomos, ainda que conectados (tal seria o caso do ato sujeito a autorização,
a qual se analisa também num ato jurídico: ambos os atos ficam interligados,
conservando, porém, uma independência substancializada em regimes
autónomos).
▪ Deliberação – várias pessoas são titulares de posições jurídicas confluentes que
podem, no entanto, ser atuadas em sentido divergente, prevalecendo então a
posição da maioria (este esquema é habitualmente no domínio da formação
orgânica da vontade depois imputada a pessoas coletivas, mas pode surgir
independentemente desse tipo de personalização, sucedendo no campo das
associações sem personalidade jurídica, no das comissões especiais ou no da
propriedade horizontal).
Questão delicada é a da distinção entre negócio conjunto e deliberação quando, para
certa eficácia, se requeira uma concordância unânime dos membros de uma
Assembleia. Nessa eventualidade, em termos materiais, o negócio será conjunto (cada
participante tem, só por si, o direito de facultar, ou não, a decisão comum), porém, em
moldes formais, tende a falar-se em deliberação, uma vez que a situação em causa vai
encadear-se num todo, onde avultam as deliberações propriamente ditas. Caso a caso
há que decidir se se aplica o regime societário das deliberações ou não.
3. Negócios inter vivos e mortis causa
Os negócios inter vivos destinam-se a produzir efeitos em vida dos seus celebrantes, já
os mortis causa apenas se manifestam depois da morte do seu autor, contudo, esta
distinção não satisfaz.
As partes, ao abrigo da sua autonomia privada, podem estipular que os seus
negócios produzem efeitos com a morte de alguma delas, não obstante, o negócio
é inter vivos, por assentar num tipo de regulação primacialmente destinado a
reagir relações entre participações (e.g. seguro de vida).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 37
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O verdadeiro negócio mortis causa é concebido pelo direito para reger SJ
desencadeadas com a morte de uma pessoa, sendo, em termos práticos, regulado pelo
Direito das Sucessões (e.g. testamento- art.º 2179- e os pactos sucessórios- art.º 1700
ss.).
Contudo, note-se que a generalidade dos negócios são inter vivos.
O negócio mortis causa não tem preocupações de equilíbrio, uma vez que surge com a
liberalidade e assenta no valor fundamental da vontade do cuiús (falecido). Na mesma
linha, implica regras próprias de interpretação e de aplicação, estranhas à generalidade
dos negócios (art.º 237 e 2187).
4. Negócios formais e consensuais
Segundo o art.º 219, os negócios requerem uma forma especial quando a lei o exija,
compreendendo-se, deste modo, a contraposição entre negócios formais e negócios
consensuais:
▪ Negócios consensuais – negócios que, por não caírem sobre a estatuição de
normas combinadoras de forma especial, sejam suscetíveis de conclusão por
simples consenso.
▪ Negócios formais – quando a lei apresente para a conclusão do negócio uma
exigência de forma (negócios que para a sua conclusão, a lei exija determinado
ritual, na exteriorização da vontade).
5. Negócios reais quoad constitutionem; negócios sujeitos a registo constitutivo
Negócios reais são aqueles cuja celebração dependa da tradição de uma coisa, aos
quais chamamos, nesta aceção, de reais quoad constitutionem (e.g. penhor - art.º
669/1; comodato - art.º 1129; mútuo - art.º 1142; e depósito - art.º 1185), como modo
de distinguir dos negócios também ditos reais, mas por terem eficácia real, aos quais
chamamos reais quoad effectum.
Negócios reais quoad constitutionem – NJ em que a entrega da coisa é pressuposto
constitutivo, sendo que sem a entrega da coisa não há um NJ concluído.
Negócios reais quoad effectum – NJ em que a entrega da coisa não é pressuposto
constitutivo, sendo esta mesma entrega algo acessório à realização do referido NJ (art.º
408/1).
Apesar da existência de negócios reais quoad constitutionem não há, na entrega de uma
coisa, qualquer manifestação de vontade negocial minimamente identificável como
correspondendo ao tipo de penhor, comodato, mútuo ou depósito: por isso, ela deve
ser considerada como uma simples formalidade (a acrescentar à forma propriamente
dita, que poderá ou não ser exigida para as declarações relativas a negócios formais).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 38
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A natureza porventura em que são usados os negócios reais quoad constitutionem
coloca a questão de saber se as partes não poderão vincular-se, independentemente da
tradição de entrega da coisa, nos termos que eles mesmos convencionarem.
Segundo Vaz Serra e Mota Pinto, a resposta é afirmativa, numa posição que tem vindo
a acolher apoios alargados na doutrina e na jurisprudência. Por outro lado, segundo
Antunes Varela, a resposta é negativa.
Segundo MC, deve reconhecer-se que a exigência de tradição de entrega da coisa para
a conformação dos negócios jurídicos reais quoad constitutionem, não é totalmente
desprovida de justificação valorativa. A facilidade com que, por vezes, se praticam certos
atos, designadamente os gratuitos, explica a necessidade da tradição: ao despojar-se
materialmente da coisa, o interessado apreende melhor o sentido do negócio que vai
concluir (e.g. em sentido favorável a esta aceção, encontramos o regime da doação de
móvel, quando não seja feita por escrito – art.º 947/2).
Assim, segundo MC, a hipótese de dobrar os feitos de negócios reais quoad
constitutionem por negócios equivalentes, mas meramente consensuais, exige sempre
uma reflexão caso a caso.
Não obstante, o penhor (art.º 666) coloca-se numa posição diferente: trata-se de um
negócio real também quoad effectum, do qual resulta um determinado direito real. Por
força do princípio da tipicidade, o penhor deve assumir uma determinada configuração,
indicada na lei, não podendo as partes estipular em plena liberdade.
A configuração típica do penhor exige sempre certa publicidade, que se consegue, no
caso vertente, através da posse, transferida, em princípio, para o titular do direito de
penhor. Sem essa publicidade, não é possível constituir a competente situação de
penhor.
6. Negócios pessoais, obrigacionais e reais quoad effectum
Estas classificações dos NJ dependem do tipo de eficácia a que se dê lugar em cada caso.
As regras aplicáveis a estes negócios variam bastante, sendo objeto de disciplinas
diferenciadas, dentro do direito civil (NJ pessoais- Parte Geral; NJ obrigacionais- Direito
das Obrigações; NJ reais- Direito das Coisas). A parte geral do direito civil deveria ocupar-
se do regime geral dos negócios jurídicos, fosse qual fosse o seu tipo de eficácia. Admitir-
se-ia, naturalmente, existência de desvios setoriais, desde que impostos por normas
específicas, a tanto dirigidas.
No entanto, as fraquezas dogmáticas da parte geral do código civil retiram
operacionalidade uma teoria geral absoluta do negócio jurídico. Boa parte das regras e
que, como tal, são apresentadas, têm imediata aplicação aos negócios obrigacionais.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 39
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
7. Negócios causais e abstratos
A obrigação diz-se causal quando, para valer judicialmente, tenha de ser acompanhada
pela sua fonte, sendo abstrata na hipótese inversa.
Um negócio, deste modo, será causal quando origina obrigações comuns, i.e.,
dependentes da manutenção da sua fonte. Por outro lado, será abstrato, sempre que
dê azo a obrigações abstratas (e.g. título de crédito).
No direito civil português, os negócios são, em princípio, sempre casuais, pelo que, a
eficácia negocial tornar-se-ia efetivamente incompreensível quando desligada da fonte
(i.e. da causa) que lhe dera lugar (e.g. imagine-se o que seria comunicar os efeitos da
compra e venda, sem referir o componente contrato).
Apenas uma ligação estreita entre a eficácia e a sua fonte permite controlar, em termos
sindicantes, a correlação entre as opções voluntárias das pessoas de cuja
autodeterminação se trate e os efeitos desencadeados. Repare-se que problemas como
os da validade ou os dos pressupostos dos negócios só se podem suscitar perante
negócios causais, já que, nos abstratos, isto tornar-se impraticável.
Pelo contrário, numa zona onde impera a tutela da confiança no tráfego jurídico, impõe-
se a abstração como solução natural. É o que sucede nos negócios capitulares, isto é,
naqueles cuja eficácia emerja de títulos de crédito (eles subsistem independentemente
da fonte que os haja originado, apresentando-se como negócios abstratos).
Assim, a classificação que distingue os negócios causais dos abstratos é a nível de
eficácia, i.e., que contrapõe obrigações.
Importa não confundir os negócios abstratos dos negócios presuntivos de causa (art.º
458/1). Assim, perante uma promessa de cumprimento ou um reconhecimento de
dívida, não é necessário mostrar a causa do débito, mas, nem por isso se pode falar de
uma situação abstrata: a questão torna-se causal desde o momento em que se prova o
contrário do que resulta da declaração de cumprimento ou de reconhecimento.
8. Negócios típicos e atípicos; Negócios nominados e inominados
O negócio é, quanto aos tipos legais: típico quando a sua regulação conste da lei e
atípico quando tenha sido engendrada pelas partes. Pode ainda suceder que as partes
vertam, num determinado negócio que celebrem, elementos típicos e atípicos, falando,
deste modo, em negócio misto.
Além dos tipos legais, podemos contar com tipos sociais. Desta feita, trata-se de
negócios jurídicos que, embora não previstos na lei, são de tal forma solicitados pela
prática que adotam um figurino comum, por todos conhecido. Desse modo, bastará uma
simples referência ao tipo social para, de imediato, as partes se reportarem a todo um
conjunto de regras bem conhecidas, na prática jurídico-social (e.g. o contrato de
concessão ou o contrato de abertura de conta bancária são ambos contratos
socialmente típicos).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 40
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O negócio típico é, em princípio, nominado: a lei designou pelo seu nome (e.g. a compra
e venda, a doação e a sociedade são negócios típicos e nominados). Porém, pode
assistir-se a uma dissociação entre as duas características: um negócio que tenha
regulação supletiva legal, mas não seja apelidado senão pela doutrina, será típico e
inominado (e.g. contrato de associação, reportando-se ao ato de Constituição da
associação previsto no art.º 167); ou então o negócio que merecer referência legal pelo
seu nome, mas que não surja regulado, sendo este nominado e atípico (e.g. contratos
de transporte e ao hospedagem, referidos no art.º 755/a) e b), mas sem tratamento
explícito no CC).
9. Negócios onerosos e gratuitos
Um negócio é oneroso quando implica em esforços económicos para ambas as partes,
em simultâneo, e com vantagens correlativas (e.g. art.º 874 ss.), pelo contrário, é
gratuito, quando cada uma das partes dele retire, tão-só, vantagens ou sacrifícios (e.g.
art.º 940 ss.).
Contudo, certos negócios podem surgir como onerosos ou gratuitos consoante o que
seja estipulado pelas partes (art.º 1158/1 e 1186).
De natureza onerosa ou gratuita dos negócios deriva a aplicação de múltiplas regras
diferenciadas, contudo, para além destas, registam-se clivagens no que toca aos
pressupostos (art.º 951/2), à interpretação (art.º 237) e aos casos de impugnação (art.º
612/1).
Nos contratos gratuitos, o empobrecimento do património de uma das partes
corresponde, em regra, a um enriquecimento do património de outra, contudo, existem
exceções (como por exemplo, a doação onerosa, na qual o próprio donatário suporta
também sacrifícios).
Note-se que o negócio pode vir a revelar-se como imensamente lucrativo para uma das
partes e ruinoso para a outra e nem por isso haverá gratuitidade: se uma das partes não
quiser que o seja, antes se verificará a presença de um negócio oneroso em
desequilíbrio.
Segundo Carlos Mota Pinto, no verdadeiro negócio gratuito, a vontade livre do
sacrificado determinou-se pela intenção de dar (animus donandi), sendo que apenas na
presença deste fator têm aplicação as regras próprias das liberalidades.
Resta acrescentar que os negócios gratuitos têm um relevo social e económico
considerável sendo que estes dão corpo a manifestações de solidariedade,
fundamentais para a coesão ética e social de qualquer comunidade.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 41
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
10. Negócios de administração e de disposição
Estando em jogo determinada SJ, em regra um direito de dimensão significativa, o
negócio de administração implica modificações secundárias ou periféricas no seu
conteúdo, enquanto o negócio de disposição põe em causa a própria subsistência da
situação (e.g. o corte de árvores de uma floresta poderá ser um ato de administração
quando se trate de um prédio afeto à exploração de madeira, porém, será um à
disposição nas restantes hipóteses).
Assim, a contraposição em causa não pode ser feita apenas tendo em conta a situação
jurídica visada pelo NJ, mas antes a esfera jurídica global que será atingida (e.g. a venda
de um automóvel é um ato de administração para o estabelecimento da especialidade
que tenha dezenas de automóveis para esse efeito, mas pode ser um ato de disposição
para o cidadão comum).
Deste modo, perante estas considerações, pode proclamar-se que os negócios de
administração não atingem em profundidade uma esfera jurídica, enquanto que pelo
contrário os de disposição o fazem.
Em princípio, os atos de disposição só podem ser livremente praticados pelo próprio
titular na esfera jurídica afetada e desde que ele tenha capacidade para o fazer, já que
quando um ato de disposição deva ser praticado por outrem, o direito determina
precauções, como sejam a autorização judicial. Pode ainda suceder que o próprio titular
da esfera atingida, por ser incapaz, não possa praticar atos de disposição, a não ser
através de particulares esquemas de cautela.
Em suma: o ato que só possa ser praticado pelo próprio, não é um ato de administração.
Para prevenir dúvidas e em certos casos, a lei define exatamente quais são os atos de
administração (e.g. art.º 1024/1).
Perante determinada situação, um ato deverá ser considerado de disposição quando,
pela especial gravidade que assuma no caso em jogo, apenas o próprio possa praticar
pessoal e livremente, sendo razoável exigir cuidados suplementares.
A qualificação de um negócio como de disposição ou de administração não pode, pois,
ser causal em relação ao regime em jogo: ela liga-se a esse regime, singrando quando
ele deva ter aplicação.
11. Negócios de parciários, de organização, de distribuição e aleatórios
Negócios parciários – quando um negócio implica participação dos celebrantes em
determinados resultados (e.g. contrato de parceria pecuária- art.º 1121; contrato de
sociedade- art.º 980).
O negócio de organização visa montar uma estrutura que faculta cooperação
permanente, em certo quadro, de pessoas. O negócio de troca assume, apenas, a
permuta de bens ou serviços por dinheiro ou por outras mercadorias.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 42
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Negócios de distribuição – podem contrapor-se aos negócios de consumo que
equivalem à aquisição de bens pelo destinatário final (e.g. contratos de distribuição:
concessão, agência e franquia).
Negócio aleatório – quando, no momento da sua celebração, sejam desconhecidas as
vantagens patrimoniais que dele derivem para as partes.
Contudo, repare-se que esse desconhecimento deve ser da própria natureza do
contrato, em moldes tais que ele não faça sentido de outra forma (e.g. o contrato de
seguro é aleatório ou, pelo menos, tem um elemento de aleatoriedade, assim como os
contratos de jogo ou de aposta, previstos no art.º 1245).
12. Negócios instrumentais, preparatórios e acessórios
Os negócios podem valer por si ou, pelo contrário, podem fazer sentido por se
articularem com outros negócios. Nessa eventualidade, será possível discernir o negócio
principal ou final, surgindo os restantes como negócios acessórios.
Como instrumental, apontamos o contrato-quadro (que irá definir os perfis de negócios
ulteriores que regularão os interesses em jogo), e como preparatórios, apontamos o
contrato-promessa, o pacto de preferência, a carta de intenção, etc.
Contrato acessório será a fiança, bem como os diversos protocolos laterais.
A natureza instrumental, preparatória ou acessória de um negócio tem muito relevo
para a determinação do seu regime. Na verdade, se o regime tende a ser influenciado
pelo contrato principal definitivo sendo que os contratos em causa só ganham sentido
dentro do conjunto mais amplo em que se insiram.
Atos Jurídicos Stricto Sensu
1. Aspetos gerais; Modalidades; Remissão
O direito associa efeitos jurídicos aos simples atos, por se tratarem de manifestações de
vontade humana, contudo os efeitos em causa estão normativamente pré-
determinados, não podendo as pessoas interferir na sua concreta formulação.
Os atos jurídicos em sentido estrito correspondem a uma forma menos elevada do
exercício da autonomia privada (e.g. o apossamento, art.º 1263/a); a ocupação, art.º
1318; a especificação, art.º 1338; o contrato de casamento, nos atos pessoais, art.º
1577; a perfilhação, art.º 1849; a aceitação da herança, art.º 2050; ou o seu repúdio,
art.º 2062).
Note-se que no direito das obrigações, como se depreende do art.º 405, dominam os
negócios. Assim, o mero início de negociações dá azo a deveres pré-contratuais,
independentemente da vontade das partes (art.º 227/1), é um ato em sentido estrito.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 43
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Na verdade, todos os atos têm em comum a ausência de liberdade de estipulação. Aos
atos jurídicos em sentido estrito são aplicáveis, com as competentes adaptações, as
classificações dos negócios jurídicos.
Ainda podemos distinguir:
• Atos quase-negociais – correspondentes aos atos jurídicos em sentido estrito,
que se analisem numa pura manifestação de vontade (e.g. perfilhação).
• Atos materiais – correspondentes aos atos jurídicos em sentido estrito, que
resultem de atuações materiais voluntárias (e.g. apossamento).
Aos atos jurídicos em sentido estrito aplicam-se, na medida do possível, as regras
respeitantes ao negócio jurídico (art.º 295). No entanto, tal regra tem escasso relevo,
no tocante aos atos materiais: basta ver que, neste domínio, não operam as normas
relativas à capacidade de exercício (e.g. considere-se o art.º 1266) o que permite afastar,
também, as regras relativas a declarações de vontade, aos seus requisitos e às suas
condições de validade e eficácia.
Finalmente, o princípio geral do art.º 295 pode ser aplicado a atuações humanas que,
por serem devidas ou puramente funcionais, não possam considerar-se atos, marcados
pela liberdade de celebração. Tal será o caso de uma sentença judicial: por via do art.º
295, esta deverá ser interpretada à luz do art.º 236.
Elementos e Pressupostos Negociais
1. Quadro geral da doutrina comum
Um NJ suscita a aplicação de numerosas regras jurídicas, todavia, discute-se quais as
eficientes para amparar minimamente a solução de casos concretos e como as articular,
uma vez determinadas.
Procurando resolver o problema aberto com as incongruências e a insuficiência da
tripartição clássica (entre elementos essenciais, naturais e acidentais), Paulo Cunha
descobriu 4 elementos do NJ:
▪ elementos necessários – são os que a lei exige para a validade de todo e qualquer
ato jurídico, os quais se subdividem em elementos essenciais, sem os quais não
havia negócio nem elementos habilitantes, requeridos para a sua total validade.
▪ elementos específicos – correspondem aos requeridos para cada tipo de ato (e.g.
no caso de uma compra e venda, o preço; e no caso de um arrendamento, a
renda).
▪ elementos naturais – a lei estabelece-os para, supletivamente, servirem os
diversos tipos de NJ de acordo com a sua natureza.
▪ elementos acidentais – abrangem os elementos introduzidos, em cada caso, pela
vontade das partes, os quais se subdividem em típicos, quando já se encontrem
conceito alisados pela lei, ou variáveis, quando derivem da vontade das partes.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 44
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Esta estruturação tem sobre ela, segundo MC, a particular vantagem de evitar a
categoria híbrida dos elementos essenciais, desdobrando-a, em termos
substancialmente corretos.
Dias Marques, por sua vez, preconiza:
▪ pressupostos – elementos extrínsecos, perante o próprio negócio e que
abrangem fatores atinentes ao autor do negócio (e.g. capacidade), ao objeto do
negócio (e.g. idoneidade), e à posição do autor do negócio em relação ao objeto
(e.g. legitimidade).
▪ estrutura – elementos intrínsecos ao próprio ato de negócio e que abrangem os
elementos objetivos (forma e conteúdo), e os subjetivos (vontade, consciência,
etc.).
Esta construção, segundo MC, tinha a particular vantagem de separar, uma vez por
todas, os pressupostos da estrutura em elementos extrínsecos e intrínsecos ao negócio.
Contudo, trabalha com uma ideia de estrutura excessivamente ampla e redutora.
Uma alternativa foi a figurada por Galvão Telles a propósito do contrato, podendo ser,
contudo, generalizado ao negócio:
▪ Elementos
▪ Acordo (formação)
▪ Acordo (conteúdo)
▪ Causa ou motivo
▪ Requisitos de validade
▪ Requisitos de eficácia
2. Solução preconizada
A distinção tradicional entre elementos essenciais, naturais e acidentais, na medida em
que mescle realidades diferentes, deve ser abandonada.
Segundo MC, e retomando uma contraposição já efetuada por Paulo Cunha, há que
atentar no alcance da noção de elementos do negócio jurídico, sendo que:
▪ em sentido amplo, retratam um conjunto de realidades necessárias para que
exista uma outra.
▪ em sentido estrito, exprimem os fatores que, no momento estaticamente
considerado, componham um quid.
Com esta posição, verifica-se que os pressupostos do NJ só podem ser considerados com
os seus elementos se, destes se perfizer uso em sentido amplo. Mas com isso chega-se
a uma heterogeneidade não conveniente.
Os pressupostos do negócio jurídico implicam regras relativas às pessoas, aos bens, ou
às relações que, entre ambos, se estabeleçam. Os elementos, pelo contrário, têm a ver
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 45
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
com normas e princípios ligados, desde logo, à temática negocial, devendo assim ser
considerados.
Um estudo estático dos elementos negociais mal esconde uma opção concetual. Tendo
presente que todo o motor da fenomenologia em estudo reside na eficácia, há que
ponderar, segundo MC, e em termos preferenciais, o desenvolvimento dinâmico do
negócio. Tanto basta para justificar a sequência de: formação do negócio, conteúdo do
negócio, vícios da vontade e da declaração e ineficácia do negócio.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 46
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
CAPÍTULO III. A FORMAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO
Secção I. A Declaração Negocial
A Declaração de Vontade
1. Generalidades; Declaração e negócio
O NJ assenta em uma ou mais declarações de vontade, contudo, note-se que apenas a
vontade declarada (exteriorizada, de modo a poder ser reconhecida pelos operadores
jurídicos e pelo próprio sistema) pode provocar efeitos de Direito.
Declaração – pressuposto para a realização do negócio, dependente de uma opção
humana comunicada para o exterior. Note-se, então, que o negócio é (tendencialmente,
já que a usa a declaração em situações onde logicamente se esperaria ver negócio)a
eficácia resultante da declaração, desde que esta seja reconhecida pelo sistema como
apta para modificar o universo jurídico.
O NJ distingue-se da declaração, mormente quando caso o negócio seja multilateral.
2. Elementos da natureza
A declaração de vontade, segundo MC, comporta pela sua própria designação 2
elementos: a vontade humana e a declaração. Segundo Savigny temos a vontade, a
declaração e a relação de concordância que se estabelece entre ambas.
A vontade, por seu turno, pode ser decomposta em 3 planos:
▪ vontade do comportamento – permite constatar a presença de uma efetiva
atuação humana.
▪ vontade (ou consciência) da declaração – implica a consciência dessas razões
sociológicas ou normativas: o sujeito age voluntariamente, conhecendo a
dimensão jurídica da atuação.
▪ vontade do negócio – equivale ao desejo de desencadear os efeitos o conteúdo
do negócio em causa.
Segundo Hermann Isay, declaração de vontade de uma pessoa é aquele comportamento
que, segundo a experiência e sob a consideração de todas as circunstâncias, permite
concluir por uma vontade determinada e de cuja conclusão ela esteja o dever de estar
consciente.
Classicamente, a natureza da declaração era animada por 2 teorias: a teoria da vontade
(que via nela uma decorrência da opção do declarante) e a teoria da declaração (que
validava a exteriorização dessa opção). Ambas as teorias evoluíram para:
▪ a teoria da comunicação.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 47
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ a teoria da confiança.
Antes de mais, uma declaração surge como uma ação humana: pressupõe uma atuação
ou uma omissão controladas ou controláveis pela vontade, mas como relevante matriz
sociocultural da ideia de declaração mantém-se, em princípio e em primeiro plano, uma
ação voluntária. Os eventos que, embora ligados à pessoa humana, não se possam
considerar ações (e.g. afirmações feitas durante o sono, em estado de transe, sob
hipnose ou na influência de psicotrópicos) são, em rigor, simples factos.
A declaração é ainda um ato de comunicação (uma ação que releva por dela de se
depreender uma opção interior do declarante, opção essa que se vai exteriorizar).
Por fim, a declaração é um ato de validade: ao fazê-la o declarante, não emite uma
comunicação de ciência ou uma informação opinativa, manifestando, pois, uma
adstrição da própria vontade a um padrão de comportamento determinado, para
indicado por ela própria.
Manuel de Andrade e Mota Pinto entende dar noções mais objetivadas, no sentido de
menos ligadas à vontade do declarante, de onde resulta que o direito atende,
preferencialmente, à declaração e não à vontade.
No campo negocial, segundo MC, não se trata apenas de dar expressão à vontade do
declarante, há também que tutelar a confiança das pessoas em certas exteriorizações,
mesmo quando apenas na aparência se mostrem negociais.
Apesar deste estado de coisas, mais do que ao conceito de negócio ou de declaração,
pode-se contrapor ao objetivismo a necessidade de salvaguardar, como núcleo
significativo, a ideia de declaração enquanto efetiva exteriorização da vontade humana.
Na verdade, a confiança legítima é tutelada, aplicando-se-lhe, diretamente ou por
analogia, as regras sobre NJ. Mas ela não deve, no plano da reflexão, ser confundida
com as declarações negociais em si, atendendo a que:
▪ O NJ apresenta-se como uma manifestação da autonomia privada, nessa medida,
ele deve corresponder à vontade autónoma das pessoas ou mais não será do que
um simulacro de autonomia.
▪ O NJ que se mantenha sem vontade real não é já um verdadeiro negócio, mas
antes, uma manifestação de confiança tutelada. Tal tutela exige, desde logo,
toda uma série de dispositivos legais que a facultem e que não se confundem
com autonomia privada.
▪ Apesar das analogias referidas, o verdadeiro NJ e o negócio aparente provocam
a aplicação de regras diferentes: esta diferenciação de regras, em conjunto com
uma necessidade de limpidez científica, recomendaria que a declaração fosse
sempre entendida como a ação, logo voluntária enquanto tal. Note-se que a
autonomia tem limites, mas esses limites restringem também o próprio negócio
e a declaração negocial, não se confundindo com eles.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 48
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
3. A transição para o regime
A vontade da declaração tomada com uma ação final dirigida a certos efeitos não se
distingue, no fundo, da ação efetiva e do produto dessa ação. Digamos que a vontade e
a declaração são um continuum humano e valorativo, que apenas para efeitos de análise
pode ser cindido. Em suma, perante um direito civil codificado, há que deixar o espaço
livre para a determinação do regime do negócio.
Segundo MC, a ponderação geral do regime leva-nos a validar uma natureza
essencialmente objetiva da declaração. Vale a argumentação de Manuel de Andrade e
de Mota Pinto, a qual MC complementa:
▪ na interpretação nota-se a prevalência doutrinal da impressão do destinatário
(art.º 236/1), i.e., aquilo que, do exterior, se empreste, em termos significativos,
ao ato comunicativo do declarante.
▪ a reserva mental, traduzida numa declaração que não corresponde à vontade
real, para enganar o declaratório (art.º 244/1).
▪ a declaração que não equivalha à vontade real só pode ser anulada em condições
apertadas (art.º 247).
▪ a declaração feita em situação de incapacidade acidental só pode ser anulada
em circunstâncias restritivas (art.º 257/1).
Mas então, temos vontade ou tutela da confiança? Segundo MC, ambas, também em
contínuo, pois não parece possível separá-las, uma vez que a própria vontade se vai
formando ao ritmo da confiança que o agente vá inspirando.
Tipos de Declarações
1. Declarações expressas e tácitas
Segundo o art.º 217/1, a declaração negocial é expressa quando seja feita por palavras,
por escrito ou qualquer outro meio direto de manifestação de vontade, sendo tácita
quando se deduza de factos que, com toda a probabilidade, a revelem.
A diferença entre declarações expressas e tácitas está sobretudo no grau de certeza
que temos na manifestação de vontade, assim, enquanto que numa declaração tácita
temos 100% de certeza na vontade exteriorizada do seu autor, atendendo a que esta
foi manifestada de modo direto, numa declaração tácita temos apenas uma grande
probabilidade de certeza sobre a vontade exteriorizada do autor desta mesma
declaração, atendendo ao facto a que a sua manifestação foi indireta, recorrendo a
outros fatores (comportamentos concludentes). Assim, para a determinação de uma
declaração tácita, há que atender aos usos e ao ambiente social onde ocorram os
factos.
O Ac. do STJ de 05-nov.-1997, veio explicitar de que “os comportamentos requeridos
pela declaração tácita terão de ser significantes, positivos e inequívocos”.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 49
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Afirmar a existência de uma declaração tácita é questão-de-direito, sindicável pelo STJ.
As declarações tácitas podem confundir-se com o silêncio. Acentua-se o facto de a
vontade se manifestar não através de um ato de comunicação a tanto destinado, mas
mediante um comportamento que, nas condições em que ocorra, permite inferir a
vontade dos efeitos do negócio, cabendo, então, distinguir:
▪ comportamentos típicos, estandartizados de tal modo que, no meio
considerado, sejam imediatamente reconhecidos como manifestando a vontade
negocial.
▪ condutas diversas que, todavia, permitam inferir essa mesma vontade.
A possibilidade, reconhecida por lei, de se formarem NJ na base de declarações tácitas
obriga a chamar à atenção para 2 fatores:
▪ A natureza formal de uma declaração não impede que ela seja tacitamente
emitida: como dispõe o art.º 217/2, requer-se então que a forma prescrita tenha
sido observada quanto aos factos de que se deduza a declaração em causa.
▪ A presença, sempre viável, de declarações tácitas não deve conduzir a uma
hipertrofia da vontade: assim, só é legítimo descobrir declarações negociais
ainda que tácita, quando haja verdadeira vontade, dirigida aos efeitos e
minimamente exteriorizada, ainda que de modo indireto.
Particularmente condenável é o recurso a ficções negociais (imputação de
determinados efeitos jurídicos a uma declaração inexistente), como forma de
aplicar soluções que poderiam ser obtidas através de um negócio: havendo que
explicar saídas controversas, apenas na presença real de declarações de vontade
se pode apelar ao negócio jurídico.
Por vezes, a lei exige que determinada vontade conste de cláusula expressa. Essa ideia
é muitas vezes minimizada sob a invocação de que a tal cláusula expressa pode ser
tacitamente manifestada. Caso a caso haverá que interpretar o objetivo da lei, ao exigir
a vontade expressa.
Todavia, em geral, a exigência de uma assunção expressa destina-se a consciencializar o
declarante, visando a sua proteção. Nessa eventualidade haverá que, no mínimo,
verificar-se, em concreto, o objetivo legal que se mostra assegurado. Na dúvida,
segundo MC, a exigência legal deve ser tomada em sentido técnico: o de afastar
declarações tácitas.
2. O silêncio
Silêncio – total ausência de comunicação por parte do sujeito considerado.
O silêncio caracteriza-se não apenas pela falta de palavras, de gestos ou descritos: ele
requer que, da ambiência existente, não se possa retirar qualquer mensagem. O silêncio
jurídico é nullum, i.e., não possui qualquer valor declarativo.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 50
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O CC ficou dotado de um preceito (art.º 218) onde são apresentadas 3 hipóteses
abstratas de relevância positiva do silêncio.
O silêncio vale quando a lei o determine (e.g. art.º 932/2 e 1163). Uma importante
hipótese de relevância do silêncio surge no art.º 27/1 LCS, quando uma companhia
seguradora receba uma proposta de seguro remetida por uma pessoa singular e nada
diga, o contrato tem-se como celebrado, desde que se reúnam certas condições.
A linguagem legal não está uniformizada, pelo que se impõe, sempre, uma interpretação
sistemática.
Quando a inação do sujeito conduza à caducidade do seu direito, não há propriamente
um valor negocial: antes se aplicam as regras da progressão do tempo nas SJ e,
designadamente, as da caducidade.
Em termos sistemáticos, cumpre ter presente que o CC não conferiu relevo aos usos nos
domínios da interpretação e da integração negociais (art.º 236 ss.).
O silêncio valerá como declaração negocial quando um uso, devidamente juspositivado
por uma lei, o determine. Evidentemente tratando-se de um contrato, este passará a
constar do que diga a proposta, incidindo, sobre ela, a atividade de interpretação.
Por fim, podem as partes, por convenção, atribuir ao silêncio o significado que lhes
aprouver e, entre outros, um sentido negocial. Digamos que facultaria uma declaração
concludente, distinguindo-se da pura declaração tácita, por não resultar de nenhum
elemento exterior.
Um efeito similar seria possível quando, no silêncio, se viesse a alicerçar uma situação
de confiança razoável e legítima: nessa eventualidade, o sujeito silencioso ficaria ligado
à necessidade de respeitar a confiança que fez surgir.
As pessoas têm o direito ao silêncio, até como meio de defesa contra a envolvente e
invasiva sociedade dos nossos meios, e desse silêncio, nada pode ser inferido, salvo
muito poderosos elementos em contrário, elementos esses dos quais o sujeito possa,
sem esforço, libertar-se.
Por definição, o silêncio envolve a ausência de qualquer declaração, não apresentando,
por isso, nenhuma forma. Salvo os casos em que a própria lei atribua, ao silêncio, um
determinado valor negocial, pode estar implícita a dispensa de uma forma que, de outro
modo, seria requerida. Mas outro tanto não sucede com os usos ou com a simples
convenção das partes, pois, através da concessão de eficácia ao silêncio, não é viável a
dispensa das regras formais.
Seria de encarar uma alternativa: a de a própria convenção relativa ao silêncio seguir a
forma legalmente prescrita e, depois, também de acordo com essa mesma forma, se
constatar a ocorrência do silêncio; todavia, tal eventualidade apontaria para a presença
de um negócio tácito.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 51
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
3. Declarações recipiendas e não recipiendas
As declarações negociais são recipiendas ou não recipiendas, consoante tenham ou não
um destinatário.
Na normalidade dos casos, as declarações que visem integrar o negócio contratual são
recipiendas, ao passo que as atendentes a negócios unilaterais operam por si. Todavia,
existem exceções: a oferta ao público não tem, por definição, qualquer destinatário e
destina-se, justamente, a integrar um conteúdo contratual.
As declarações recipiendas veem a sua eficácia condicionada pela ligação particular que
visam estabelecer com o seu destinatário. O tipo de relacionamento exigido tem sido
equacionado com recurso a várias doutrinas, das quais cabe explicitar:
▪ Teoria da exteriorização – o negócio ficaria concluído quando a vontade tivesse
obtido a sua forma exterior, i.e., quando se manifestasse. Ora, isto não chega,
pois, a vontade pode exteriorizar-se sem lograr atingir o seu destinatário.
▪ Teoria do envio – presta-se eficácia à declaração quando esta seja remetida,
rumo ao destinatário. Também não é suficiente, pois, a declaração pode ser
remetida, sem nunca chegar ao destinatário, pelo que não se vê como
emprestar-lhe eficácia.
▪ Teoria da receção – a eficácia de uma declaração recipienda dependerá de o
destinatário a receber com efetividade. Ora, apesar de esta constituir uma
evolução, ainda não é satisfatória, uma vez que o destinatário pode recebê-la
sem disso se aperceber ou tomar conhecimento. Note-se que se considera
recebida uma carta registada a partir do momento em que caia na caixa de
correio o aviso de receção.
▪ Teoria da posse – os efeitos surgiriam logo que a declaração chegasse ao poder
do destinatário, contudo, esse poder não assegura que o destinatário dela tenha
ou possa ter consciência.
▪ Teoria do conhecimento – confere-se eficácia à declaração que chegue ao
efetivo conhecimento do destinatário.
O CC dispôs, de modo expresso, sobre o condicionalismo que rodeia a eficácia das
declarações negociais. Assim, segundo o art.º 224:
▪ a declaração não recipienda torna-se eficaz logo que a vontade do declarante se
manifeste de forma adequada (teoria da exteriorização) – art.º 224/1.
▪ a declaração não recipienda é eficaz:
o quando chega ao poder do destinatário (teoria da receção) ou dele seja
conhecida (teoria do conhecimento) – art.º 224/1, 1.ª parte.
o quando seja remetida e só por culpa do destinatário não tenha sido
oportunamente recebida (teoria do envio) – art.º 224/1.
o em qualquer caso, a declaração é ineficaz quando seja recebida pelo
destinatário em condições de, sem culpa sua, não poder ser conhecida
(relevância negativa da teoria do conhecimento) – art.º 224/3.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 52
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Segundo MC, na dúvida, há sempre que privilegiar o conhecimento.
Coloca-se ainda a questão das declarações de vontade que cheguem ao seu destino, mas
não possam ser conhecidas pelos destinatários, por não dominarem a língua em que
estejam exaradas. Na falta de lei expressa, recomenda-se um tempero com recurso à
boa-fé.
4. Declarações subsequentes e contradeclarações
Declarações subsequentes – quando recaiam sobre declarações prévias, eventualmente
já consubstanciadas em NJ, falando-se ainda em negócios sobre negócios. Dentro
destas, podemos distinguir 2 grandes grupos:
▪ declarações típicas – em regra na base de atos ou de negócios unilaterais, que
visam modificar ou extinguir a eficácia da declarações anteriores. Estas
declarações tratam de proteger a confiança que a primeira declaração haja
suscitado.
▪ declarações atípicas – acordadas pelas partes ou facultadas pela situação
existente. Este tipo de declarações devem ser possibilitadas pela situação em
jogo, sendo que, em regra, elas postulam um novo negócio entre as partes.
Negócios unilaterais podem, todavia, comportar declarações subsequentes, também
elas unilaterais.
Contradeclarações – declarações reportadas a uma primeira declaração, no sentido de
suprimir ou de reduzir os efeitos que dela deveriam resultar (e.g. revogação da proposta,
possível até que esta seja recebida pelo destinatário ou dele seja conhecida – art.º
230/1; o protesto – declaração subsequente pela qual se pretende pôr em causa a
eficácia de uma declaração anterior ou de uma situação que seja, a qualquer título,
imputável ao declarante).
O protesto, como contradeclaração, pode pôr em crise a confiança que resulte da
primeira declaração, daí não ser possível, a não ser que a lei ou o contrato o permitam.
A própria declaração que, em princípio, não seja eficaz, pode desencadear uma especial
confiança. A contradeclaração surge, nessa eventualidade, como um venire contra
factum proprium, vedado pela boa-fé.
Todavia, se o protesto ocorrer como a declaração subsequente a uma situação
imputável ao declarante e da qual se poderia retirar uma vontade negocial, o protesto
pode ser ineficaz, não podendo ser aceite: estamos no campo da autonomia privada,
pelo que cada um tem a possibilidade de ressalvar a sua posição, desde que não
contunda (ofenda) com os direitos dos outros.
Ao lado do protesto surge ainda a reserva: trata-se de uma contra declaração usada por
quem declare aderir a uma posição comum, mas não in totum. Ela ocorre no domínio
dos tratados e convenções internacionais.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 53
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
5. Declarações não-negociais
De acordo com Paulo Cunha, consideramos não-negociais as declarações que
comportem liberdade de estipulação, i.e., o declarante é livre de as efetuar, mas não
conhecia os seus efeitos, os quais estão prefixados pelo Direito.
As declarações não-negociais são, em regra, declarações unilaterais subsequentes:
existe já um NJ no qual a lei permite que, em certas circunstâncias, a eficácia lhe seja
alterada ou suprimida, por declarações de um dos intervenientes. Mas apenas com o
preciso alcance da lei: daí a natureza não negocial. Exemplos:
▪ a ratificação: declaração unilateral que estabelece, a posteriori, um vínculo de
representação (art.º 268).
▪ a aprovação: declaração própria do dono do negócio, perante uma situação de
gestão de negócios (art.º 469).
▪ a confirmação: declaração do titular do direito de anular o negócio anulável, de
que prescinde desse direito, convalidando o negócio (art.º 288).
▪ a validação: declaração pela qual, perante o negócio anulável por erro, o
interessado evita a anulação aceitando o negócio tal como declarante, incurso
no erro, o pretendia (art.º 248).
▪ a reductio ad equitatem (redução do património) é uma validação especialmente
adaptada aos negócios usurários (art.º 283).
▪ a rejeição ou a adesão, do terceiro beneficiário, a um contrato a favor de terceiro
(art.º 447): a primeira põe cobro a promessa e a segunda torna-a irrevogável.
▪ a convalidação de negócios nulos: declaração que impede o seu autor, nas
nulidades relativas, de as invocar (art.º 968): é uma figura excecional, explicável
pelos valores em presença.
▪ a convalescença: é uma modalidade de convalidação, aplicável a certas vendas
anuláveis (art.º 906/1), constituindo um dever do devedor (art.º 907/1).
▪ o perdão: é a declaração pela qual o devedor releva o donatário ingrato da sua
falta, pondo termo à revogabilidade da doação por ingratidão (art.º 975/c)).
▪ a anulação: traduz uma declaração de exercício do direito potestativo de
impugnar os negócios anuláveis (art.º 287/1).
▪ a invocação da nulidade e a declaração, feita por qualquer interessado, de pôr
cobro a negócios nulos (art.º 286).
Existem, ainda, diversas outras hipóteses (e.g. declaração de requerer a simples
separação de bens (art.º 1767), de pedir o divórcio (art.º 1773), a aceitação (art.º 2050)
e repúdio de herança (art.º 2062), etc.).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 54
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A categoria das declarações não-negociais é muito ampla e heterogénea: o seu relevo,
como divisão dentro das declarações de vontade e, antes do mais, de clarificação
linguística e de precisão conceitual. O seu regime deve ser determinado caso a caso,
dentro da disciplina a que pertençam.
Secção II. A SEQUÊNCIA FORMATIVA
O Surgimento do Negócio
1. O modelo básico
Um negócio jurídico implica na sua formação, no concreto, atividades de complexidade
bastante variável, podendo ocorrer de imediato, através de um simples assentimento
(semelhante aos que, permanentemente, ocorrem no dia-a-dia), ou, pelo contrário,
implicar atividades preparatórias muito complexas.
O CC rege a formação do negócio na modalidade do contrato, tendo em vista o modelo
básico: o do contrato entre ausentes, o qual permite fixar regras que são, depois,
utilizáveis, seja para compor modelos mais simples, seja para construir os mais
complexos. Assim, o quadro normativo do surgimento do negócio é, essencialmente,
o resultado de uma atividade jurídica ou científica, operada a partir do modelo básico.
Assim, a ideia de processo aplica-se, com bons resultados, à formação do NJ: os
diversos atos que ela possa implicar concatenam-se com vista a esse resultado final.
Contudo, note-se que todos os atos que a este resultado final levaram, perdem total
autonomia, pelo que só valem quando ligados ao NJ. Pode, deste modo, suceder que os
atos não esgotem a sua eficácia apenas no esforço tendente à formação do negócio
cabendo, então, determinar-lhes os termos e a extensão da ambivalência.
Um processo analisa-se em atos, quando assentem atuações humanas destinadas a
formar um NJ. Esses atos podem ser agrupados ou ordenados em fases, tendo em conta
critérios de funcionalidades. Por sua vez, estas fases podem ser necessárias ou
eventuais, consoante, da sua ocorrência, dependam ou não da concretização do fim
para que tendam.
Trata-se de características que irão, de modo natural, aflorando à medida que se
desenrola a exposição relativa a cada ato em si. A sequência deverá contudo projetar,
de modo dinâmico e, tanto quanto possível, fiel, a ordenação processual negocial.
2. A formação sem processo; negócios comuns
Apesar de o modelo básico comportar uma complexidade intermédia, podendo ser
equacionado em função da ideia de processo, outros modelos são possíveis, entre os
mais simples, avultam os que dispensam qualquer processo.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 55
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Em primeiro lugar, temos os negócios unilaterais. Não há qualquer necessidade de
procurar um consenso, necessidade essa que dita o essencial da complexidade
processual negocial.
De seguida, encontramos os negócios por minuta (negócios que se concluem pela
adesão ou subscrição, por ambas as partes, de um documento (a minuta), o qual
comporta o teor negocial). A minuta é, muitas das vezes, preparado para um terceiro
especialista (notário ou advogado), de acordo com as indicações previamente dadas
pelas partes, de acordo com fórmulas tradicionais a que as partes dão o seu acordo.
Os negócios comuns formam-se por simples adesão a fórmulas apresentadas a todos os
interessados. Temos várias hipóteses que correspondem a outros tantos tipos sociais de
negociação:
▪ A aquisição por apreensão ou por indicação seguidas de pagamento – habitual
nos negócios correntes de consumo (onde o adquirente apreende num
supermercado ou equivalente, os bens que lhe interessem, devidamente
etiquetados). O negócio conclui-se com o pagamento, na caixa. Noutras
hipóteses, também correntes, um interessado indica, num estabelecimento, os
bens que pretenda: são-lhe entregues, seguindo-se o pagamento. Em feiras e
locais de turismo há a possibilidade de regatear o preço: uma pequena variante
que mantém, todavia, o modelo de conclusão do negócio num plano muito
simples. Em suma, em todos estes casos, releva um acordo de facto, fruto de
declarações feitas na base de condutas concludentes, das quais, por abstração,
induzimos um consenso negocial jurídico, o qual antecipa as declarações, caso
as haja: a concordância e a prova das declarações.
▪ Contratação por escolha em lista, seguida pela utilização ou pelo consenso,
com subsequente pagamento – este modo de contratação é corrente nos
restaurantes. O interessado manifesta os seus desejos, perante uma ementa:
trata-se, de facto, de propostas contratuais de aquisição de bens ou de serviços,
propostas estas, favoravelmente acolhidas através da prestação de serviços e do
fornecimento dos bens acordados.
▪ Finalmente, a adesão a cláusulas contratuais gerais (ccg) – fórmula comum de
fechar negócios, nos sectores da banca, dos seguros e dos transportes. O
processo de conclusão do negócio é muito reduzido: o aderente, ainda que
cumprindo determinados deveres de comunicação e de informação, adere a
proposições para tanto disponíveis, sem um procedimento de maior. Cabe ao
Direito assegurar-se o equilíbrio de tais cláusulas.
3. Técnica de contratação
A captação do NJ, na sua dimensão dinâmica, permite, de resto, surpreender o
fenómeno da formação negocial, atribuindo, às diversas figuras, o papel que, de facto,
lhes compete.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 56
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Em moldes descritivos, a formação cabal de um contrato minimamente complexo
apresenta a seguinte sequência:
▪ obtenção de informações. ▪ superação de conflitos de
▪ borrão de projeto do contrato. objetivos.
▪ aplicação hipotética do contrato. ▪ negociações contratuais.
▪ concretização de critérios de ▪ instrução e aconselhamento.
decisão. ▪ elaboração do documento
▪ escolha das melhores opções contratual.
técnicas.
Qualquer sequência contratual deverá principiar pela mútua obtenção de informações,
na base destas, será possível a escolha dos parceiros e a própria intenção de procurar
um determinado negócio.
Numa contratação complexa, é frequente elaborar-se, desde muito cedo, um borrão de
projeto de contrato. Nesta fase, podem aproveitar-se modelos elaborados por
especialistas ou provenientes da experiência dos interessados ou dos seus mandatários:
saliente-se a importância deste passo, já que questões ausentes do borrão acabam por
não ter o tratamento contratual, com todos os inconvenientes que isso implica.
Relaciona-se com o borrão a aplicação hipotética do contrato, de modo a apreender o
funcionamento futuro do contrato. Podem intervir aqui negócios preparatórios como a
cláusula de contentos (art.º 923) ou de amostra (art.º 925).
A concretização de critérios da decisão implica uma avaliação do conjunto. A perspetiva
relevante é de prognose, virando-se para o futuro: não se trata de determinar o que é,
mas antes, o que, com os elementos disponíveis, irá acontecer.
No que diz respeito à escolha das melhores opções técnicas, a doutrina elenca:
▪ caminho mais seguro: cabe eleger as vias que gerem menos riscos de
responsabilidade.
▪ caminho menos dispendioso: jogam os custos fiscais e, ainda, os custos de
transação e os da sua execução (e.g. ponderar, em vez de transmissão direta de
imóveis, a das partes sociais da sociedade que os detenha).
▪ caminho mais praticável: de acordo com a natureza do caso, há que evitar
remeter para o futuro aspetos que se saiba, de antemão, suscitarem dúvidas ou
que possam pôr em jogo, pela indeterminação, a própria validade do contrato.
▪ caminho mais flexível: perante uma realidade mutável ou de evolução insegura,
há que enxertar cláusulas adequadas de proteção.
▪ celebração de contratos preparatórios convenientes.
Os conflitos de objetivos, aquando da contratação, são, muitas das vezes, uma
realidade. Em pontos importantes do contrato, as partes podem pretender prosseguir
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 57
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
escopos opostos (e.g., o futuro inquilino pretende um sistema que lhe dê segurança
perpétua, enquanto o futuro senhorio procura, a todo o tempo, poder dispor do local
arrendado, desembaraçado). Uma boa contratação procurará solucionar tais conflitos
(e.g., no exemplo apresentado, as partes podem ser aproximadas através de prazos de
pré-aviso ou de compensações).
As negociações contratuais é a fase em que as partes têm, sobre a mesa, os diversos
aspetos sobre os quais deverão firmar um acordo. Neste ponto, será ainda importante
verificar-se se se está perante alguma forma restritiva de contratação e maxime perante
ccg.
Finalmente, será elaborado o texto do contrato, ao qual as partes irão dar o seu acordo.
Deve usar-se terminologia técnica: mais segura e precisa. Em regra, as partes apelam
para a língua correspondente ao direito aplicável, contudo, independentemente disso,
na contratação internacional, adota-se, muitas das vezes, o inglês. Em face de textos
bilingues, há que prever qual das versões prevalece, perante dissemelhanças. Também
é habitual fixar-se o modo de notificação das partes, o seu domicílio contratual ou os
seus representantes.
A Forma da Declaração
1. Evolução geral; forma e formalidades
Forma da declaração/do negócio – modo utilizado para exteriorizar a vontade, desde
que seja minimamente solene, i.e.¸ acompanhada de sinais exteriores sensíveis pelas
pessoas que presenciem a declaração ou que, posteriormente, dela tenham
conhecimento.
Aos negócios formais, contrapõem-se os negócios consensuais (aqueles que produzem
efeito por mero consenso das partes, independentemente do modo por que surja).
Atente-se no facto de a forma da declaração ser uma abstração artificial, ou seja, a
declaração é a sua forma, e esta, equivale a certa declaração.
Note-se que ainda há que distinguir a forma (a qual dá corpo a uma certa exteriorização
da vontade) das formalidades (as quais se analisam em determinados desempenhos
que, embora não revelando em si qualquer vontade, são exigidos para o surgimento
válido certos negócios jurídicos).
2. A justificação da forma: os limites
As razões justificativas da forma, tradicionalmente, são:
▪ A solenidade prende-se com a publicidade de determinadas ações, isto é, com o
ato e o efeito de ajudar a conhecer ao público. Certos negócios são eficazes, ou,
pelo menos, plenamente eficazes, quando sejam conhecidos ou cognoscíveis
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 58
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
pelos elementos da comunidade jurídica (frequente no domínio dos direitos
reais). A presença de modos formais de os celebrar facultaria essa publicidade.
▪ A reflexão tem a ver com a gravidade que, para os contratantes, possam ter
negócios que celebrem ou venham a celebrar, tais negócios não devem, deste
modo, ser produzidos de ânimo leve. A exigência de forma, até porque
normalmente conectada com uma certa morosidade, por ela provocada via
regula facultaria essa reflexão.
▪ A prova liga-se à demonstração da ocorrência dos factos. A natureza formal de
determinados negócios facilitaria essa demonstração, assim se justificando.
Ainda que estas sejam as razões justificativas tradicionais, estas justificações são
duvidosas, pelo que a doutrina tem vindo a realizar um esforço, no sentido de apreender
e aprofundar as razões justificativas da forma. Segundo MC, podemos apontar as
seguintes:
▪ Prova – na presença de um documento, torna-se mais fácil demonstrar a
existência de um negócio.
▪ Autenticidade – a forma mais solene permite fixar, com fidedignidade, o efetivo
conteúdo de um negócio.
▪ Identificação – pode haver dúvidas sobre quem celebra um contrato,
particularmente se houve questões de representação, orgânica ou voluntária,
ajudando, deste modo, a forma.
▪ Comunicação – contratar é comunicar, ora, a observância de uma forma torna
qualquer contrato mais sólido e efetivo.
▪ Informação material – a leitura de um documento permite conhecer melhor,
quanto ao fundo, o que se vai realizar.
▪ Indício material – o objeto do negócio fica demarcado, prevenindo-se equívocos
e, até, desacordos.
▪ Delimitação e finalização – a sequência formativa, na qual tenham sido
produzidos sucessivos documentos, possibilita apurar, através da adoção de uma
forma, o contrato a que se haja chegado.
▪ Oficialização e publicidade – ambas estas dimensões, de evidente relevância
sócio-jurídica, são espoletadas perante formas mais solenes.
▪ Sobreaviso e proteção, perante a precipitação – as partes envolvidas têm
possibilidades reforçadas de se aperceberem da dimensão do que, de facto,
assumem.
▪ Consciencialização – é fácil dizer que sim perante uma proposta, todavia, a
circunstância de se apor uma assinatura num documento ou de se fazer a
declaração perante um notário, aumenta a ideia de auto-vinculação ao que foi
declarado.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 59
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Segurança dada pela intervenção de especialistas – quando a forma solene levar
à atuação de um notário ou de um advogado, em princípio, um exame do
negócio, levado a cabo, em momento prévio, por um profissional habilitado, que
fará as correções que se imponham, acompanhadas de informação.
▪ Equilíbrio – o negócio solenemente concluído, perante um notário, permite
igualizar as partes, suprimindo a autoridade de uma sobre a outra e
disponibilizando informações e oportunidades às duas.
▪ Regulação – perante áreas sujeitas a regulação, como a da banca e a dos seguros,
a formalização dos negócios permite uma supervisão eficaz.
▪ Tutela de terceiros e do tráfego – dimensão importante e que se torna acessível
quando, pela forma, os negócios possam ser vistos e ponderados por terceiros.
▪ Fiscalização pública – múltiplos deveres, de natureza administrativa e fiscal,
podem resultar dos negócios concluídos; a sua sindicância depende da
objetivação, dada pela forma.
▪ Viabilização – alguns negócios, como os cambiários, implicam títulos escritos.
▪ Executoriedade – certas formas dotam as partes de títulos executivos, no caso
de não cumprimento.
▪ Proteção do consumidor – duplicando alguns dos fins apontados, o direito do
consumo exige, a todos os títulos, que os negócios sejam fechados, por escrito.
Os escopos justificativos da forma apontados, não são exaustivos, todavia, eles deixam
entender que as razões da forma são bem mais amplas do que o tradicionalmente
considerado. As contra-argumentações assentes nas exigências do tráfego são
facilmente reversíveis, sendo que, em certas áreas, como a da banca, são justamente
razões de celeridade que justificam o recurso a formas padronizadas.
As razões apontadas para a justificação das exigências de forma não podem, todavia, ser
sempre entendidas em termos efetivos e racionais, antes, tão-só, em termos histórico-
tendenciais.
No domínio patrimonial, o relevo dos diversos negócios não pode deixar de se conectar
com o valor económico dos bens neles em jogo. Ora, as exigências atuais de forma, que
atingem sobretudo os bens imóveis (art.º 875) estão desligadas dos valores em causa:
negócios muito valiosos operam, de modo válido, pelo simples consenso, enquanto que
outros, sem significado, continuam a exigir forma máxima. A desarticulação existente
entre o valor dos negócios e a forma pela qual eles devam ser celebrados pode, segundo
MC, bloquear, em concreto, a possibilidade de lhe fazer corresponder agravadas
necessidades de publicidade, de reflexão ou de prova, bem como os numerosos escopos
apontados.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 60
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
3. As formas especiais; a desformalização e a reformalização
As diversas formas suscetíveis de dar expressão às declarações de vontade vêm
sistematizadas a propósito da prova documental (art.º 362 a 387), sendo a definição de
documento o que dispõe o art.º 262.
Os documentos podem ser classificados em função dos mais diversos critérios, entre os
quais podemos distinguir:
→ Em função do suporte – documentos escritos e reproduções mecânicas,
subdividindo se estas últimas em fotográficas, cinematográficas ou fonográficas,
aos quais se acrescenta a distinção entre documentos escritos e documentos
digitais, podendo ainda, nas reproduções, mencionar-se os documentos
videográficos e os audiográficos.
→ Em função da entidade de origem – documentos oficiais e documentos
particulares, podendo, nestes últimos, surgir documentos produzidos pelo autor
e pelo réu; quanto a estes, poderá fazer sentido apelar ao regime da confissão;
Os documentos oficiais, por seu turno, serão notariais, centrais, regionais, locais,
eclesiásticos, etc., em função da concreta entidade emissora.
→ Em função do país de origem – documentos nacionais e estrangeiros, podendo
ainda distinguir os documentos diplomáticos, dos internacionais e dos europeus.
→ Em função de critérios jurídicos – documentos particulares, particulares
autenticados e autênticos; documentos originais e cópias; documentos
reformados; certidões e diversos outros.
Existe uma hierarquia entre documentos (art.º 364/1). A regra geral determina: o
documento pode ser substituído por outro, de grau idêntico ou superior, sendo que,
estando apenas em causa a prova da declaração, pode ser substituído por confissão
(art.º 364/2).
Faltando requisitos legais, o valor probatório dos documentos é livremente apreciado
pelo Tribunal (art.º 366). Os documentos escritos que desapareçam podem ser
judicialmente reformados (art.º 367). Quanto às reproduções mecânicas, fazem-se
prova plena desde que a sua exatidão não seja impugnada (art.º 368). As possibilidades
da informática retiram hoje, às tais reproduções, a especial prova probatória que já
tiveram, já que estas podem ser artificialmente acomodadas.
Da forma escrita dá corpo aos correspondentes documentos, podendo ser autênticos
ou particulares (art.º 363/2).
Os documentos autênticos paradigmáticos são os exarados pelo notário nos respetivos
livros, ou em instrumentos avulsos, e os certificados, certidões e outros documentos
análogos por ele expedidos. Entre eles avulta a escritura pública, lavrada nos livros de
notas, com diversas formalidades.
A autenticidade do documento depende da competência da autoridade ou oficial
público que o exarar e, ainda, de não haver impedimento legal (art.º 369/1). A
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 61
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
autenticidade em si deriva do próprio documento: segundo o art.º 370/1, presume-se
que o documento provém da autoridade ou do oficial Público a quem é atribuído,
quando estiver subscrito pelo autor com assinatura reconhecida pelo notário ou com o
selo do respetivo serviço.
Note-se que esta presunção (art.º 370/2):
▪ pode ser ilidida por prova em contrário.
▪ e pode ser oficiosamente afastada pelo Tribunal quando, por sinais exteriores do
próprio documento, seja manifestado a falta de autenticidade, sendo que, na
dúvida, pode ser ouvida a entidade a quem ele for atribuído.
Perante um documento autêntico, a sua força probatória só pode ser ilidida com base
na sua falsidade (art.º 372/1), a qual ocorre nos termos do disposto no art.º 372/2. A
falsidade pode ser declarada oficiosamente pelo Tribunal, quando ela seja evidente em
face dos sinais exteriores do documento (art.º 372/3).
Os documentos particulares são todos os documentos não autênticos (art.º 363/2),
todavia, para assumirem eficácia probatória, os documentos particulares terão de
assumir determinados requisitos. Em primeiro lugar, eles deverão ter uma autoria, de
outro modo, tratar-se-á de documentos anónimos, sem qualquer interesse. Para além
do mais, o direito civil dão-nos especial papel à assinatura (art.º 373).
O documento particular assinado, a sua letra e assinatura ou só a assinatura consideram-
se verdadeiras (art.º 374/1):
▪ Quando reconhecidas pela parte contra quem o documento é apresentado.
▪ Quando não impugnadas por essa mesma parte.
▪ Quando, sendo atribuídas a parte em causa, esta declare não saber se lhe
pertencem.
▪ Quando sejam legal ou judicialmente havidas como verdadeiras.
O ónus da prova da veracidade (leia-se, autenticidade) desloca-se para a parte que
apresentar o documento, caso a outra impugna a veracidade da letra ou da assinatura
onde não lhe sendo elas imputadas, de claro que não sabe se são verdadeiras (art.º
374/2). O ónus inverte-se na hipótese de reconhecimento presencial da letra ou da
assinatura do documento, ou só da assinatura, nos termos notariais: encobrirá então a
parte contra a qual o documento apresentado alegar e provar a sua falsidade (art.º
375/1 e 2).
Aplicando estas regras à exigência de forma escrita, temos o seguinte:
▪ a assinatura deve ocorrer depois do texto, ou, de outro modo, o que surge após
à assinatura poderá não se dever ao declarante.
▪ tendo a declaração várias páginas, todas elas devem ser assinadas ou rubricadas.
▪ a assinatura deve equivaler ao exarado em peça de identificação, não se
exigindo, contudo, que a assinatura seja legível, embora possa haver vantagens
em exarar o nome do assinante (entre parêntesis ou de modo equivalente).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 62
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Cumpre ter presente que a assinatura tem um triplo papel: permite imputar o texto
da declaração escrita ao seu autor; facilita a demonstração de autoria, dado que cada
assinatura humana é própria, diferenciando-se das outras; e consciencializa o
assinante, já que assinar é sempre sentido como um ato de responsabilidade.
Os documentos particulares podem ser autenticados: quando confirmados pelas partes
perante o notário (art.º 363/3 e art.º 375). Em termos probatórios, eles equivalem aos
documentos autênticos (art.º 377/1.ª parte), embora não os substituam no tocante à
forma exigida para as declarações negociais (art.º 377, 2.ª parte).
Pode, ainda, haver uma assinatura em branco: nessa altura, pressupõe-se, a latere , um
pacto de preenchimento, expresso ou tácito. Quando preenchido em conformidade com
esse pacto, ele confere a força de qualquer documento particular assinado, sendo que
o seu valor probatório pode ser elidido provando se que nele se inseriam declarações
divergentes do ajustado, o que o documento foi subtraído (art.º 378).
O documento particular cuja autoria seja reconhecida, faz prova plena quanto às
declarações atribuídas ao seu autor (art.º 376/1).
Quanto aos factos contidos na declaração, consideram-se provados na medida em que
se apresentem contrários aos interesses do declarante; a declaração é, contudo,
indivisível, em termos aplicáveis à confissão (art.º 376/2). Ficará ao julgador o apreciar
em que medida o valor probatório do documento é afetado por notas, entrelinhas ou
outros vícios externos (art.º 376/3).
4. Forma eletrónica e disposições especiais
Dispomos, hoje, de documentos eletrónicos: aqueles cujo suporte seja assegurado por
meios eletromagnéticos ou óticos. A assinatura que então intervenha é digital, tendo
sido as regras tradicionais adaptadas a essas inovações tecnológicas.
O Funcionamento das Regras Formais e o Sistema
1. Interpretação e a aplicação; a plenitude das normas
A interpretação-aplicação das regras relativas à forma coloca particulares questões, que
devem ser referenciadas. Os problemas filiam-se em 3 pontos fundamentais:
▪ o Direito aplica, à inobservância de forma legalmente prescrita, a sanção máxima
da nulidade – art.º 220.
▪ a manutenção da categoria dos negócios formais e, em certos casos, uma fonte
de desconexões e de injustiças, em termos materiais.
▪ a invocação de nulidades formais, em especial quando feita por quem lhes tenha
dado azo, revela-se injusta.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 63
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Torna-se possível detetar vários esquemas tendentes a amenizar as regras formais, em
nome das injustiças a que elas possam conduzir, deste modo:
▪ segundo o art.º 221/1 e 2, em várias hipóteses podem surgir, válidas, cláusulas
acessórias que não assumam a forma legalmente exigida para o negócio, sendo
que o próprio CC intenta, assim, restringir o âmbito de aplicação das regras
formais.
▪ segundo o art.º 238/1 e 2, é possível retirar, de um negócio formal, um sentido
que tenha um mínimo de correspondência no texto do respetivo documento,
ainda que imperfeitamente expresso ou, em certas condições, um sentido que
nem com esse mínimo coincida; as regras formais perdem, por expressa injunção
(leia-se, imperatividade) legal, em matéria de aplicação.
▪ segundo o art.º 293, torna-se possível converter um negócio, nulo por falta de
forma, num outro formalmente menos rigoroso, desde que verificado
determinado circunstancialismo.
▪ outras regras podem ser invocadas e, designadamente, cumprido livremente o
negócio nulo por falta de forma, pode suscitar-se a eventualidade da sanção.
Também importante no que toca ao levantamento de valorações legais que restrinjam
o formalismo negocial é o esquema da execução específica do contrato-promessa (art.º
830): através dele, verifica-se que, da simples celebração de um contrato-promessa
que, geralmente, tem regras formais mais leves do que as do competente contrato-
definitivo, pode resultar uma solução final em tudo semelhante à propiciada por um
negócio formal, sem que a competente forma tenha sido observada.
Tal estado de coisas permite concluir que, pelo menos as regras que impunham formas
devem ser interpretadas sem extensões nem analogias, nos precisos termos impostos
pelas leis que as estabeleçam.
O negócio que não observe as regras de forma que se apliquem é nulo, segundo o art.º
220. A nulidade, por seu turno, é invocável a todo o tempo, por qualquer interessado, e
pode ser declarada oficiosamente pelo Tribunal, nos termos do art.º 286. Nestas
condições, não bastaria impedir o causador de uma nulidade formal de a alegar, haveria
que tomar idêntica posição no tocante a quaisquer terceiros interessados, ainda que
estranhos ao vício, assim como, do mesmo modo, seria necessário bloquear o poder do
Tribunal de, ex officio, declarar a nulidade.
Assim não ser, bastaria, ao causador da nulidade, dá-la a conhecer a qualquer
interessado ou ao próprio tribunal para, para essa via, conseguir o mesmo resultado.
Ora a nulidade serve evidentes valores de tutela da confiança e de segurança jurídica,
de modo que, MC, não vê como substituí-la, ad nutum, por uma invalidade informe.
As regras formais e a nulidade correspondem à inobservância e visariam os valores da
publicidade, da reflexão e da facilidade de prova. Quando, em concreto, tais valores se
mostrassem acautelados, as regras em causa perderiam a sua razão de ser, perdendo a
sua aplicação, por redução teleológica. MC, contudo, julga não ser possível que o
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 64
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
esquema de redução teleológica possa ter aqui aplicação, já que, segundo este autor,
parece ser este o caso de uma norma plena (não tendo objetivos exteriores claramente
definíveis), a qual não admite este tipo de interpretação.
De resto, o valor das normas relativas à forma das declarações reside na sua própria
existência. Desde o momento em que tais normas pudessem ser afastadas, pela redução
teleológica, a segurança e as facilidades que dela decorrem perder-se-iam.
2. A inalegabilidades formais
Inalegabilidade formal – situação em que a nulidade, derivada da inobservância da
forma prescrita para um determinado NJ, não possa ser alegada sob pena de se verificar
um abuso de direito, por contrariedade à boa-fé.
Referência paradigmática de abuso do direito, no tipo inalegabilidade formal, pode ser
aproximada do venire contra factum proprium: o agente convence a contraparte a
concluir um negócio nulo, por falta de forma ou, pior, a não dar a forma legal requerida
para o negócio; prevalece, depois, do negócio nulo enquanto lhe convier; Finalmente,
vem alegar a nulidade, para se livrar das obrigações contraídas. Há abuso, por
contrariedade à boa-fé (art.º 334), contudo, permite tal abuso paralisar a aplicação das
regras sobre a forma?
A criação jurisprudencial do Direito é, naturalmente, imprecisa, não obstante, a doutrina
permite-nos afirmar aspetos importantes. Primordial é a posição de pessoa contra quem
se pretenda fazer valer a nulidade formal, atendendo a que é-nos possível equacioná-la
em dois aspetos: a sua relação com o vício formal e as consequências para ela
emergentes da nulidade, caso seja declarada.
Quanto ao vício formal, deve entender-se a necessidade de boa-fé subjetiva por parte
de quem queira fazer valer a inalegabilidade, ou seja, de desconhecimento, aquando da
celebração do contrato, da necessidade formal. A boa-fé subjetiva comporta, aqui,
deveres de indagação e informação de intensidade acrescida, dada a rigidez das normas
em jogo, isto também atendendo a que existe o conhecimento da necessidade de forma
solene para certos atos.
A evidência da falta de forma ou a negligência grosseira prejudicam sempre, pois,
estando presentes ou tendo conhecimento do vício, é razoável que o contratante com
o risco veja declarado nulo o seu contrato. De todo o modo, poderemos admitir que as
especiais características do caso concreto, regula com relevo para uma absoluta
confiança na outra parte, possam atenuar o rigor deste requisito. Neste ponto, a
doutrina tem vindo a sublinhar a existência eventual da violação de um forte dever de
lealdade, a cargo da parte depois interessada em invocar a invalidade formal, lealdade
essa que deveria ter obviado a nulidade.
Quanto às consequências emergentes da nulidade, caso seja declarada, tem vindo a ser
sublinhado, pela jurisprudência, que a inalegabilidade surge justificada apenas quando
a destruição do negócio tivesse, para a parte contra a qual é atuada, efeitos não apenas
duros, mas insuportáveis, de tipo existencial.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 65
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Segundo MC, à partida, deve ser ponderado um fator de regime, mas com a maior
importância dogmática: as nulidades, além de arguíveis pelas partes ou por
interessados, são, ex officio, cognoscíveis pelo Tribunal (art.º 286). As leituras que, na
inalegabilidade, vem apenas uma concretização da inadmissibilidade de um exercício
contrário à boa-fé, ficam comprometidas: de nada valeria ao beneficiário bloquear a
alegação da nulidade pela contraparte quando, afinal, o próprio juiz teria, por dever, a
função de a declarar.
5. A experiência e a prática nacionais
Verifica-se um certo desfasamento entre a doutrina e a jurisprudência no tocante ao
tema das inalegabilidades formais.
De todo modo, as inalegabilidades formais não podem ser abandonadas ao sentimento
ou à deriva linguística dos casos clamorosamente contrários à justiça. Apesar da
dificuldade, há que compor, para elas, segundo MC, modelos de decisão. Para tal,
teremos de partir do modelo da tutela da confiança, assim, para a existência de uma
inalegabilidade, e atendendo à sua grande proximidade do venire contra factum
proprium, é necessário o suprimento dos seguintes pressupostos:
▪ situação de confiança.
▪ justificação para a confiança.
▪ investimento de confiança.
▪ imputação de confiança ao responsável que irá, depois, arcar com as
consequências.
Todavia, tratando-se de inalegabilidades formais, temos de introduzir, ainda, três outros
pressupostos:
▪ devem estar em jogo apenas os interesses das partes envolvidas: nunca,
também, os de terceiros de boa-fé.
▪ a situação de confiança deve ser censuravelmente imputável à pessoa a
responsabilizar.
▪ o investimento de confiança apresentar-se-á sensível, sendo dificilmente
assegurado por outra via.
Nessa altura, a tutela de confiança impõe-se, ex bona fide, a manutenção do negócio
vitimado pela invalidade formal. Summo rigore, passará a ser uma relação legal,
apoiada no art.º 334 e em tudo semelhante à situação negocial falhada por vício de
forma.
6. A extensão da forma; a forma legal
Pergunta-se até onde vão as exigências de forma e, designadamente, em que medida se
devem aplicar, as cláusulas acessórias (regras dirigidas ao núcleo negocial). O CC
distingue:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 66
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Forma legal – forma que, por lei, seja exigida para determinada declaração
negocial.
▪ Forma voluntária – forma que não sendo embora exigida pela lei ou por
convenção, venha, no entanto, a ser adotada, livremente, pelo declarante.
▪ Forma convencional – forma que as partes tenham convencionado adotar.
Enquanto na forma legal se trata, fundamentalmente, de apurar o âmbito de aplicação
das competentes normas, nas restantes formas procura-se saber se as partes
pretendem, ou não, atuar na sua autonomia privada, quando se manifestem de modo
não-formal.
As regras que prescrevam uma forma legal devem ser interpretadas em termos diretos,
encostados à letra da lei: a segurança e a delimitação da generalidades a tanto nos
conduzem.
A forma legal opera, apenas, perante o cerne negocial: as estipulações acessórias só se
lhes sujeitam quando a razão determinante da forma lhes seja aplicável – art.º 221/1 e
2 –, sucedendo de igual forma, os atos jurídicos subsequentes, tais como a resolução. As
regras sobre a forma devem ser estendidas a negócios que se prendam diretamente
com o núcleo negocial formalizado [e.g. procuração (art.º 262/2), ratificação (art.º
268/2), cessão de posição contratual (art.º 425) cessão de créditos ou de direitos (art.º
578/1 e 588, etc.)].
7. A forma voluntária
O art.º 222/1 e 2, prevê repetidamente a hipótese de a lei sujeitar as estipulações
acessórias a forma escrita; esta terá de ser seguida, sob pena de nulidade – art.º 220 –
num simples aflorar das regras gerais, cabendo recorrer ao art.º 221 para indagar se, de
facto, elas se sujeitam à forma escrita.
8. A forma convencional
A forma convencional implica um pacto prévio pelo qual as partes combinaram emitir
as suas declarações por certo modo. Trata-se de uma possibilidade lícita e eficaz, ao
abrigo da autonomia privada. Todavia, importa ter presente os limites impostos quanto
às ccg: o art.º 22/1, o) LCCG, nas relações com consumidores, considera relativamente
proibida a fixação de formalidades que a lei não preveja. Tal fixação pode conduzir,
direta ou indiretamente, a uma compressão dos direitos do consumidor.
As partes podem, de comum acordo, não observar o combinado: haverá então uma
revogação da prévia convenção de forma, desde que as circunstâncias do caso permitam
o mesmo concluir a sua vontade de suprimir o antes acordado.
O problema torna-se ainda mais delicado quando as partes acordam uma forma
convencional e estipulam, de modo expresso, que tal forma só por escrito possa ser
dispensada. E se o fizerem oralmente?
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 67
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Temos de apelar à dignidade e divulgar uma cultura de respeito pela palavra dada,
assim, a convenção de forma só por escrito pode ser distratada, a menos que especiais
circunstâncias, assentes na boa-fé, permitam outra saída.
O art.º 223/1, relativo à convenção de forma, desvia-se um tanto destas regras gerais,
já que apenas estabelece a presunção de que, é estipulada de certa forma, as partes não
se quiseram vincular-se não por ela. Pode tal presunção, nos termos gerais, ser ilidida
por prova em contrário (art.º 350/2), demonstrando-se então uma revogação do pacto
quanto à forma.
Pode acontecer, por fim, que a convenção quanto à forma surja apenas depois de
concluir o negócio ou no momento da sua conclusão: desde que haja fundamento para
admitir que as partes se quiseram vincular desde logo, o art.º 223/2 presume que se
tive em vista a consolidação do negócio, portanto uma sua formalização (em rigor
dispensável), ou qualquer outro efeito que se possa descobrir: não a revogação do
negócio já celebrado, a sua substituição.
A conjugação dos preceitos em jogo e, designadamente, a não distinção efetuada na
matéria pelo art.º 223/1, permite concluir que, quando não assumam a forma
convencional, as estipulações acessórias obrigam sempre que se mostre
corresponderem à vontade das partes. Estamos no domínio da autonomia privada,
possibilitando os art.º 221 a 223, um bom exemplo de raciocínio jurídico.
As regras formais, têm, pois, uma extensão tão restrita, limitando-se ao que,
simplesmente, a lei imponha; dominando, assim, a autonomia privada.
Secção II. AS REGRAS PRÉ-NEGOCIAIS
A Culpa In Contrahendo
1. Aproximação
A formação dos contratos é dominada pela autonomia privada (art.º 405), sendo que
esta se concretiza, desde logo, em termos positivos (liberdade de escolher um certo
contrato) ou negativos (liberdade de não contratar).
As regras pré-negociais podem, em abstrato, apresentar algumas das seguintes origens:
▪ Contratual, na medida em que as partes hajam decidido concluir pactos
preparatórios.
Perante contratos preparatórios, as partes ficam vinculadas, sendo que tais
contratos podem, aliás, apresentar processos autónomos de formação, devendo
estes ser interpretados e aplicados dentro da lógica do processo a que
pertençam. A prática mostra, todavia, que nem sempre os acordos prévios são
claramente assumidos, desenvolvendo-se, por isso, uma dogmática
especializada.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 68
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Legal específica, regras as quais surgem em diversos campos. A LCCG contém
preceitos diretamente aplicáveis à formação de contratos, que caiem sob o seu
âmbito (art.º 5 a 9 LCCG).
Também as leis de defesa do consumidor abrangem regras pré-contratuais (e.g.
o direito à informação, consignado no art.º 8 da Lei de Defesa do Consumidor e
que tem a ver com as negociações e a celebração do contrato). Áreas delicadas,
como a do direito bancário e do direito dos seguros, comportam regras
desenvolvidas, sobre os procedimentos pré-negociais, designadamente no que
tange à troca de informações.
▪ Legal genérica. O dever de proceder segundo as regras de boa-fé, inserido no
art.º 227/1 trata-se de uma norma tradicional, de teor indeterminado. Cabe
ainda esclarecer que este preceito é conhecido como culpa in contrahendo ou
como responsabilidade pré-contratual.
O Papel da Culpa In Contrahendo
1. Generalidades
Importa indagar as necessidades que a cic vem satisfazer ou os interesses que ela veio
contemplar. Para tanto, deve proceder-se a uma análise de decisões nas quais a cic foi
concretizadora, atentando, sobretudo, nos factos em jogo.
Num primeiro grupo de casos, a cic destina-se a permitir o ressarcimento de danos
causados, na fase pré-contratual, a pessoas ou a bens (e.g. uma pessoa entra num
supermercado aberto ao público, escorrega numa casca de banana e fere-se, o dono do
local é condenado por falta de segurança pré-contratual). A cic viu alargar o seu âmbito
ficando claramente autonomizada do posterior e muito eventual contrato.
Pode considerar-se estarem em jogo deveres de segurança: as partes devem
providenciar para que, nas negociações, ninguém sofra danos, seja na sua saúde ou
integridade física, seja no seu património.
Note-se que não seria suficiente fixar um dever de indemnizar, por danos causados à
integridade física ou ao património dos lesados na base da responsabilidade aquiliana,
já que a construção de um dever específico de segurança permite uma solução mais
efetiva e eficaz.
Num segundo grupo de casos, a cic visa a circulação, entre as partes, de todas as
informações necessárias para a contratação. Pode falar-se na existência de deveres de
informação pré-contratuais, sendo que o âmbito se vai alargando consoante a
conclusão do negócio se aproxima, englobando até informações que apenas de modo
indireto se relacionam com o NJ em causa.
Num terceiro grupo, a cic liga-se, de modo mais direto, à própria atuação das partes,
havendo, assim, deveres de lealdade: as partes não podem, in contrahendo, adotar
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 69
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
comportamentos que se desviem da procura, ainda que eventual, de um contrato, nem
assumir atitudes que induzam em erro ou provoquem danos injustificados. Os deveres
de lealdade distinguem-se dos de informação, podendo neles considerar que não há
apenas uma questão de comunicação, antes jogando, também, com um problema de
conduta. Têm concretizações importantes no domínio dos deveres de sigilo e de não
concorrência, atendendo a que não podem as partes tirar partido de elementos obtidos
nas negociações preliminares para quebrar o segredo comercial ou a desencadear ações
concorrentes. Note-se que estes deveres têm igual elasticidade ao longo da formação
do NJ que os deveres de informação.
As exigências práticas solucionadas com recurso à cic levaram à autonomização, nos
termos apontados, de deveres de proteção, de informação e de lealdade, na fase pré-
negocial.
2. As constelações de casos
Os deveres de segurança, de informação e de lealdade pré-negociais tendem a
concretizar-se em torno de constelações de casos. Sucessivamente:
▪ vulnerabilidade pré-negocial: documenta múltiplas situações em que, mercê de
contratos pré-negociais, uma das partes fica nas mãos da outra, ou, pelo menos,
se coloca numa situação de especial fraqueza, dependendo dos deveres de
segurança, de informação ou de lealdade, a cargo dessa outra.
▪ Contratação ineficaz: quando se origina um contrato que seja nulo ou anulável.
Na hipótese, por exemplo, de surgir um contrato formalmente nulo, por uma das
partes a tanto ter conduzido, pode haver cic, designadamente quando não seja
possível construir uma situação de inalegabilidade.
A prática releva situações de dolo na conclusão do contrato: para além da
anulabilidade daí resultante, pode haver cic; outros vícios são retirados, para
esse efeito, como o da nulidade por contrariedade aos bons costumes. A cic
complementa, neste tipo de concretização, as regras relativas à invalidade dos
contratos e ao vício da coisa vendida: em si, tais regras não apagam os danos
que possam estar envolvidos.
▪ Interrupção injustificada de negociações: a conclusão de um contrato é, até ao
último momento, totalmente livre. Deste modo, à partida, pode qualquer uma
das partes, numa negociação, desistir do contrato, sem dar justificações, mesmo
embora a contraparte contasse já com a sua conclusão. Diferentemente se
passam as coisas se a parte desistente tiver, com a sua conduta, originado, na
contraparte, uma confiança justificada de que com segurança, se iria concluir um
contrato: assim, a interrupção injustificada das negociações conduz à cic.
▪ Tutela da parte fraca: tem uma especial concretização nas relações com
consumidores e, ainda, nas áreas sensíveis da banca e dos seguros. Tal tutela
concretiza-se, predominantemente, através de deveres de informação.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 70
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Responsabilidade por atos de terceiros: existe toda uma constelação de casos
em que a cic abrange terceiros que estejam envolvidos na conclusão do contrato.
Podem estar nessa situação o representante, o gerente da sociedade, o
consultor, o agente, o administrador da insolvência ou o fiduciário: qualquer um
deles responderá por cic, a título pessoal, na hipótese de quebra de deveres
preliminares que sejam dirigidos.
3. A proteção do contraente débil
Na negociação preliminar, as partes são formalmente iguais, todavia, no terreno, esse
igualdade nem sempre se verifica. Por razões de ordem social, económica, científica ou
de apoio jurídico, uma das partes pode encontrar-se em situação de total supremacia: a
não haver uma intervenção do direito, a parte forte ditará, pura e simplesmente, as suas
condições à parte fraca. O direito pode, aqui, por norma expressa ou ex bona fide, impor
uma obrigação de contratar.
À partida, mantém-se a liberdade de contratação, a qual pressupõe riscos e livre-arbítrio
assentes, naturalmente, na ideia de que cada um deve tomar conta de si. Contudo,
quando surge um contrato que patenteie desequilíbrios não queridos por alguma das
partes, algo terá corrido mal nos preliminares. A parte que, diante mão, conheça ou
deva conhecer o desequilíbrio em causa tem o dever de, disso dar conhecimento à
contraparte.
Ao contratante que se deva considerar inferiorizado, são devidos, na fase preliminar,
um esclarecimento e uma lealdade acrescidos, sendo que quando os correspondentes
deveres não são acatados, pelo que há responsabilidade, por inobservância da boa-fé.
O papel da cic na correção de contratos injustos, não levanta dúvidas, embora não possa
ser levado ao ponto de pôr em causa a autonomia privada, cerne do direito privado. Por
fim, o tema deve ser visto em ligação com os direitos dos consumidores e, no direito
civil, em articulação com as ccg. Tudo visto, podemos, assim, proclamar que,
verificadas circunstâncias ponderosas, a parte habilitada que não informe,
suficientemente, a parte débil, pode ser confrontada com cic, cabendo-lhe indemnizar
os danos assim causados.
4. A obrigação de contratar
A obrigação de contratar traduz uma SJ pela qual um sujeito fica a distrito à celebração
de um contrato, i.e., à emissão de uma declaração de vontade, que, em conjunto com a
da outra parte, dá azo a um NJ bilateral.
No direito português, encontramos as diversas previsões de obrigações de contratar:
▪ seguros obrigatórios: existem dezenas de situações em que é obrigatória a
celebração de contratos de seguro, contudo, não se especifica com que
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 71
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
seguradora, ainda assim, proliferam apólices únicas, idênticas para todos, de
aprovação governamental, que suprimem a liberdade de negociação.
▪ fornecimento de energia elétrica: os comercializadores de último recurso estão
obrigados à prestação universal.
▪ fornecimento de serviços de correio: é obrigatório.
▪ serviços de comunicação eletrónicas: é direito dos utilizadores aceder às redes
acessíveis ao público.
Na falta de previsão legal específica, obrigação de contratar pode emergir:
▪ de um prévio acordo nesse sentido, com natural relevo para o contrato-
promessa.
▪ de uma exigência de boa-fé (art.º 227/1).
A obrigação de contratar ex bona finde exige uma forte situação de confiança, imputável
à contraparte, de que o contrato em jogo iria ser celebrado e isso ao ponto de um
interessado ter realizado um considerável investimento de confiança.
Nessa eventualidade, o dever de contratar impõe-se, tendo, como contra-faces, a
ilicitude da interrupção injustificada das negociações, tendo como final a indemnização
que daí decorra, sendo esta calculada de acordo com um interesse positivo (tentando
estabelecer uma situação o mais próxima possível da que se tivesse realizado o
contrato).
5. A boa-fé e os valores do sistema
A cic, no termo desta análise, assume o papel simples e complexo, de assegurar, nos
preliminares contratuais, o respeito pelos valores gerais da ordem jurídica que, no caso
considerado, aspirem a uma concretização.
Compreende-se, desta forma, a aproximação feita entre a cic e a boa-fé:
▪ Tutela da confiança: na fase da preparação dos contratos, as partes não devem
suscitar situações de confiança que, depois, venham a frustrar (e.g. segundo os
intervenientes têm uma intenção remota de contratar, não deve convencer a
contraparte do contrário); a violação da confiança legítima provoca
responsabilidade.
▪ Primazia da materialidade subjacente: a autonomia privada permite, às partes,
negociar livremente os seus contratos, interrompendo as negociações quando
entenderem; a negociação emulativa, dilatória, ou, a qualquer outro título,
estranha à autonomia privada, é contrária à boa-fé.
Muitas vezes estes dois vetores estão presentes. A situação de confiança dá lugar a
realidades que a materialidade subjacente não pode esquecer.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 72
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A Construção da Culpa in Contrahendo
1. Teorias contratuais
A natureza jurídica da cic suscita larga controvérsia doutrinária. As diversas doutrinas
explicativas têm sido agrupadas em 2 polos:
▪ Soluções negociais, as quais procuram reconduzir a cic e os deveres que, com
ela, se conexionam, a NJ.
o Uma primeira linha de soluções negociais reconduzem a cic ao contrato
posteriormente celebrado; o efetivo cumprimento de um contrato exige
o acatamento de deveres que se desenham já antes da sua celebração.
Por isso, haveria como que uma pré-eficácia: celebrado um negócio,
certos deveres retro-atuariam até ao início das negociações.
o Uma segunda linha negocial, filia os deveres pré-contratuais na
celebração de um contrato preparatório, aquando do início das
negociações. Assim, ao aceitar negociar a eventual procura de um
consenso contratual, as partes estariam, desde logo, a aceitar, pelo
menos, algumas regras de jogo; entre outros aspetos, elas assumiriam o
compromisso de não se prejudicarem mutuamente.
▪ Soluções legais, as quais remetem a base da figura para a lei.
o No período pré-contratual, e independentemente da posterior
celebração de um contrato válido, as partes deveriam, desde logo,
observar certos deveres por a lei assim o exigir. A remissão da cic para a
lei surge, em si, bastante clara, afinal, qualquer construção jurídica
deverá radicar no direito objetivo (na lei), seja qual for a sua feição.
o A existência de determinados deveres, na fase pré contratual, impõe-se,
quase como evidência cartesiana, assim sendo, eles devem ser
reportados ao Direito ou à Lei, em sentido muito amplo. Para além do
apelo à boa-fé e ao sistema, há que referenciar as seguintes teorias:
• Teoria da relação contratual de facto.
• Teoria dos deveres extralegais.
• Teoria da confiança.
• Teoria da auto-vinculação sem contrato.
• Teoria dos deveres unitários.
Todas estas leituras vêm-se completando, constituindo hoje um acervo muito
importante para um entendimento da cic, a qual tem uma juridicidade mergulhada no
fundo dos níveis axiológicos do sistema, assegurando que ninguém fique entregue à sua
sorte, no campo do jurídico.
2. Abordagem pela responsabilidade
Embora se considere a cic como uma fonte de deveres pré-negociais, para ambas as
partes, é possível a inserção que a considera enquanto fonte de responsabilidade.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 73
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O direito português sempre deu um papel especial a este tipo de abordagem, por isso
se enfatiza a responsabilidade pré-contratual, terceira via da responsabilidade ou o
predomínio da indemnização pelo interesse negativo.
A cic ganha visibilidade quando, perante a inobservância das condutas por ela
permitidas, se ponha a necessidade de indemnizar. Assim, encontramos 2 orientações
possíveis quanto ao tipo de responsabilidade a aplicar: ou se entende que existe, entre
as partes, uma obrigação específica, seguindo-se a responsabilidade contratual ou
obrigacional, ou se opta por um dever de ordem geral, eventualmente concretizado em
deveres do tráfego, sendo, neste último caso, a responsabilidade, a aquiliana.
Deste modo, encontramos a cic num lugar próximo à responsabilidade aquiliana, mas
também conjugada com a responsabilidade contratual, sustentando-se a ideia de uma
terceira via.
3. Apreciações críticas
Abordagens da cic por via da responsabilidade civil:
▪ O dever de agir é prévio à responsabilidade que possa decorrer da sua
inobservância.
▪ A confiança procura apurar, dela, uma mera fonte da responsabilidade e fazer
regredir a construção da riqueza e da felicidade, dentro do espaço social.
▪ O direito civil está claramente mais avançado na área contratual do que na
responsabilidade civil; mal estaremos, pois, quando a ela façamos apelo e isso
para procurar dogmatizar uma realidade já de si fluída, como a de cic.
▪ A realidade judiciária portuguesa demonstra muitas dificuldades em lidar com o
dinheiro; as indemnizações são muito baixas e difíceis de obter, desincentivando
todo o processo de realização do direito; a fuga para o contrato conduz a
resultados mais justos, numa demonstração de realismo perante o que se
defenda.
A cic posiciona-se no universo da preparação dos negócios. Nessa medida, ela aproxima-
se dos contratos, os quais visam a criação e a atribuição de bens, enquanto a
responsabilidade civil visa a repartição de riscos e de danos.
A cic lida com deveres que, a serem cumpridos, prosseguem um papel criativo e
atributivo. É certo que a sua inobservância induz a danos e responsabilidade, mas, para
conhecer a extensão do seu regime, há que surpreender o momento anterior: é aquela
em que não se perfilham deveres de conduta positivos e que a serem cumpridos
asseguram a riqueza e afastam a responsabilidade. Por eles há que começar.
Em causa: a abordagem da cic pela responsabilidade civil, além de redutora, distorce
todo o instituto.
4. A obrigação sem prestações principais
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 74
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A construção atual da cic passa pela reconstrução do vínculo obrigacional. Efetivamente,
a cic documenta, antes de mais, um relacionamento juridicamente relevante, entre os
dois parceiros na negociação.
A obrigação é hoje tomada como uma via de duplo sentido, uma vez que as partes
tendem a ser, em simultâneo, credoras e devedoras uma da outra. Em termos gerais e
sintéticos, podemos dizer que uma obrigação comporta uma estruturação típica:
▪ Prestações principais – atuações primordialmente atribuídas às partes e que dão
o teor básico da obrigação considerada (e.g. na compra e venda, elas consistem
nos deveres recíprocos de entregar a coisa e de pagar o preço).
▪ Prestações secundárias – atuações acordadas pelas partes ou integrantes do
tipo negocial perfilhado e que se destinam a complementar as prestações
principais (e.g. na mesma compra e venda, elas podem consistir nos deveres de
embalar a coisa e de a entregar em certa morada).
▪ Deveres acessórios – exigências do sistema jurídico, veiculadas pela ideia de boa-
fé; estes asseguram que os objetivos últimos do vínculo obrigacional complexo
sejam efetivamente prosseguidos, na sua materialidade. Além disso, os deveres
acessórios protegem o património e as próprias partes, prevenindo danos (os
deveres acessórios dão corpo às exigências axiológicas nucleares da tutela da
confiança e da primazia da materialidade subjacente).
Na base da cic, da manutenção de deveres recíprocos mesmo na base da nulidade do
contrato, da observância de deveres acessórios na constância do mesmo contrato e da
sua sobrevivência post pactum finitum, construiu-se um esquema de deveres unitários
de proteção, que podem manter-se mesmo na ausência de prestações principais.
A cic equivale a uma designação tradicional, que exprime, desde o momento em que as
partes iniciem contactos preliminares, uma relação obrigacional. A obrigação in
contrahendo é específica: une duas concretas pessoas e assume um conteúdo moldado
pelo caso concreto, mas previsível e cognoscível. Por isso, a sua violação dá azo a uma
clara responsabilidade obrigacional.
Quanto ao seu teor, este depende do caso concreto: pode ser muito ténue, quando se
trata de contactos pouco mais do que ocasionais, mas pode, igualmente, atingir uma
grande intensidade, chegando a dar azo a obrigações de contratar. Este seu teor
exprime-se nos deveres de proteção, de informação e de lealdade e concretiza-se nos
diversos grupos típicos de casos: vulnerabilidade pré-negocial, contratação ineficaz,
interrupção injustificada de negociações, tutela da parte fraca e responsabilidade por
atos de terceiros.
5. A culpa in contrahendo
Para além do art.º 227, surgem outras consagrações legais relativas à conduta pré-
negocial das partes. No próprio CC, cabe revelar:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 75
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ O art.º 229/1, segundo o qual o proponente que receba uma aceitação tardia,
mas emitida na vigência da proposta, tem o dever de avisar imediatamente o
aceitante que não considera aceitação eficaz, sob pena de responder, pelo
prejuízo; temos uma concretização de um óbvio dever de lealdade.
▪ O art.º 898, no domínio da compra e venda de bens alheios, prevê a hipótese de
um dos contratantes ter procedido de boa-fé e o outro do lançamento: tem o
primeiro direito de ser indenizado, nos termos gerais, de todos os prejuízos que
não teria sofrido se o contrato fosse válido desde o começo, ou, não tivesse sido
celebrado, conforme venha, ou não, a ser sanada a nulidade.
Fora do CC, podemos apontar, e.g., para o art.º 9/1 LDC.
A Concretização da Culpa in Contrahendo
1. Análise do art.º 227
Para efeitos de estudo, cumpre ter presente o preciso teor do art.º 227. A expressão do
art.º 227 “negociar com outrem para conclusão de um contrato” deixa a dúvida de se a
cic é apenas contratual ou terá alcance negocial, questão à qual se reponde com um
alcance no que diga respeito à formação de contratos.
Se atendermos ao espírito da lei, parece claro que o legislador pretendeu colocar todo
o espaço que precede a conclusão de um negócio, sob a égide do sistema. Assim,
perante qualquer negócio, mesmo que unilateral ou, até, em face de simples atos
jurídicos (art.º 295), funcionam as regras da cic.
Note-se que a história mostra que a cic não apenas se manifesta nas negociações. Os
deveres de segurança pré-negociais surgem independentemente das quaisquer
negociações, formais ou informais, bastando uma especial proximidade que tem a ver
com a eventual conclusão de um negócio, para que ocorra a relação pré-negocial
complexa. A sua densidade será mínima, mas não nula.
A cic, fixa, aparentemente, 2 fases na preparação do contrato:
▪ Os preliminares, que pressuporiam toda a troca de informações necessárias,
para se alcançar um acordo.
▪ E a formação, que exprimia a formalização do acordo, designadamente quando
estivesse em jogo uma forma solene, que requereria atividades de
redocumentação.
Contudo, note-se que distinções deste tipo são sempre tendenciais, uma vez que se
reportam a uma realidade essencialmente unitária e muito mutável, sendo que em
procedimentos negociais complexos, existem mais fases do que estas figuradas.
O art.º 227/1 proceder segundo as regras da boa-fé. Faz apelo, a tal propósito, à lisura,
à honestidade, às práticas corretas, à lealdade, à decadência, às práticas corretas e à
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 76
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
ética dos negócios. Note-se que estas expressões apreciativas e valorativas, apesar de
úteis, não são suficientes para, do preceito, dar a verdadeira dimensão.
A boa-fé referida no art.º 227/1 é a objetiva, presente em preceitos como os art.º 334,
437/1 e 762/2. Ela equivale a uma remissão para os valores fundamentais do sistema,
presentes nas situações consideradas. Os valores em causa são mediados pelos
princípios da tutela da confiança e da primazia da materialidade subjacente. O seu
alcance é inesgotável.
Analiticamente, ela origina deveres de segurança, de informação e de lealdade.
Compreensivelmente, temos os 5 grandes grupos de casos em que vimos se ordenarem
as situações de cic: vulnerabilidade pré-negocial, contratação ineficaz, interrupção
injustificada de negociações, tutela da parte fraca e responsabilidade por atos de
terceiros.
Finalmente, arremata o art.º 227/1, “sob pena de responsabilidade pelos danos que
culposamente causar a outra parte”. Desde logo, cabe enfatizar que o preceito não
delimita nem exclui quaisquer danos: são todos os que sejam culposamente (representa
um juízo de culpa, i.e., de censura jurídica perante quem inobserve conscientemente
uma norma jurídica) causados, com importância por desamparar literalmente as
restrições ao interesse negativo ou da confiança.
Segundo MC, estamos perante uma situação de responsabilidade obrigacional, onde,
por via do art.º 799/1, sempre se presumiria a culpa. Culposamente, quer pela semântica
do preceito, quer pelos vetores gerais, implica mais qualquer coisa: o advérbio visa
delimitar os danos a indemnizar.
Pelo contrário, JAV defende que a cic é uma responsabilidade extraobrigacional, não
assentando na violação de qualquer direito de crédito, mas em deveres genéricos de
fonte legal. Só assim se justifica, ao contrário do que defende MC, que o prazo de
prescrição seja o da extracontratual.
O art.º 227/2 remete, no tocante à prescrição, para o art.º 498, o qual se trata de um
preceito com uma previsão de prescrição subjetiva, uma vez que começa a correr, não
a partir do momento em que o direito possa ser exercido (art.º 396/1), mas apenas
quando o titular dele tenha conhecimento, ainda que ignorando a identidade do
responsável ou a extinção dos danos. Consequentemente, o prazo é curto: 3 anos.
O legislador, mau grado a natureza obrigacional da responsabilidade, optou pela
prescrição mais flexível e capaz de servir, com justiça, a segurança jurídica.
2. Os casos típicos na jurisprudência
Os inícios da cic na jurisprudência foram difíceis, já que a doutrina é escassa e restritiva
e, além do mais, as próprias partes não invocavam o art.º 227 nem alegavam os
competentes factos: ao ponto de os tribunais, numa posição pedagógica, chamarem à
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 77
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
atenção para essa omissão. Posteriormente, os tribunais vieram a manejar a cic com
uma tranquilidade crescente.
A vulnerabilidade pré-negocial traduz situações nas quais uma das partes detém
elementos, designadamente informações, decisivas para a outra, mas omite comunicá-
las à contraparte, aquando das negociações.
Não se documentam, na jurisprudência portuguesa, situações de violação de deveres de
segurança, por danos à vida ou à integridade física, mas, em STJ, foram arbitrados danos
morais numa situação de omissão informativa por parte de um banco. Dogmaticamente,
houve uma violação de um dever de segurança destinado a proteger a integridade moral
dos envolvidos.
Documenta-se, em certos moldes a cic pela contratação ineficaz, a qual costuma acudir
perante situações de vício da coisa, que não possam ser (totalmente) enquadradas com
recurso ao regime da compra e venda.
Não é dogmaticamente correto vir a entender que a cic não pode coabitar com a
invalidade por dolo, já que uma das suas funções é justamente a de complementar o
regime das invalidades, permitindo ressarcir danos das pessoas que, delas, sejam
vítimas.
O grupo de casos que mais tem ocupado os nossos tribunais é o da rutura injustificada
das negociações (e.g., a propósito do fornecimento de material clínico para um hospital,
houve rutura injustificada da negociação de um leasing relativo à aquisição, havendo,
pois, cic; no decurso de negociações, chega-se a acordo quanto a determinada venda,
levando o projetado vendedor a realizar diversas obras, tendo esta operação em vista,
nesse mesmo tempo, a contraparte, sem justificação, não cumpre, devendo, pois, a
indemnização ao lesado por cic).
A propósito do cômputo da indemnização: pelo interesse negativo ou pelo positivo.
Saliente-se ainda que, no foro administrativo, surgem questões deste tipo: após uma
adjudicação de obras públicas, verifica-se que o dono não promove a celebração do
contrato à adjudicatária, havendo, pois, cic.
Na tutela da parte fraca, ainda que não assumida expressamente, enquanto tal, ocorrem
diversos e significativos arrestos (e.g. a propósito da concessão de exploração de uma
bomba de gasolina, negociada durante 3 anos, a multinacional concedente não disse
que só admitia contratar por 5 anos, notando-se a existência de cic; um banco negociou
um mútuo com um deficiente, convicto que daqui haveria uma bonificação nos juros,
contratando, pois, nessa base, contudo, apura depois o seu erro e pretende repercutir
o sobrecusto no consumidor, debitando-lhe, ora, não o pode fazer-se, sob pena de cic).
Por fim, responsabilidade de terceiro por cic também surge documentada, desde logo,
o devedor responde, em termos de cic por atos do seu representante.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 78
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A cic não é um instituto subsidiário. Ela pode ser invocada em concorrência com outros
institutos, como sejam a invalidade ou a resolução de um contrato, o regime de venda
de bens defeituosos ou a existência de acordos preparatórios explícitos. Tão-pouco
existe qualquer problema num funcionamento conjunto da cic e do abuso do Direito.
3. A natureza
A violação da relação pré-negocial é fonte, segundo MC (e ao contrário de JAV), de
responsabilidade obrigacional, aplicando-se, designadamente, o art.º 799, com a sua
presunção de culpa. Esta era a posição tradicional na nossa jurisprudência, sufragada
pela doutrina e, chegando, até há pouco tempo, a ser unânime.
Contudo, as dúvidas quanto à natureza obrigacional da cic advieram, nomeadamente
através de Almeida Costa. Este autor afirma que, quanto à culpa, parece que a solução
preferível, no caso, é de esta não se presumir, com efeito, a obrigação de indemnização
pela rutura dos preliminares, embora se trate de uma rutura ilegítima, sempre
representa uma limitação significativa da autonomia privada. Ora, não é razoável que o
agente que sofre essa diminuição na sua esfera negocial ainda careça de um ónus de
prova para que consiga ilidir uma presunção de culpa.
Almeida Costa a flora outros argumentos, designadamente o art.º 227/2, que remete
para uma regra aquiliana (art.º 498). Se bem se entende, o essencial desta doutrina
assenta num pré-entendimento, o de que a cic contradita a autonomia privada. Pelo
contrário, a existência de uma certa proteção evita que tudo finde num mar de dúvidas
e desconfianças.
Afastando o episódio da natureza delitual da cic, surge uma outra construção: a ideia de
que, entre a responsabilidade obrigacional e a delitual/aquiliana havia uma terceira via.
Tratava-se de explicar as situações enformadas por relações sem prestação principal,
como as da cic, a permanência de certos deveres perante a nulidade do contrato, a
dependência do contrato e a culpa postum factum finitum. Resta acrescentar que,
quanto sabemos, a referência à terceira via desapareceu.
Todavia, num fenómeno de contaminação cultural, a ideia de uma terceira via veio
merecer a simpatia de alguns civilistas portugueses (de forma implícita BM e Sinde
Monteiro, e, de forma explícita Carneiro da Frada e ML), sendo que, a partir daí, o receio
ancestral de evitar parecer desatualizado, levou a que a terceira via se viesse manter no
nosso direito civil.
ML dá um alcance sistemático de grande relevo, uma vez que o conceito lhe permite
agrupar os institutos da responsabilidade pré-contratual, da culpa post pactum finitum,
do contrato com proteção de terceiros e da relação coerente de negócios. Contra
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 79
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
pronuncia-se Almeida Costa que considera não ser necessário este instituto, perante o
nosso CC.
Os institutos ligados às relações obrigacionais sem dever de prestar principal têm
cómodo arrimo na boa-fé, explicitamente prevista para o efeito: art.º 227/1 e 762/2.
Eles visam, mercê de uma especial conexão entre as partes, desproporcionar
determinadas tutelas, através da atuação dos envolvidos.
Em suma, trata-se de orientar, pela positiva, a atuação das pessoas e não de as
responsabilizar ab initio.
Inserir toda essa matéria na área da responsabilidade, ainda que acoberta de uma
terceira via é, segundo MC, uma conceção patológica do mundo e do direito. As pessoas
geralmente respeitam os deveres de conduta que se perfilam em todo o circuito jurídico
ao qual MC designa de paracontratualidade: desde o in contrahendo até ao post factum
finitum. O designativo culpa é puramente histórico e não deve arrastar tudo isto para a
responsabilidade.
Para MC, os defensores de uma terceira via, ao fazê-lo, pretendem enfraquecer o regime
dos art.º 798 ss. (regime da responsabilidade obrigacional), algo que é inaceitável.
Em suma, os diversos fatores depõem-se, hoje, no sentido da inaceitabilidade da
chamada terceira via, como forma de reduzir o que chamamos paracontratualidade.
A referência a uma terceira via, como modo de enquadrar a cic, penetrou nalguma
jurisprudência. Temos de nos entender quanto ao conteúdo prático de tal referência. ML
explica as consequências de aproximar a cic da “terceira via”:
“Em relação à culpa in contrahendo, o regime aplicável será preponderantemente o da
responsabilidade obrigacional, sujeitando-se, por isso, o autor de facto, à presunção de
culpa prevista no art.º 799 e ficando a responsabilidade por atos dos auxiliares sujeita
ao regime do art.º 800. Haverá, no entanto, a aplicação de algumas soluções de
responsabilidade delitual, uma vez que parece que não se deverá aplicar à culpa in
contrahendo a exigência de capacidade negocial, e a lei manda expressamente aplicar a
regra da prescrição da responsabilidade delitual (art.º 227/2).”
A terceira via tinha o sentido, designadamente, de evitar a presunção de culpa, por isso,
segundo MC, a manter essa categoria, é preferível remetê-la para os deveres do tráfego.
Contudo, MC receia que, na prática, a terceira via funcione como mais um pretexto para
reduzir as indemnizações.
4. Interesse negativo e Interesse positivo
A cic assentava, fundamentalmente, numa relação de confiança estabelecida entre as
partes. A inobservância de deveres de informação e, no limite, a interrupção
injustificada das negociações, conduziam à quebra de confiança. Havia que determinar
os bens protegidos pela confiança defrontada. Assim:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 80
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Pelo interesse negativo, vai prevalecer a ideia de que as próprias negociações foram
ilícitas, devendo ser riscadas do mapa. Sendo este tipo de interesse usado, irá o lesado
receber uma indemnização que permita colocá-lo na situação em que estaria, se nunca
tivessem ocorrido para as negociações. Serão computadas as despesas havidas, os
custos envolvidos e, eventualmente, o esforço utilmente dispendido. O qual
evoluiu para a teoria do interesse da confiança (procurando-se determinar o
quantum do investimento de confiança perdido).
▪ Pelo interesse positivo, ilícita foi a interrupção das negociações ou a
incapacidade de, por elas, se chegar a um contrato válido e eficaz. Em
indemnização procurar-se-á colocar o lesado na situação em que estaria se o
contrato fosse válido e eficaz. O qual evoluiu para a teoria do interesse no
cumprimento (visando assegurar-se o valor futuro perdido, por via da cic).
Deste modo, a clivagem entre o da confiança (negativo) e o do cumprimento (positivo)
não se repercute, inelutavelmente, no montante da indemnização. Com efeito, pode
demonstrar que, a não ser a negociação frustrada, o lesado, além de poupar esforços e
defesas, ainda teria celebrado, como alternativa, um lucrativo negócio. Essa perda de
chance é abrangida pelo interesse negativo, a título de lucros cessantes, e,
inversamente, bem poderia suceder que, a não haver cic, se chegasse a um negócio
pouco vantajoso ou, até, prejudicial para o lesado.
Mas se assim é, outra tem sido a aplicação das 2 teorias. A limitação ao interesse
negativo acaba mesmo por restringir as indemnizações às despesas documentadas,
por vezes mesmo muito difíceis de provar.
Há, pois, que ter muito cuidado e alguma sensibilidade, no posicionamento da
questão. Devemos ainda prevenir para o seguinte: a limitação das indemnizações por
cic, ao determinado interesse negativo, já contagiou, no pensamento de alguns
autores, a indemnização devida, quando, na dependência de um contrato, haja um
incumprimento que leve a parte fiel a recorrer a sua resolução. Admitir que, a
indemnização se limita a colocar as partes na posição de nunca ter havido um contrato
constitui grave prémio ao infrator e coloca em causa a juridicidade das obrigações e
ao princípio do cumprimento do contrato.
5. O cálculo da indemnização por cic
Na determinação das indemnizações devidas ao usado, no caso de cic, há que partir das
regras da responsabilidade civil (art.º 798, 562 e 564/1).
O art.º 227/1 não introduz qualquer limitação neste quadro, além disso, cabe recordar
que o art.º 62/1 CRP garante a propriedade privada. Este preceito mostra-se
desatendido sempre que alguém sofra danos patrimoniais não ressarcidos. O mesmo
raciocínio funciona perante o art.º 26/1 CRP: a inconstitucionalidade sempre que
fiquem danos pessoais ou morais por compensar.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 81
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A cic é um instituto com uma composição complexa e dinâmica, a qual comporta
situações diversas e valores distintos, que cumpre destrinçar. Todavia, a análise do
processo de negociação, no caso de negociações complexas, revela, pelo menos, 6 fases,
no decurso das quais vão surgindo ou vão se intensificando os diversos deveres pré-
negociais, impostos pela boa-fé. São elas:
→ Proximidade negocial – As partes colocam-se, de tal modo, que podem ser
atingidas pelas condutas uma da outra, daí surgirem deveres de segurança
elementares (e.g. caso da casca de banana).
→ Contactos exploratórios – As partes comunicam, visitam instalações ou analisam
mercadorias. Surgem deveres de segurança acrescidos eventualmente dobrados
já por deveres de informação, sendo evidente o prolongamento e intensificação
destes mesmos deveres nas fases subsequentes.
→ Negociações informais – São manifestadas disponibilidades para negociar, com
troca de informações. Neste momento surgem deveres de informação e de
lealdade, designadamente sob forma negativa (dever de não dar informações
falsas ou que induzam em erro e não adotar atitudes que possam prejudicar, fora
do âmbito em jogo).
→ Negociações formais – As partes procuram, efetivamente, concluir o negócio,
sendo que nesta fase podem ser trocadas informações sensíveis e poderão
existir despesas preparatórias, como a contratação de terceiros. Procura-se
assentar num texto, com cedências múltiplas, o negócio, surgindo as
expectativas de futuro e intensificando-se o investimento da confiança.
Neste estádio os deveres de lealdade atingem uma intensidade acrescida, sendo
particularmente premente a obrigação de prevenir, com a necessária
veemência, de que não pode haver nenhum contrato, se tal for o caso.
→ Acordo – As partes assentam sobre todos os pontos que visam regular e põem-
se de acordo, faltando apenas a formalização e, eventualmente, a preparação
dos documentos para tanto necessários.
Chegados a este ponto, em princípio, já nada há para informar a não ser,
eventualmente, que o acordo é precário. Em contrapartida, a lealdade atinge um
grau máximo, devendo as partes honrar a palavra dada. A boa-fé pode, aqui,
culminar num dever de contratar, o que poderá ser criticado por atentar contra
a autonomia privada.
→ Execução – Por vezes, após o acordo, mas antes da sua formalização, as partes
podem executar, desde logo, um negócio alcançado. Neste estádio, a boa-fé e os
deveres de lealdade exigem a contratação.
Quando se refere, no art.º 227/1, a possibilidade de responder pelos danos que se
culposamente causar à outra parte, subentende-se um apelo à causalidade normativa:
o agente deve indemnizar o lesado pelos danos causados nos bens jurídicos protegidos
pela obrigação violada. Para tanto, há que atentar na fase negocial em que o problema
se oponha, no tipo de dever e no bem jurídico atingido.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 82
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Quanto aos deveres de segurança: devem ser indemnizados todos os danos, pessoais,
patrimoniais e morais que possam, causalmente, ser imputados ao agente. Está em
causa o interesse da integralidade, a qual seria uma saída prática e eficaz, dada a
presunção de culpa, para as diversas situações que possam ocorrer. É importante
denotar que estes deveres encontram-se presentes em todo o processo formativo.
Os deveres de informação surgem na fase exploratória e intensificam-se, na das
negociações informais e formais. Cabe fazer algumas precisões:
▪ Tais deveres incumbem à parte que esteja em condição de informar.
▪ Eles incidem, em especial, sobre a parte forte, seja jurídica, seja económica, seja
cientificamente; manifesta-se, aqui, a ideia da tutela da parte fraca.
▪ Não há base alguma para considerar que só se informa o que for perguntado;
Quando se pergunta, é porque já se sabe: tudo o bastante para desconfiar, logo,
há que informar tudo o que, razoavelmente, for de esperar que a outra parte
não conheça; esta não se trata de um dever geral de informar, mas de uma
obrigação específica, a verificar caso a caso.
▪ É crucial informar se se pretende, ou não, um negócio e, em caso de dúvida,
deixar claramente expressa essa incerteza.
Perante a violação do dever de informar, em princípio, podemos considerar que a
informação em jogo, sempre ponderosa, teria paralisado todo o procedimento
subsequente, daí que a indemnização deva abranger o interesse negativo ou da
confiança defraudado: as despesas havidas com vista à negociação frustrada, o tempo
dispendido e, sendo o caso, os danos morais.
Os deveres de lealdade surgem com as negociações informais e agravam-se nas etapas
subsequentes. Quando impliquem quebras no sigilo ou violações de leal concorrência,
ficam abrangidos os diversos danos, aferidos pelo interesse negativo: valem os danos
que não se teriam verificado a não haver prevaricação (e, logo, negociação). Estando em
causa um dever de contratar, seja por exigência geral de boa-fé, seja por já haver acordo
ou, maxime, execução desse acordo, além dos danos circundantes, deve ser computado
o interesse positivo.
Deve ficar claro que as tipificações assim efetuadas visam, apenas, ilustrar a
concretização da cic e o alcance do dever de indemnizar que, dela, possa resultar. A
realidade é mais diferenciada: todo o processo de negociação é um continum que só
pela abstração requerida pela análise pode ser cindido. Cabe ao julgador, no caso
concreto, sem preconceitos, realizar o direito, através dos múltiplos instrumentos que a
moderna ciência jurídica lhe confia.
6. A densificação negocial
In contrahendo, ocorre uma especial proximidade entre as partes, que as colocam à
mercê uma da outra.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 83
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Atendendo a que a proximidade ocorre, também, na vigência do contrato, nas hipóteses
em que o contrato seja nulo e, até, depois da cessação do contrato ou post factum
finitum, MC defende uma teoria unitária dos deveres de proteção, de lealdade e de
informação, assentos na tutela da confiança e na primazia da materialidade subjacente.
Na fase preliminar, as partes podem estabelecer os mais diversos acordos parcelados,
bem como recorrer à contratação mitigada. A rejeição doutrinária das soluções
contratualistas da cic não nos pode fazer esquecer que, na realidade, as partes vão
progredindo, nas negociações, para a aprovação e na medida em que haja consenso.
Além disso, surgem áreas específicas, ricas em valores e nas quais o legislador assumiu
a postura explícita de proteger determinados intervenientes, tal como sucede no
domínio das ccg, onde ocorrem específicos deveres de informação (art.º 6 LCCG).
Todas estas figuras haverá sempre que somar os diversos institutos da responsabilidade
civil, à medida que se venham a tornar mais eficazes (assim, uma violação do sigilo será
uma falha in contrahendo; contudo, poderá representar, antes de mais, uma violação
ao direito da privacidade, sede onde será possível uma indemnização mais cabal).
No funcionamento da cic , deve-se ter sempre presente que ela opera como
“compromisso ou conciliação entre o interesse na liberdade negocial e o interesse na
proteção da confiança das partes durante a fase das negociações” (Ac. n.º. do STJ de 09-
fev.-1999).
Atos Preparatórios
1. Ideia geral e modalidades
A proposta e aceitação surgem como elementos necessários, dentro do processo
analítico de formação do contrato entre ausentes. A liberdade das partes pode, no
entanto, introduzir outros elementos nesse processo, seja como modo de mais
eficazmente se conseguir a prossecução do consenso, seja como via adequada para
enfrentar particulares circunstâncias que se lhes deparem.
Atos preparatórios – todos aqueles atos que se inserem, pelo seu objetivo, no processo
de formação contato não podendo reconduzir-se a proposta, a aceitação ou a rejeição,
relativamente ao contrato definitivamente preenchido.
Os atos preparatórios são materiais ou jurídicos, consoantes se analisem em simples
modificações do mundo material ou antes impliquem atividades de puro significado
jurídico. Assim, tanto é preparatório o ato que se traduza no apontar de uma sala de
reunião, com uma celebração de um pacto quanto à forma do futuro eventual contrato.
Entre os atos preparatórios materiais incluem-se, com categoria autonomizáveis, os
contactos preliminares: neles, as partes procuram conhecer-se e indagar a possível
negociação dos seus interesses.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 84
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Por seu turno, os atos preparatórios jurídicos dizem-se vinculativos ou não vinculativos
conforme obriguem, ou não, as partes a práticas ulteriores.
No decurso dos preliminares, as partes mantêm a liberdade de contratar, devem,
contudo, respeitar a boa-fé, pelo que tudo quanto façam tem, a esse nível, relevância
jurídica. A técnica de decisão de acordo com a boa-fé obriga, contudo, a trabalhar com
modelos bastante vagos, o que só é possível com recurso a um instituto particularmente
adaptado para o efeito: a cic.
Alguns atos preparatórios surgem de tal modo incisivos e habituais que suscitam, no
plano das realidades sociais, a possibilidade de aplicação de regras adaptadas. Tal
sucede com a minuta, no domínio dos atos materiais e com os contratos preparatórios,
no campo dos normativos.
2. Atos típicos
Entre os múltiplos atos preparatórios possíveis, avultam alguns que são tipificados, seja
na lei, seja na prática social. No primeiro caso, fala-se em tipos legais, no segundo, tipos
sociais.
Começando pelos tipos sociais, encontramos a minuta ou a punctação. Neste
documento, as partes vão exarando os diversos pontos a inserir no futuro contrato, à
medida que sejam acordados. Na ideia tradicional, o contrato é aprovado no seu todo,
por isso, os pontos setoriais acordados, mesmo quando lançados num papel, não
vinculam os contraentes antes da aprovação final global.
Contudo, note-se que na atualidade, assiste-se, muitas das vezes, em negociações
complexas, à realização de atas das diversas reuniões ou a volumosas trocas de
correspondência, e de onde resultam acordos setoriais obtidos pelas partes. O princípio
da aprovação final global, afirmado a propósito da plantação nada diz a tal respeito. E
bem, segundo MC, já que tudo depende da vontade das partes.
O ato de lançar em minuta certos elementos é puramente material. Mas os acordos que
assim se documentem ou que resultem de atas de reuniões ou de correspondência
trocada pelas partes podem ter alcance normativo imediato, dependendo se as partes
se consideravam já vinculadas por acordos parcelares.
No campo dos atos preparatórios legalmente tipificados, surgem diversos contratos
instrumentais, ou seja, contratos que não visam regular, de modo direto, o conteúdo
que integrará o convénio definitivo, mas, tão-só, aspetos que, a ele irão conduzir. De
entre eles (tipificados na lei civil):
▪ a convenção das partes sobre a forma do futuro e eventual contrato (art.º 223).
▪ a convenção das partes sobre o valor do silêncio (art.º 218).
▪ a convenção das partes sobre o prazo de subsistência de eventuais propostas
(art.º 228/1, a)).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 85
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ o contrato-promessa ou contrato pelo qual as partes se obrigam a celebrar o
contrato definitivo (art.º 410 ss.).
▪ o pacto de preferência ou o contrato pelo qual uma das partes se obriga a vírgula
quando contratar, fazê-lo preferencialmente com a outra, desde que esta
acompanhe a oferta de um terceiro (art.º 414 ss.).
Há outros contratos preparatórios, de tipo instrumental (tipificados na prática social),
têm um relevo prático marcado, correspondendo a tipos sociais. Tal ocorre com o
contrato de opção, pelo qual uma pessoa, querendo, pode provocar o aparecimento de
um contrato pré-determinado. Neste sentido, a opção não se confunde com a
preferência, onde o contrato a celebrar depende da proposta feita pelo terceiro.
E assim sucede, também, com o concurso para a celebração de um contrato.
3. O concurso para a celebração de um contrato
Concurso para a celebração de um contrato – um ou mais atos jurídicos destinados a
promover o aparecimento de uma pluralidade de interessados na conclusão de um
contrato e, depois, a facultar, por escolha, a seleção de um deles, para a celebração em
causa.
A existência de concurso para a celebração de um contrato pode visar razões distintas
embora com frequência, inseparáveis. Assim:
▪ escolha do parceiro mais idóneo – dada a complexidade das sociedades
técnicas, a pessoa interessada em contratar não conhece, muitas das vezes, os
potenciais contratados, pelo que uma publicidade alargada, permite um afluxo
de possíveis pessoas a contratar, facultando escolhas adequadas.
▪ aproveitamento dos mecanismos da concorrência – ao abrir um concurso, o
interessado dirige-se eventuais contratantes para arrematar lugar, oferecendo
várias condições que lhe permite ultrapassar os restantes interessados.
▪ procura da melhor gestão – por vezes, o dono do concurso não tem ideias
assentes quanto ao próprio contrato a celebrar, pelo que os interessados são
levados a concorrer apresentando propostas globais, resultando isto numa busca
de melhor gestão, que transcende o mero universo contratual.
▪ legitimação da escolha – para a celebração de um contrato, a legitimidade
material advém da autonomia privada, podendo-se, inclusive, ir mais longe: se a
celebração de um contrato for precedida de um concurso, ficará a ideia, na
comunidade jurídica, não só de que havia o direito de celebrar tal contrato, mas
também, de que foi, pelo contratante, escolhido o melhor. Compreende-se,
deste modo, o relevo que o concurso para a celebração de contratos adquire, no
setor público, mas também no privado, já que o prestígio de uma empresa
poderá requerer a contratação, na base de prévios concursos.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 86
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Fundamental surge a contraposição entre o concurso público e o concurso limitado: ao
concurso público podem apresentar-se quaisquer parceiros que reúnam as condições
genericamente referidas no próprio termo de abertura do concurso; já ao concurso
limitado apenas se podem apresentar as entidades especialmente convidadas, pelo
autor do concurso, a fazê-lo.
O concurso para a celebração do contrato, figura genericamente atípica, não deve
confundir-se com os concursos previstos no art.º 463. Deve, ainda, ter-se presente que
o concurso agora em estudo se filia na autonomia privada, e, portanto, perguntar pelo
regime de um concurso é, pois, indagar a vontade dos seus autores.
Na hipótese de existência de um concurso contratual, todos os envolvidos num processo
contratual, diretamente ou a título de potenciais interessados, acordam previamente os
termos a seguir na contratação, fixando as regras para encontrar os contratantes
definitivos. Nessa altura, resta aplicar o regime do contrato e, tendencialmente, as
regras relativas ao contrato-promessa.
Mais frequentemente, no entanto, a hipótese de um contrato unilateral: apenas o seu
dono procede à competente abertura e aprova os seus termos; desta feita, haverá aqui
interpretar a declaração do interessado, para apurar as regras aplicáveis.
O regime, tal como resulta das competentes operações interpretativas, comporta várias
hipóteses que podem ser esquematizadas como segue:
▪ o concurso pode ser indicativo ou vinculativo, de acordo com a sua finalidade –
é de construir, apenas, uma fonte de informações para o autor do concurso o,
pelo contrário, a de integrar com efetividade num processo tendente à formação
de um contrato.
▪ O concurso pode assumir-se, desde logo, como proposta ou como solicitação,
conforme, dos seus termos, resulta o aparecimento do contrato logo que algum
interessado preencha certas condições, ou, pelo contrário, os interessados se
limitem a apresentar propostas, que o autor do concurso deverá, depois, aceitar
em certo condicionalismo.
Independentemente do que ficou dito, a abertura do concurso implica, para o seu autor,
o instituir de regras de tipo processual e de tipo substantivo. As regras processuais têm
a ver com os comportamentos instrumentais a observar pelos envolvidos na fase
preparatória, enquanto que as regras substantivas ligam-se aos valores a ponderar por
via do concurso e fixam os quadros relativos ao próprio contrato a celebrar, os
parâmetros referentes aos solicitados e os critérios de decisão para a escolha final.
O regime do concurso vincula o seu autor, salvo quando claramente ele tenha
proclamado, nos termos da abertura, a natureza meramente indicativa do processo.
As pessoas são livres de contratar ou não contratar, e podem, por maioria de razão, fazer
anteceder o contrato por consultas ou sondagens de mercado, procurando colher
opiniões e com muito saído eventuais interessados. Quando, porém, abre um concurso,
devem respeitá-lo até ao fim.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 87
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Nesse sentido dispõem três razões de direito positivo:
▪ princípio do incumprimento das vinculações unilateralmente assumidas, art.º
459.
▪ princípio da boa-fé, na vertente da tutela da confiança: não pode uma pessoa
gerar, na comunidade jurídica, a convicção de que a celebração de um contrato
será seguida certa metodologia, e, depois, supervenientemente desampara essa
confiança.
▪ tutela da confiança pré-contratual, já que, no limite, quem enviou normas que
o próprio haja adotado, para um concurso Público, incorre em cic ou, quiçá, em
venire contra factum proprium.
Se houver omissão, a boa-fé exigirá que, atenta a finalidade do concurso, se escolha de
acordo com os valores comuns nesse tipo de atividade. Assim, a melhor candidatura nas
variáveis preço/qualidade, será, em princípio, vencedora.
O incumprimento das regras aplicáveis, no domínio da abertura do contrato, obriga a
indemnizar todos os lesados pelos prejuízos, em casos especiais, sempre que o concurso
seja suficientemente preciso para permitir apontar, em termos objetivos, o vencedor e
para conhecer o contrato definitivo, é possível o recurso a uma execução específica, nos
termos do art.º 830.
Negócios mitigados
1. Acordos de cortesia e de cavalheiros
Acordo de cortesia – convénio relativo a matéria não patrimonial e que releve do mero
trato social (poderá recair sobre a hora e o local de um encontro, sobre questões
protocolares ou sobre outros ajustes convenientes para um convívio agradável, dentro
e fora da contratação jurídica).
O acordo de cortesia não se distingue do contrato apenas por as partes o terem colocado
fora do direito: ele recai antes sobre uma matéria que, não tendo conteúdo patrimonial,
não releva para o direito. A presença de uma obrigação derivada de acordo de cortesia
pode corresponder a um tipo legal (e.g. prestação de informações sem base jurídica).
Evidentemente: o acordo de cortesia que seja subtraído, apenas, para provocar danos
pode dar azo a situações comuns de responsabilidade civil: digamos que ele origina uma
obrigação legal de proteção, semelhante à da cic.
Acordo de cavalheiros – convénio que as partes pretenderam colocar fora do campo do
direito, podendo, teoricamente, recair sobre quaisquer assuntos, patrimoniais e
pessoais: têm apenas a particularidade de assentar na palavra dada e não honra de
quem a dê.
O acordo de cavalheiros é mais adstringente do que qualquer vínculo jurídico, aliás,
basta ver que um contrato pode, em certos casos previstos na lei, não ser cumprido;
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 88
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
ora, o cavalheiro honrará sempre a palavra dada, quaisquer que sejam as circunstâncias
e o preço, não sendo, contudo, direito.
Põe-se o problema de saber se as partes podem abdicar de qualquer proteção jurídica.
A resposta é negativa, a não ser no plano do cavalheirismo. Visto o disposto no art.º
809, as obrigações naturais só são viáveis nos casos admitidos por lei. Além disso,
funcionam numerosas outras regras, como a nulidade das obrigações indetermináveis
(art.º 280/1), a proibição de doar bens futuros (art.º 942/1) ou a possibilidade de fixar
prazos às obrigações (art.º 777/1).
Em suma: o acordo de cavalheiros deixará de o ser se os interessados não se
comportarem como tal. Para esse, em especial, considera-se lamentável a atitude de
exigir uma vantagem, em nome da palavra recebida e recusar a contrapartida,
invocando falta de juridicidade. E quando celebrados em família, os acordos de
cavalheiros ainda devem merecer mais respeito.
Questão diferente da juridicidade do acordo de cavalheiros é o facto de a grande
maioria dos contratos ser cumprida numa base de cavalheirismo e não de juridicidade.
No dia-a-dia, as pessoas realizam inúmeros atos jurídicos, assumindo as
correspondentes obrigações. Nessa tarefa, elas executam simplesmente porque deram
a sua palavra e querem honrá-la. Se fosse necessário recorrer à justiça do Estado para
pôr em prática tais obrigações, o sistema entrava em colapso, já que muitas das
obrigações em jogo, embora jurídicas, são indemonstráveis e, além disso, o volume de
processos provocados pela judicialização da vida social submergiria os tribunais.
2. Contratos mitigados stricto sensu
Perante uma esquematização de tipo tradicional, a postura dos interessados, em face
de um eventual contrato definitivo, só poderia ser de aquiescência ou de recusa,
contudo as necessidades do tráfego vieram determinar outra hipótese: a de os
interessados, não querendo ainda o contrato, se obrigarem, no futuro, a concluí-lo,
instituto o qual denominamos contrato-promessa.
Dentro desta última possibilidade, abrem-se outras sub hipóteses e, designadamente: a
de haver contratos-promessa com e sem execução específica. No primeiro caso,
ocorrendo em cumprimento, o promitente fiel poderia sempre obter do Tribunal uma
sentença que suprisse a abstenção do faltoso. No segundo caso, o incumprimento do
contrato promessa apenas poderia dar lugar a medidas compensatórias.
Chamaremos a estas figuras, genericamente, de contratação mitigada, para excluir as
figuras dos acordos de cortesia e dos acordos de cavalheiros.
A contratação mitigada decorre da prática dos negócios, donde diversas figuras têm sido
autonomizadas:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 89
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Tratativas – Abrangem troca de correspondência e abordagens preliminares.
▪ Carta de intenção –declaração, normalmente em forma epistolar, e que
consigna uma vontade já sido cimentada de, em determinadas condições,
concluir certo contrato, embora sem se obrigar a tanto. A carta de intenção é,
muitas vezes, usada para demonstrar uma vontade séria de adquirir, de modo a
poderem ser iniciadas auditorias.
▪ Acordo de negociação – ocorrem negociações complexas e consigo numa
vontade comum das partes de executar, desde logo, certos pontos, prosseguindo
na negociação, dentro de determinados parâmetros.
▪ Acordo de base – também em negociações complexas, podem as partes, obtido
um acordo em área Nuclear, formalizá-lo desde logo. As negociações
prosseguiram, depois, a nível técnico, para aplainar os aspetos secundários.
▪ Acordo-quadro – em negociações tendentes a originar múltiplos contratos, as
partes assentam no núcleo comum a todos eles.
▪ Protocolo complementar – Tendo em vista um contrato nuclear, as partes
concluem um convênio acessório, tendente a complementá-lo.
Um exemplo de contrato preparatório, que podemos reconduzir a contratação
mitigada, e o do contrato de reserva: um potencial comprador mostra-se interessado,
mas pretende conservar total liberdade de decisão. O vendedor reserva a coisa vendida,
durante um pequeno prazo, comprometendo-se a aguardar a decisão de comprador.
Em princípio, todas estas figuras são juridicamente relevantes. Assim, perante elas,
cabe, desde logo e pela interpretação, verificar qual a vontade dos participantes e,
designadamente, se eles se consideram vinculados pelos seus termos e de que modo.
Em direito, qualquer acordo válido deve ser cumprido, salvo quando nele, se diga outra
coisa. Tudo dependerá de saber se o acordo mitigado tem um conteúdo suficientemente
explícito ou se se limita a obrigar as partes a prosseguir nas negociações.
Não sendo bastante, a parte faltosa apenas poderá ser condenada em indemnização,
por interrupção injustificada das negociações. O tribunal não pode de todo modo
substituir-se às partes, negociando por elas.
Pergunta-se, por fim, pela natureza destes acordos. A expressão “contratação
mitigada”, não se trata de vínculos mais fracos, mas sim, de vínculos diferentes. As
partes podem adotar deveres de procedimento, de esforço e de negociação, tendo em
vista um fim eventual. Tais deveres são tão dignos como quaisquer outros: só surgem
diferente dos deveres que, eventualmente, viram a luz na contratação.
3. Em especial: as cartas de intenção
Carta de intenção – documento pré-contratual, de conteúdo variável, que surge no
tráfego aquando da preparação dos negócios complexos. A sua dogmatização é
dificultada pela imprecisão do seu conteúdo.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 90
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O conteúdo das cartas de intenção pode ser muito variado, de entre eles, cabe apontar:
▪ Cartas-registo – esta carta compreende uma punctação na qual são consignados
os pontos sobre o que haja já acordo
▪ Cartas procedimentais – as partes alinham os espaços negociais subsequentes,
normalmente depois de fixar em alguns pontos já alcançados.
▪ Cartas-quadro – a carta, para além de traçar pontos fechados, pontos em aberto
e, processos subsequentes, comporta, em anexo, diversos contratos
suplementares.
▪ Cartas-execução – permitem às regras iniciar, de imediato, atos de execução
próprios do contrato definitivo.
▪ Cartas de hardchip – obrigam as partes a negociar, dando, para isso, mais ou
menos elementos.
Quando se subscrevam documentos e se pretenda não assumir compromissos, a que
dizia um, muito claramente, para não haver dúvidas e para não se criarem situações
de confiança. Casos há em que se imprima, em cada página, instrumento de trabalho
não vinculativo, ou equivalente. Sendo este o estado de espírito de quem escreva, a
boa-fé impõe lhe um claro dever de informar, insistindo, se necessário.
Secção IV. A Conclusão dos Contratos
O processo de formação dos contratos
1. O contrato entre ausentes
O modelo básico de formação do NJ assentou num processo de formação do contrato.
Tal processo, por seu turno, postou uma situação na qual, entre as declarações de
vontade dos dois intervenientes, me dá um lapso de tempo juridicamente relevante.
Tecnicamente, trata-se de um contrato entre os ausentes: as partes não estão, de modo
necessário, fisicamente separadas uma da outra, pretende-se apenas afirmar que a
proposta, não é seguida, de imediato, de aceitação. Isso implica que o direito deva
caracterizar as duas declarações que existem independentemente uma da outra e deve
prever um período para a sua manutenção (art.º 224 e 228 a 235).
O esquema de formação do contrato entre ausentes é o único previsto, apertis verbis,
no CC. Contudo, esta falta de previsão, não se trata de esquecimento: de acordo com a
técnica comum da codificação continental, a lei não regula a realidade, antes dá
modelos abstratos de decisão, confiando ao intérprete-aplicador e aos operadores
sociais, a tarefa de concretizar, em cada situação, as indicações axiológicas.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 91
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
No processo de formação do contrato entre ausentes, o CC constrói um cenário de
diálogo, entre duas partes, que comporta duas eventualidades necessárias: uma
proposta e uma aceitação.
2. A proposta
Num processo tendente à formação de um contrato, surge, como fase necessária, a
proposta. Em termos formais, esta é a declaração feita por uma das partes e que, uma
vez aceite pela outra ou pelas outras, dá lugar ao aparecimento de um contrato. A
proposta contratual, para o ser efetivamente, deve reunir, segundo a doutrina
maioritária, 3 requisitos essenciais:
→ Completude
Deve ser completa no sentido de abranger todos os pontos a integrar no futuro
contrato: ficam incluídos quer os aspetos que devam necessariamente ser
precisados pelos contratantes (e.g. a identidade das partes, objeto a vender, um
montante do preço), quer os que, podendo ser supridos pela lei, através de
normas supletivas, as partes entendam moldar, segundo a sua autonomia
privada.
Faltando algum elemento e ainda que a outra parte o viesse a completar, não
haveria, sobre ele, o consenso necessário.
→ Firmeza
Deve revelar uma intenção inequívoca de contratar: não a proposta quando a
declaração do proponente seja feita em termos dúbios ou hipotéticos: a
proposta deve ser firme, uma vez que a sua simples aceitação dá lugar o
aparecimento do contrato, sem que, autocolante, seja dada uma nova
oportunidade de exteriorizar a vontade.
→ Formalidade
Deve revestir a forma requerida para o contrato de cuja formação se trate:
repare-se que a forma do contrato, como a de qualquer negócio, mais não é do
que a forma das declarações em que o assente.
No fundo, como foca Larenz, a proposta deve surgir de tal modo que uma simples
declaração de concordância do seu destinatário faça, dela, um contrato.
A proposta contratual deixa facilmente isolar-se, no contrato entre ausentes: havendo,
entre as declarações contratuais, um espaço de tempo juridicamente relevante, a
proposta surge como a primeira das declarações.
Nos contratos entre presentes, o problema é diverso. Também aí pode um dos
celebrantes apresentar um clausulado ao qual o outro dê o seu assentimento. Ambos
funcionam, então, como proponente e aceitante, respetivamente, o que poderá ter
interesse no domínio da interpretação das declarações de vontade. Pode, porém,
suceder que as partes se limitem a aceitar, em termos de não se poder destrinçar um
proponente.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 92
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Nas hipóteses em que não seja possível distinguir uma proposta e uma aceitação, fica
claro que os requisitos acima apontados, para a declaração do proponente, se devem
reportar ao objeto que mereça o assentimento dos contratantes ou que ambos façam
seu.
As três características devem ser entendidas em termos sociojurídicos e não
matemáticos. Impõem-se, por isso, algumas complementações. Com efeito:
▪ O contrato final pode assentar, em menor ou maior grau, em modelos tipificados
na lei, onde, o que as partes não regularem, se aplicam as regras supletivas.
Note-se que esta ideia é alargada aos tipos sociais, cujas normas são veiculadas
por usos ou por cláusulas contratuais gerais.
▪ O contrato pode comportar espaços em branco em áreas básicas e para as quais
não haja, propriamente, normas supletivas: antes esquemas legais destinados a
procurar uma solução (e.g. preço, já que art.º 883).
▪ O proponente pode remeter para o destinatário a faculdade de, em certa
margem, completar a proposta, ficando vinculado ao que ele disser (e.g.
declaração de venda ao melhor preço).
▪ As lacunas são possíveis, sendo que para elas, dispõem o esquema integrativo
do art.º 239 o qual, quando acuda, logo mostra que a proposta não estava
completa, no sentido laico do termo.
▪ As partes podem concluir um contrato incompleto, remetendo, para o futuro,
uma negociação destinada a completá-lo ou confiando no ulterior esquema de
distribuição de riscos.
O critério final para decidir da completude de uma proposta é a própria aceitação.
Perante o art.º 232, a proposta fica fechada quando a contraparte não suscita
necessidade de acordo sobre qualquer outro ponto. Além disso, o conhecimento da
proposta, em ordem a verificar se está completa, passa sempre pela interpretação, à luz
dos art.º 236 ss.. A proposta, para o ser, não carece de clareza: exige, sim, um ato efetivo
de comunicação jurígena.
A firmeza da proposta traduz a ideia de que o proponente abdica de voltar a pronunciar-
se sobre ela, caso de uma aceitação nos termos que ela própria preveja, permitindo
exprimir um dado básico: o da vontade do proponente ficar vinculado.
Esta característica não é absorvida pela completude, já que uma declaração completa,
mas sujeita a confirmação do próprio não é proposta: integra uma peça de uma
negociação mais ampla, em compensação, uma proposta pode estar sujeita a condições
designadamente suspensivas. Não se sabe se os efeitos irão ocorrer , uma vez que eles
dependem de um evento futuro e incerto, mas esse fator de incerteza transfere-se para
o próprio contrato, uma vez formado.
A exigência de forma coloca-se para a validade do concreto contrato, mas na sua falta,
pode ocorrer um contrato diverso, seja pela conversão (art.º 293), seja ex bona fide.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 93
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A flexibilização das características da proposta contratual corresponde, no fundo, à ideia
de que nunca se aplicam normas isoladas, mas sempre, o Direito no seu conjunto. A
presença de vetores precisos é um auxiliar, já que em conjunto com outros elementos,
chegar-se-á ao ius, i.e., à solução concreta.
4. Eficácia e duração
A eficácia da proposta contratual consiste essencialmente em promover, pela esfera do
destinatário, o direito potestativo (próprio e inconfundível) de, pela aceitação, fazer
nascer o contrato proposto. Esta SJ deve distinguir-se de outras nas quais uma das
partes, mercê de esquemas pré-existentes, negociais ou legais, têm o direito potestativo
de forçar a outra à conclusão de um contrato.
As outras SJ referidas surgem na sequência de contratos-promessa, de pactos de
preferência, de direitos de opção ou de preceitos legais que os estabeleçam, tal como
sucede na preferência legal. Embora em todos os casos haja direitos prestativos com as
correspondentes sujeições, o regime derivado da proposta do contrato é, claramente,
diverso das outras figuras.
A duração da eficácia da proposta de pautasse pelo disposto no art.º 228/1:
▪ se for fixado um prazo para aceitação, pelo proponente ou por acordo das partes,
a proposta mantém-se até ao termo desse prazo (art.º 228/1, a))
▪ se não for fixado prazo, mas o proponente pedir resposta imediata, a proposta
conserva-se até que, em condições normais, ela e a aceitação cheguem ao seu
destino (art.º 228/1,b)).
▪ se nada for dito, a proposta subsiste pelo período que, em condições normais,
possibilita que a proposta e a aceitação cheguem aos seus destinos, acrescidos
de 5 dias (art.º 228/1, c)).
Repare-se que a chave da duração das propostas contratuais, quer quando se peça
resposta imediata, quer quando nada se disser, se acaba por recorrer à solução supletiva
legal, a qual anda em torno do conceito indeterminado de período até que, em
condições normais, proposta e aceitação cheguem ao seu destino.
Esse período deve ser determinado em abstrato e tendo em conta o meio utilizado pelo
proponente para enviar a sua declaração. Será mínimo se for utilizado um meio de
comunicação rápido, será maior se se recorrer ao correio havendo então que distinguir
o tipo de correio e a distância.
A inexistência de regras civis sobre o tempo normal necessário para uma expedição
pessoal e imperiosa, no plano da segurança, associado a uma duração fixa, levam-nos a
manter o prazo de 3 dias como o período para que, em condições normais, uma carta
chegue ao seu destino.
Assim, salvo em casos de carta registada ou de situação certificada, quando o
proponente use o correio e peça resposta imediata, uma eventual aceitação deverá
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 94
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
chegar nos 6 dias subsequentes, passando o prazo a 11 dias, quando ele nada diga. Em
qualquer caso, o prazo que termine em domingo ou feriado, art.º 279/e).
Querendo prevenir dúvidas, o proponente remeterá a declaração por carta registada
com aviso de receção: a data da receção corresponderá, então, à data aposta no aviso
assinado.
De forma a melhor clarificar a duração da eficácia da proposta contratual atente-se nos
modos que podem conduzir à sua extinção. Assim, cabe considerar:
▪ Decurso do prazo
O decurso do prazo extingue, por caducidade, a proposta atingida. Os prazos comuns
aplicáveis resultam do art.º 228/1. Outra hipótese deve, contudo, ser tida em conta: a
de o proponente, sem se ter reservado a faculdade de revogar, vir declarar que a sua
proposta se manteria indefinidamente. Quando tal suceda, ele deveria ficar, para
sempre, sujeito a uma eventual aceitação, que poderia nunca surgir, isto não poderia
suceder, já que, salvo raras exceções com SJ perpétuas, a proposta feita em tais
condições submeter-se-ia à prescrição, no seu prazo ordinário de 20 anos (art.º 300 ss.
e 309).
Apesar desta prescrição constituir um limite à eternidade da proposta, é ainda um limite
com um prazo excessivamente longo para que uma pessoa aguarde, a fim de se liberar
de uma proposta que nunca mais obtenha resposta (note-se que durante este tempo de
espera, o proponente fica perante uma situação suscetível de bloquear, sem vantagens
para ninguém, meios financeiros, materiais e/ou humanos).
Assim, segundo MC, dever-se-á adotar a aplicação analógica do art.º 411: o
proponente pode solicitar ao Tribunal a fixação de um prazo para que o destinatário
aceite ou rejeite, e, passando tal prazo, segue-se a caducidade da proposta, nos termos
gerais.
▪ Revogação
A revogação da proposta é um ato unilateral, praticado pelo proponente, que tem por
conteúdo a extinção da proposta previamente emitida. Note-se que a revogação em
causa só é possível enquanto não houver contrato, já que, passada tal marca, haveria já,
não uma mera revogação da proposta, mas, ao invés, a revogação do próprio contrato,
a qual, só é possível, em princípio, através de um acordo entre as partes.
A revogação é viável em 2 hipóteses: quando o proponente se tenha reservado a
faculdade de revogar (art.º 230/1) ou quando a revogação se dê em moldes tais que
seja, pelo destinatário, recebida antes da proposta, ou ao mesmo tempo que esta (art.º
230/2).
▪ Aceitação ou rejeição
A aceitação faz desaparecer a proposta, promovendo a sua intervenção no contrato. A
rejeição conduz ao mesmo resultado, por renúncia do destinatário ao direito potestativo
de aceitar a proposta em jogo.
A análise da lei permite apurar outras formas de extinção da proposta contratual:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 95
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
→ por morte ou incapacidade do proponente, havendo fundamento para
presumir será essa a sua vontade (art.º 231/1) ou se tal resultar da própria
declaração (art.º 226/1).
→ por morte ou incapacidade do destinatário (art.º 231/2).
→ por ilegitimidade superveniente do proponente, desde que anterior à
receção da proposta (art.º 226/2).
▪ Outros modos
Outras causas gerais de extinção dos direitos, como a anulação ou a impossibilidade
absoluta superveniente, podem provocar o desaparecimento da proposta.
5. Oferta ao público
A oferta ao público é uma modalidade particular de proposta contratual, caraterizada
por ser dirigida a uma generalidade de pessoas. Como qualquer proposta contratual, a
oferta ao público deve reunir os 3 requisitos fundamentais enunciados, devendo: ser
completa, compreender a intenção inequívoca de contratar e apresentar-se na forma
requerida para o contrato a celebrar.
Há que distinguir a oferta ao público de certas outras figuras que por vezes se lhes
parecem próximas:
▪ Convite a contratar – através de vários meios, as entidades interessadas podem
incitar pessoas indeterminadas a contratar, contudo, não há oferta ao público
quando o convite não compreenda todos os elementos para que, da sua simples
aceitação, surja o contrato; em regra, o simples convite publicitário pressupõe
negociações ulteriores, das quais poderá resultar uma verdadeira proposta.
▪ Proposta feita a uma pessoa desconhecida ou de paradeiro ignorado – trata-se
de uma proposta comum, com destinatário específico; desconhecendo-se,
porém, a identidade ou paradeiro deste, há que proceder a um anúncio público,
nos termos do art.º 225.
▪ Cláusulas contratuais gerais – embora genéricas, as ccg não surgem,
necessariamente, como proposta e implicam uma rigidez que não enforma, de
modo necessário, a oferta ao público.
Oferta ao público – proposta genérica, dirigida a todos os interessados; surge como
modo idóneo de proporcionar muitos contratos com um mínimo de esforço e de custos,
por parte dos celebrantes. Entre os mais frequentes, os catálogos ou impressos
remetidos a pessoas indeterminadas, as tabuletas, os anúncios ou a simples exposição
dos bens em escaparates, acompanhada de indicação do preço respetivo, embora este
não seja um elemento essencial do contrato, já que, no caso da compra e venda,
art.º 883. Note-se que apenas basta uma aceitação para resultar em contrato.
O CC não se ocupou, de modo expresso, da oferta ao público, exceto para regular a sua
extinção (art.º 230/3). Este preceito, pela sua letra e pelo seu espírito, tem aplicação ao
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 96
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
caso do anúncio público da declaração, feito nos termos do art.º 225 (proposta a pessoa
desconhecida ou de paradeiro ignorado).
6. Invitatio ad offerendum; o leilão
No convite à oferta, o proponente declara-se pronto a receber propostas que, depois,
poderá aceitar. Não se trata de mera publicidade, uma vez que não traduz uma simples
publicitação de bens ou serviços, mas também não corporiza propostas que saiam,
depois, do controlo do seu autor, como ocorre com a oferta ao público. No convite à
oferta, falta a firmeza, portadora da vontade de vinculação, própria da verdadeira
proposta.
O convite à oferta não obteve consagração no CC, todavia, é muito conhecido num plano
praxiológico (e.g. o recurso a catálogos, anúncios, tabuletas ou a proposições inseridas
na net, pelas quais o seu autor se declara pronto a acolher e a ponderar propostas que
lhes sejam dirigidas, em certos moldes). Por vezes, a mera invitatio resulta da aposição
de cláusulas, tais como o acesso ao preço reservado ou equivalente, oferta livre, ou
oferta limitada.
As aceitações dos interessados devem ser reconfirmadas pelos oferentes: mesmo
quando existem propostas completas, a sua efetivação depende de haver mercadorias
em stock, de ser viável o envio, de ser obtida a licença bancária para o pagamento. Ora,
esses pontos não são, tecnicamente, condições, requerendo, pois, uma opção livre do
oferente, salvo o que será dito sobre a boa-fé.
O recurso a convites à oferta corresponde ainda à técnica de contratação própria de
certos setores, como o dos seguros, em que, por razões específicas de atividade em
causa, se apresentam como meros destinatários das propostas que lhes queiram fazer
os seus clientes. Tais propostas devem seguir canais próprios e sujeitam-se, em regra,
às cláusulas contratuais gerais da seguradora visado. Mas esta mantém a possibilidade
de aceitar, ou não, as propostas dos particulares interessados.
Apesar de não vinculativo, o convite insere-se numa lógica pré-negocial, por vezes muito
precisa. Este solicita, em grau variável, mas sempre efetivo, o princípio da boa-fé (art.º
227/1). Os interessados devem ser cuidadosos na informação de natureza não
vinculativa do convite, de modo a evitar a formação de situações de confiança que,
depois, não possam ser desfeitas sem danos para os interessados.
Modalidade marcada e muito característica do convite à oferta é o leilão, o qual traduz
uma técnica de contratação pelo qual o oferente (normalmente representado pelo
leiloeiro) declara vender (ou contratar) com o interessado que ofereça o melhor preço.
Contudo, existem diversas regras possíveis:
i) indicação de um valor mínimo que, a não ser alcançado, bloqueia a venda.
ii) fixação de lances mínimos, aquando do leilão propriamente dito.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 97
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
iii) obrigação de pagar a pronto ou de entregar, de imediato, uma percentagem do
preço.
iv) vias de entrega do objeto arrematado. As regras do leilão são, inclusive, por
vezes, inseridas em regulamentos preparados por profissionais, sendo, pois,
tecnicamente, ccg, daí se sujeitarem à competente lei.
O leilão não deve ser considerado como uma sucessão de contratos sujeitos a condições
resolutivas traduzidas pela ocorrência de lances superiores ou a condições suspensivas
negativas da ocorrência desses mesmos lances. Seria um total de artificialismo, já que o
leilão tem uma estrutura social e juridicamente unitária. Além disso, todos têm a clara
perceção que o contrato surge apenas com a adjudicação final ou a proclamação
equivalente. Até lá, há um tipo de negociação coletiva.
Em todos os casos, o art.º 227/1 ss. mantém sempre aplicação.
7. Aceitação, rejeição e contraproposta
Aceitação – declaração recipienda, formulada pelo destinatário da proposta negocial ou
por qualquer interessado, quando haja uma oferta ao público, cujo conteúdo exprima
uma total concordância com o teor da declaração do proponente.
Assim, a aceitação deve assumir duas características fundamentais: traduzir uma
concordância total e inequívoca; e revestir a forma exigida para o contrato.
Da aceitação resulta o contrato, sendo que não pode haver verdadeira aceitação quando
a competente declaração surja dubitativa ou condicionada. Por outro lado, cumpre ter
presente que o contrato mais não é do que um encontro das declarações confluentes
das partes: a forma dele é a forma delas. Esta aceitação pode ser expressa ou tácita
(art.º 217/1).
Não chega, pelo que foi dito, uma aceitação apenas sobre o essencial da proposta: a ser
o caso, exigir-se-ia o consentimento do proponente, funcionando a aceitação sobre o
essencial como contraproposta, devendo ainda que definir o regime da negociação
ulterior sobre o não essencial. Em suma, tem de haver acordo sobre todos os
problemas que qualquer das partes queira suscitar.
Carlos Ferreira de Almeida têm vindo a criticar este tipo de orientação, por considerá-la
exagerada. Segundo este autor a aceitação não poderia ser reduzida a um “sim”, tal
como a proposta não se limitaria a sê-lo. Esta posição, com a qual MC concorda,
argumenta ainda que a proposta pode ter uma grande elasticidade, o que condiciona,
no mesmo sentido, a aceitação.
A aceitação reflete os termos para a proposta, quando esta comporte espaços a
preencher pelo destinatário, espaços esses que o proponente de antemão aceite, tendo,
assim, a proposta um conteúdo mais vasto. Além disso, pode exprimir-se pelas mais
variadas formas, quando se esteja perante negócios consensuais, que são, de resto, a
regra. Veja-se o art.º 234.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 98
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Sendo uma declaração recipienda, aceitação produz efeitos, nos termos do art.º 224.
Operando nos termos desse preceito, pode suceder que a aceitação comece a produzir
os seus efeitos apenas quando a proposta já não tenha eficácia, já que poderá haver
uma receção tardia (art.º 229).
Quando isso suceda não há, de imediato, qualquer contrato. A conclusão de um negócio
contratual exige que a proposta e a aceitação se encontrem em plena eficácia. Assente
este ponto, determina o art.º 229 a seguinte distinção:
▪ Aceitação expedida fora do tempo – o proponente nada tem a fazer se quiser o
contrato; se pretender a sua celebração, terá de fazer nova proposta.
▪ Aceitação expedida em tempo útil – o proponente deve avisar o aceitante de
que não chegou a concluir-se qualquer contrato, sob pena de responder pelos
prejuízos, numa especial concretização de um dever de informação pré-negocial;
Se pretender o contrato, basta-lhe considerar a aceitação tardia como eficaz.
Uma vez emitida, a aceitação pode ser revogada, nos termos do art.º 235/2: a
declaração revogatória deve chegar ao poder do proponente em simultâneo com a
aceitação ou antes dela. Trata-se, como se vê, de um esquema similar ou da revogação
da proposta (art.º 230/2), em termos que não levantam dúvidas de maior.
O contrato tem-se por celebrado no momento em que a aceitação se torna eficaz, i.e.:
logo que chega ao poder do destinatário ou dele seja conhecida (art.º 224/1 a 3).
Além disso, a conclusão dá-se no lugar da receção da aceitação. Celebrado o contrato,
desencadeiam-se os efeitos nele previstos e, assim, o próprio contrato pode fixar o
momento do início dos seus efeitos.
Perante uma proposta contratual, o destinatário dispõe da alternativa de a rejeitar.
Rejeição – ato unilateral recipiendo pelo qual o destinatário recusa a proposta
contratual, renunciando ao direito a que dera lugar. A rejeição pode ser expressa ou
tácita, sendo que, assim que se torne eficaz, extingue-se a proposta contratual. Tal como
a proposta e a aceitação, a rejeição pode ser revogada, sendo substituída pela aceitação,
desde que é competente declaração chegue ao poder do proponente, ou dele seja
conhecida, o mesmo tempo que a rejeição (art.º 235/1).
A aceitação da proposta com aditamentos, limitações ou outras modificações implica a
sua rejeição (art.º 233, 1.ª parte). De facto, a aceitação deve traduzir uma total
aquiescência quanto à proposta, sendo que qualquer alteração introduzida nesta pelo
destinatário bloqueia a imediata formação do contrato, já que se trata de um ponto
sobre o qual não houve o consenso de ambas as partes.
O art.º 233, 2.ª parte, dispõe que se a modificação for suficientemente precisa, equivale
a nova proposta, à qual chamamos de contraproposta. Contraproposta é, para todos os
efeitos, uma proposta contratual que tem como particularidade o implicar a rejeição de
uma primeira proposta, de sinal contrário. Contudo, devemos complementar esta ideia
firmando que a contraproposta deve ser completa, deve traduzir a intenção inequívoca
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 99
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
de contratar e deve assumir a forma requerida para o contrato de cuja celebração se
trate. Todas as demais regras atinentes à proposta têm aqui aplicação direta, incluindo
as considerações quanto à sua flexibilização.
O contrato só se considera celebrado quando as partes cheguem a acordo sobre todas
as cláusulas ou matérias que alguma delas tenha suscitado. Assim, uma aceitação
parcial diz-nos que não há acordo sobre toda a matéria da proposta e que, no
remanescente, nada de concreto é contraposto.
Ressalve-se a hipótese de a parte aceite poder ser desinserida do contexto, dando corpo
a uma intenção do destinatário de prosseguir as negociações, tendo em vista um
possível acordo.
8. Dispensa da declaração de aceitação
O art.º 234 dispensa a declaração de aceitação em certas circunstâncias.
A possibilidade de ocorrer um contrato sem a aceitação do destinatário da proposta foi
longamente discutida, sendo que, desde cedo se impôs a reflexão, que o dueto
proposta/aceitação funcionava como um paradigma teórico, apto para o ensino e para
a estruturação mental do consenso contratual, mas pouco prático para traduzir a
efetividade da vida socioeconómica.
A formação de um contrato sem declaração de aceitação pode traduzir-se
materialmente:
▪ em atos de apropriação, tais como uso, modificação, consumo ou a disposição
das coisas objeto de oferta, mas não encomendadas (e.g. abertura de páginas de
um livro, escrever o nome num livro ou a colocação de um pão num cesto).
▪ em atos de cumprimento (e.g. reserva de um hotel, colocação de dinheiro num
autómato ou a execução de um negócio).
▪ em atos concludentes (e.g. os já habituais no tráfego de massas).
O art.º 234 especifica 3 hipóteses:
▪ A proposta – efetivamente, o proponente pode dispensar a declaração de
aceitação, mas não a própria aceitação: nessa eventualidade, indicará qualquer
outra via de aquiescência (e.g. disponibilizar os bens em jogo); tal eventualidade
deve, todavia, passar pelo crivo da tutela do consumidor e pela boa-fé; a ideia
do art.º 234 é a de facilitar o tráfego e a vida do destinatário da proposta e não
onerá-lo com negócios não desejados.
▪ As circunstâncias do negócio – há aqui, uma clara abertura a comportamentos
concludentes e os acima referidos atos de apropriação e atos de cumprimento.
▪ Os usos – estes permitem, em especial, uma sindicância, à luz da tutela do
consumidor.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 100
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Afigura-se irreal, a MC, pretender que exista uma vontade não comunicada, idêntica à
comunicada: a vontade é um todo, em conjunto com a ação que a desencadeie. De resto,
cada um sabe que a sua vontade se forma e se desenvolve à medida que se desenrolam
as ações que lhe sejam imputáveis.
A dispensa de declaração de aceitação não se confunde com a declaração tácita que é,
ainda, uma declaração; tão-pouco pode ser uma declaração tácita não recipienda,
porque, a não ter destinatário, não é comunicação, antes correspondendo a uma
autodeterminação sem comunicação ao proponente. Só à custa da enorme abstração e
de algum artificialismo poderíamos ver, aqui, ainda uma declaração de vontade.
A partir daqui, parece claro que diversos preceitos próprios da declaração de vontade
ou não têm aplicação ou têm-na em moldes muito embrionários na aceitação. Assim,
são inaplicáveis: o art.º 233, 235, 240 a 243, 258 a 269 e, em geral, as diversas cláusulas
que extravasem o núcleo simples do contrato. Por outro lado, são aplicáveis, mas com
fortes simplificações, os art.º 236 a 239 e 245 a 257.
Em compensação, ganham peso as regras sobre o ónus da prova: na falta de
declaração, cabe à parte que queira invocar o prevalecer-se do negócio, alegar e
demonstrar as competentes atuações.
9. Natureza das declarações negociais
MC julga poder se defender a proposta contratual como um negócio jurídico unilateral,
pelo menos sempre que o contrato visualizado pelo proponente tenha natureza negocial.
Quando tal não suceda, a proposta será um ato jurídico stricto sensu, pelo que se sugere
que:
▪ Proposta eficaz – produz efeitos de direito e, designadamente, faz surgir, na
esfera do destinatário, o direito potestativo à aceitação (facto jurídico lato
sensu).
▪ Proposta livre – o proponente faz a proposta se quiser (liberdade de
celebração – ato jurídico lato sensu), atuando ao abrigo da sua autonomia
privada.
▪ Conteúdo da proposta igualmente livre – o proponente pode inserir na proposta
as cláusulas que entender, daí surgindo um NJ.
E pela sua estrutura, fácil se torna considerá-la como um negócio unilateral. Esta
construção tem interesse justamente por facultar a aplicação das regras atenienses ao
negócio em geral.
Parece impor-se a qualificação da aceitação como um ato jurídico em sentido estrito.
De facto, perante uma proposta, o destinatário apenas poderia aceitá-la ou rejeitá-la: a
sua liberdade restringir-se-ia à celebração. No entanto, deve atentar-se em que a
aceitação/não aceitação não esgotam as opções do destinatário da proposta. Este pode
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 101
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
rejeitar, nada fazer ou contrapor. Conserva, pois, segundo MC, intacta, a liberdade de
estipulação.
A aceitação é, assim, em conjunto com a rejeição e a contraproposta, um negócio
unilateral. As regras negociais aplicam-se, por tudo isto, à aceitação, à rejeição e à
contraproposta.
Dentro da categoria de negócios, a proposta e aceitação ocupariam uma especial
categoria de atos preparatórios ou prévios. A ideia de negócio é suficientemente
abstrata e ampla para os poder abranger.
Contratação automática e eletrónica
1. A contratação por meios eletrónicos ou por Internet
A contratação por meios eletrónicos ou através da Internet não se confunde, em si, com
a efetuada através do autómato ou de computador, embora, por vezes, lhe seja
associada. Assim, a declaração de vontade feita por computador ou por meios de
comunicação eletrónica vale como tal.
A disponibilidade de contratação eletrónica através da Internet representa uma imensa
vantagem para os particulares e para as empresas. Torna-se possível ter acesso a bens
e serviços, no quadro planetário e isso numa escala totalmente inalcançável, em termos
de contacto direto. Praticamente tudo pode ser adquirido ou contratado. O interessado
pode, num espaço de segundos, comparar preços, características e qualidades. Além
disso, poupam-se intermediários e múltiplos custos da transação.
Mas, tem também desvantagens. Desde logo, o particular adquirente não conhece o
vendedor oferente, nem pode apreciar os produtos. Teoricamente, tem vias de
protesto, mas de acesso difícil. Pode ser levado a comprar inutilidades e, finalmente,
assume, com facilidade, encargos que, depois, terá de solver. Por tudo isto, surge a
necessidade dos Estados regularem esta matéria, de modo a proteger os seus utentes.
2. A tutela do contratante aderente
Com essa finalidade, foi aprovada a Diretriz n.º 97/7/CE, a qual foi transposta pelo DL
n.º 24/2014 (TDRDC), o qual fixa deveres de informação acrescidos e atribui, ao
adquirente, um direito à resolução do contrato, caso se venha a arrepender,
supervenientemente, da sua celebração.
O direito à informação floresce. A quantidade de elementos que é suposto serem
transmitidos ao particular interessado desafia a imaginação. É certo e sabido que, em
regra, ninguém atenta nessa matéria: os contratantes limitam-se a assinalar, em
quadrícula, que tomaram conhecimento, sem nada lerem. É com isto que se revela o
direito à legítima ignorância, que maior importância dá às demais prerrogativas do
interessado.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 102
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Já o direito à resolução livre, com a restituição do bem ou a desistência do serviço daí
resultantes, e o direito ao reembolso, operam com pilares decisivos.
No tocante ao âmbito de aplicação, registe-se a limitação do consumidor às pessoas
singulares (art.º 3/c) TDRDC), restrição para a qual, segundo MC, não há justificação: a
sociedade que, fora do seu âmbito profissional, encomende livros ou música pela
internet tem direito a idêntica proteção.
Quanto a contratos celebrados à distância ou fora do estabelecimento comercial (art.º
4 TDRDC), temos a sublinhar a sua não aplicação a vários campos, com relevo para o
financeiro (art.º 2/2, a) TDRDC), posto que:
▪ Devem ser dadas, ao consumidor, as informações prévias constantes do art.º 4/1
TDRDC, com requisitos de forma que assegurem a sua apreensão, respeitando a
boa-fé, a lealdade das transações comerciais e a proteção dos incapazes, em
especial dos menores. Tais informações devem ser confirmadas, aquando da
execução e em tempo útil, nas condições e limites do art.º 6 TDRDC.
▪ É conferido ao consumidor um prazo mínimo de 14 dias para que livremente ele
possa resolver o contrato, prazo esse que é aumentado se não tiverem sido
prestadas as informações devidas (art.º 10 TDRDC). Contudo este direito tem
algumas garantias e restrições (art.º 11, 12 e 17 TDRDC), sendo importante notar
que a resolução obriga a restituições (art.º 13 TDRDC). Para este efeito, o
consumidor deve conservar os bens de modo a poder restituí-los com “devidas
condições de utilização” (art.º 13/3 TDRDC).
▪ O contrato deve ser executado no prazo supletivo de 30 dias a contar do dia
seguinte ao da transmissão do acordo do particular (art.º 19/1 TDRDC), cabendo
certas regras na hipótese da indisponibilidade de bens: informação ao cliente,
reembolso do que este tenha pago ou, em certos casos, fornecimento de um
bem ou serviço diferentes (art.º 19/2 e 3 TDRDC). Contudo, art.º 19/4 e 5
TDRDC.
▪ O pagamento por cartão de crédito ou débito faz correr pelo banqueiro o risco
de fraude (art.º 18 TDRDC).
▪ O ónus da prova, quanto à informação prévia, cabe ao vendedor (art.º 4/8
TDRDC).
Os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial devem ser reduzidos a
escrito, sob pena de nulidade, cabendo de forma clara e compreensível e na língua
portuguesa “todas as informações referidas no art.º 4” (art.º 9/1 TDRDC) o fornecedor
de bens ou prestador de serviços deve entregar uma cópia do contrato assinado e a
confirmação do consumidor (art.º 9/2 TDRDC). Aplicam-se as demais regras com relevo
para o direito ao arrependimento.
3. Vendas automáticas e vendas especiais esporádicas
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 103
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
As vendas automáticas mantêm regras explícitas (art.º 22 a 24 TDRDC). Desde logo, elas
devem respeitar as regras gerais de indicação dos preços, rotulagem, embalagem,
características e condições hígiosanitárias (art.º 22/2 TDRDC). Além disso, o
equipamento automático deve exibir uma série de informações (art.º 23/2 TDRDC).
Prevê-se, ainda, uma responsabilidade solidária entre a propriedade do equipamento e
o dono do local onde ele esteja colocado (art.º 24 TDRDC).
Vendas especiais esporádicas – realizadas de forma ocasional fora dos
estabelecimentos próprios. Aplica-se, com adaptações, o regime das vendas fora do
estabelecimento comercial (art.º 25 TDRDC), devendo estas vendas ser previamente
comunicadas às entidades competentes, mais particularmente à ASAE (art.º 26 TDRDC).
Quanto a vendas proibidas, temos apenas as vendas ligadas (art.º 27/1 TDRDC) e o
fornecimento de bens não solicitados (art.º 28 TDRDC). Os direitos dos consumidores
não podem ser limitados por cláusulas contratuais gerais (art.º 29 TDRDC).
A fiscalização é entregue à ASAE (art.º 30 TDRDC), surgindo uma série de
contraordenações, com coimas (art.º 31 TDRDC). Prevê-se a promoção de ações de
informação aos consumidores (art.º 33/1 TDRDC) e de esquemas de resolução
extrajudicial de litígios (art.º 33/2 TDRDC).
A permanente instabilidade legislativa joga, naturalmente, contra os consumidores:
note-se que, até mesmo os profissionais têm dificuldade em manter-se atualizados
quanto às leis em vigor.
4. Documentos eletrónicos e assinatura digital
Documentos eletrónicos – aqueles cujo suporte não seja físico, mas eletrónico (esta é
uma definição no seu sentido mais amplo, de modo a abarcar soluções eletromagnéticas
e óticas). O regime normal é-lhes aplicável, com adaptações. De todo o modo, o
formalismo jurídico tem levado os legisladores a intervir.
Assinatura digital – esquema que permite uma entidade, dotada de uma chave,
reconhecer e autenticar uma sequência digital proveniente do autor de uma missiva
eletrónica, de modo a autenticá-la. Também este aspeto vem contemplado nas leis
acima referidas.
Entre nós, surgiu também um diploma relativo a documentos eletrónicos e assinatura
digital: o DL n.º 290-D/99, o qual foi revogado, daí hoje se aplicar o DL n.º 12/2021, o
qual assegura a execução na ordem jurídica interna do regulamento da UE n.º 910/2014,
relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações
eletrónicas no mercado interno.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 104
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
CAPÍTULO IV. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
GERAIS
O Uso de Cláusulas Contratuais Gerais
2. Noção, terminologia e figuras afins
Cláusulas contratuais gerais (ccg) – proposições impessoais e pré-elaboradas, que os
contratantes podem adotar, para efeitos de conclusão de um negócio.
Embora, teórica e tecnicamente, todos sejamos livres de negociar os contratos ponto
por ponto, isso não é viável. Em sectores como os transportes, a banca, seguros e nas
mais diversas prestações de serviço, os interessados limitam-se a aderir a proposições
pré-elaboradas, assim surgindo um negócio.
As ccg distinguem-se de algumas figuras afins:
▪ Proposta – as ccg podem integrar propostas, mas em si, elas nada propõe, pois
não têm destinatário, estão simplesmente disponíveis para a conclusão de
contratos.
▪ Aceitação – em certos casos, como o dos seguros, são aceites propostas, feitas
pelos interessados, que subscrevem as ccg, contudo, estas aceitações existem
em abstrato e requerem a aceitação propriamente dita por parte do utilizador,
não sendo, pois, prévias.
▪ Invitatio ad offerendum – as ccg podem ser acompanhadas de convites a ofertas,
mas não têm, em si, esse papel, por falta de destinatário.
▪ Negócio de consumo – as ccg são, com muita frequência, usadas para concluir
negócios com consumidores, mas nem sempre e não necessariamente. Além
disso, há negócios de consumo que não passam pela adesão a ccg.
▪ Contrato pré-formulado – as ccg, além de pré-elaboradas, visam uma
multiplicidade de aplicações, enquanto que o contrato pré-formulado assenta
numa proposta que não admite negociação. O contrato pré-formulado, quando
proposto a um consumidor, suscita a aplicação de regras similares à das ccg, mas
com elas não se confunde.
5. O papel
As ccg visam permitir uma contratação eficaz e com um número elevado de pessoas,
tendo uma função unitária manifestada de forma diversa, consoante o setor normativo
em que se apliquem. Todavia, por razões de análise, podemos várias funções das ccg:
▪ Rapidez – a negociação de um contrato pode ser algo muito demorado e
dispendioso, dependendo, desta forma, da boa vontade dos intervenientes.
▪ Racionalização – manifestação de um necessidade de confecionar contratos
idênticos ou paralelos.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 105
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Colmatação de lacunas – especialmente necessária perante os denominados
tipos sociais, ou seja, tipos de contratos construídos e reconhecidos pela prática,
usualmente celebrados, mas que não dispõem de tratamento legal específico.
▪ Ordenação do risco – prende-se com uma especialização da normalização.
Função esta que assume um papel significativo, para além do que surja nos
contratos que lidam com o risco (seguro e banca). Em termos individuais
qualquer contrato representa um risco: normalmente pequeno, embora para
quem lide com grandes números, o risco pequeno possa ser fatal
▪ Confiança dos interessados – por fim, temos funções que se prendem com a
confiança dos interessados, através de regras como a do igual tratamento e com
as necessidades de controlo e de supervisão (e.g. o passageiro que paga o seu
bilhete contrata, tranquilo, porque sabe que existem milhares de outras pessoas
a fazer o mesmo).
6. Os requisitos
As ccg dependem de 4 requisitos. Assim estas:
▪ Juridicidade – são proposições negocialmente significativas.
As ccg são proposições linguisticamente fixadas, em regra, por escrito (embora, em
rigor, este não seja um critério necessário) e nas quais seja possível apontar uma
juridicidade negocial. Não se trata de fórmulas de ciência ou de esquemas
operativos, mas antes de estruturas vocabulares capazes de exprimir uma volição
negocial. A ccg uma vez subscrita, passa a cláusula negocial, dotada de
vinculatividade.
▪ Pré-formulação – existem antes de sua eventual inclusão num contrato.
A prévia existência das ccg assegura que elas se mantenham quae tales,
independentemente de algum dia seria incluídas nalgum contrato, o que lhes
assegura uma certa juridicidade: já que devem ser comunicadas e esclarecidas,
devem respeitar certos limites quanto ao seu conteúdo e podem ser objeto de
sindicância jurisdicional.
▪ Multiplicidade – são utilizáveis na conclusão de uma multiplicidade de contratos.
O utilizador das ccg pode estar identificado, mas usá-las repetidamente, em vários
contratos. A multiplicidade ínsita nas ccg, i.e., a sua apetência para encorpar diversos
negócios singulares pode exprimir-se em 2 possibilidades:
▪ Num número indeterminado de negócios singulares – pelo seu próprio
conteúdo, as ccg dirigem-se a diversos contratos futuros; nesse caso, mesmo
que potenciem um único negócio, elas são verdadeiras ccg (e.g. Será o caso
do modelo contratual relativo à venda de frações autónomas indeterminadas,
que (ainda) só tenha sido usada uma vez).
▪ Num número determinado de negócios singulares – a ccg foi desenhada para
um certo caso, mas veio a ser usada noutros.
É certo que a LCCG, no seu art.º 1/1, refere proponentes e destinatários
indeterminados, contudo, não obstante, não oferece dúvidas em, pela
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 106
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
interpretação, se alargar a ideia de indeterminação, de modo a convertê-la em
multiplicidade.
▪ Rigidez – não admitindo uma negociação que possa modificar o seu teor.
Este é um requisito óbvio, já que para haver ccg, é imperioso que os aderentes se
limitem a acolhê-las nos contratos singulares concluídos, caso contrário, tratar-se-
iam estas de meras cláusulas negociais.
Além das características apontadas, outras há que, embora não necessárias, surgem
com frequência nas ccg:
▪ Desigualdade entre as partes – o utilizador das ccg (i.e. o proponente) goza, em
regra, de marcada superioridade económica e científica, em relação ao aderente.
▪ Complexidade – as ccg caraterizam-se por um grande número de pontos, sendo
que, por vezes, cobrem, com minúcia, todos os aspetos contratuais, incluindo a
nacionalidade da lei aplicável e o foro competente para dirimir eventuais litígios.
▪ Natureza formulária – as ccg constam, com frequência, de documentos escritos
extensos, onde o aderente se limita a especificar escassos elementos de
identificação.
7. A natureza: o status contratual geral
As ccg, independentemente da sua inclusão em contratos, já representam um quid
juridicamente relevante. Verifica-se que as cláusulas devem, antes da conclusão dos
contratos singulares, ser comunicadas ao potencial aderente (art.º 5 LCCG),
devidamente informadas (art.º 6 LCCG). Estas incorrem em múltiplas proibições (art.º
15, 18, 19, 21 e 22 LCCG), tendo estas uma lei aplicável que não pode ser a do contrato
(art.º 23 LCCG).
As ccg podem ser proibidas por decisão judicial, independentemente de integrarem
qualquer negócio (art.º 25 CCG), com um completo regime daí decorrente (art.º 32, 33
e 34 LCCG). Temos de concluir que as ccg são, só por si, NJ suscetíveis de produzir
efeitos na esfera de terceiros, independentemente de qualquer aceitação, para efeitos
de integração negocial.
Além do exposto, cabe antecipar uma distinção importante: contrapõe -se, nas ccg, as
destinadas a integrar contratos de execução instantânea (onde as ccg operam como
simples proposições negociais, uma vez integradas no contrato singular definitivo) e as
que se dirigem à constituição de relações negociais duradouras (onde as ccg instituem
um autêntico status, no qual as partes ficam imersas).
E.g. As ccg relativas à abertura da conta bancária ou a um contrato de distribuição:
concessão ou franquia. Entre as partes, cria-se um estado duradouro, suscetível de
múltiplas evoluções, com potenciais vicissitudes supervenientes. Sempre que ocorram
novos factos, no âmbito contratual em jogo, a consultar e interpretar as ccg subscritas,
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 107
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
em ordem a determinar a solução. No limite, elas funcionam, entre as partes, como um
pequeno código a observar no âmbito considerado.
Note-se que, segundo MC, mais do que uma simples fenomenologia contratual, estamos
perante um modo privado de produção de normas jurídicas, semelhante às convenções
coletivas de trabalho, aos negócios normativos e aos regulamentos privados, os quais
obtêm regras não puramente negociais-individuais.
Note-se que a interpretação de ccg que integrem um status duradouro sofre uma
inflexão: estas não seguem, à letra, o disposto no art.º 10 LCCG, o qual deve ser tomado
de forma restritiva. Estamos, efetivamente, perante um modo coletivo de regulação.
Cada um, independentemente das particularidades do caso, deve saber com o que
conta. Assim, as cláusulas ganham um sentido útil: o que mais diretamente resulte dos
seus termos.
O Regime Geral
1. O Decreto-Lei n.º 446/85 (LCCG); aspetos gerais
A LCCG não se limita a proteger consumidores, visando, pois, todos os utilizadores de
ccg. Todavia, ela dispensa, aos consumidores, um cuidado especial, prevendo para
estes, uma lista mais extensa de proibições. No tocante à técnica de tais proibições, a
LCCG articulou uma cláusula geral assente na boa-fé, com múltiplas proibições
específicas.
Finalmente, ela associou a nulidade das ccg contrárias à lei, a invocar em cada caso, com
um sistema geral de ações inibitórias, destinadas a proibir, em geral, aquelas que,
independentemente da inclusão em contratos concretos, se mostrem contrárias ao
sistema.
2. Âmbito e exclusões
A LCCG visou uma aplicação de princípio a todas as cláusulas (art.º 1/1 LCCG), dispondo
que o art.º 2 especifica que elas ficam abrangidas independentemente:
▪ da forma da sua comunicação ao público (e.g. tanto se visam os formulários
como, por exemplo, uma tabuleta de aviso ao público).
▪ da extinção que assumam ou que venham a apresentar, nos contratos a que se
destinem.
▪ do conteúdo que as enforme, i.e., da matéria que venham regular.
▪ de terem sido elaboradas pelo proponente, pelo destinatário ou por terceiros.
A exigência da falta de prévia negociação é um elemento necessário e autónomo, que
deve ser invocado e demonstrado.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 108
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A LCCG funciona perante situações patrimoniais privadas que tenham a ver, de modo
vincado, com o fenómeno da circulação dos bens e dos serviços. Retiram-se, por isso,
do seu âmbito e aplicação, as SJ públicas, bem como as situações familiares e
sucessórias.
À exceção do art.º 3/c), deve ser limitado o preciso alcance destas normas: um contrato
que tenha aspetos públicos e privados, apenas estes últimos incorreram na LCCG.
Finalmente, deve ter-se em conta que a LCCG, quando não tem a aplicação, vale como
instrumento auxiliar de aplicação, muito útil sobretudo para concretizar conceitos
indeterminados como o da boa-fé. Esta tem sempre aplicação assegurada em todo o OJ.
Esta lei nada tem de excecional, antes correspondendo a uma concretização dos
princípios gerais. Assim, caso a caso haverá que ponderar se, por analogia, as regras da
LCCG são aplicáveis a negócios unilaterais. Ora, a analogia parece impor-se nos casos
em que os particulares adiram a negócios unilaterais e, nessa base, façam investimentos
de confiança, agindo em consequência (como precisamente sucede nos concursos
públicos). Mesmo para além desses casos, a pessoa que, com base em ccg, formule um
negócio unilateral deve sempre ser protegida.
Finalmente, chamamos à atenção para o facto de a LCCG não excluir, do seu âmbito, as
prestações principais, eventualmente em jogo, no contrato. O problema está no facto
de as diversas proibições nele contidas só se aplicarem a ccg que afastem preceitos
jurídicos ou que os complementem.
Consequentemente, ficaram fora do controlo o tipo, o objeto, o âmbito, a quantidade e
a qualidade de abstração principal, uma vez que nunca são determinadas por lei, mas,
apenas, pelas partes. A própria relação de equivalência fica fora do controlo: apenas um
mercado e as partes a podem definir. Tudo isso, porém, com uma série de delimitações.
Segundo a lei portuguesa, as prestações principais podem ser (normalmente sê-lo-ão)
ajustadas especificamente pelas partes, escapando depois ao controlo. Além disso e por
natureza, elas não defrontam normas ou princípios específicos não sendo, nessa
medida, contrárias ao sistema, expresso na boa-fé do art.º 15 LCCG, o qual é
concretizado no art.º 16 LCCG. Mas nem sempre: podem assumir posturas tais que
caiam na alçada da lei (e.g. vender pelo preço que o utilizador entender adequado
poderá ser contrário à boa-fé; a cláusula será nula, aplicando-se, então, a regra do art.º
883/1).
3. A inclusão; Comunicação e informações
O recurso a ccg não deve fazer esquecer que elas questionam, na prática, apenas a
liberdade de estipulação e não a liberdade de celebração (art.º 1/1 LCCG). Assim, elas
incluem-se nos diversos contratos que as utilizem (os contratos singulares) apenas na
conclusão destes, mediante a sua aceitação (art.º 4 LCCG). Este princípio, em si evidente,
deve ser reafirmado, uma vez que, da sua concretização, resultam aspetos importantes:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 109
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
o de que já não são efetivamente incluídas nos contratos as cláusulas sobre que não
tenha havido acordo de vontades.
As ccg inscrevem-se, pois, no NJ através dos mecanismos negociais típicos. Por isso, os
negócios originados podem ser valorados à luz das regras sobre a perfeição das
declarações negociais: há que lidar com figuras tais como o erro, a falta de consciência
da declaração ou a incapacidade acidental.
Perante a delicadeza do modo de formação do negócio com recurso a ccg, não basta a
mera aceitação, exigida pelo direito comum, sendo, ainda, necessária, uma série de
requisitos, sendo eles:
▪ uma efetiva comunicação (art.º 5 LCCG).
▪ uma efetiva informação (art.º 6 LCCG).
▪ existência de cláusulas prevalentes (art.º 7 LCCG).
Estamos perante verdadeiros encargos (dever de comportamento que, embora
funcione no interesse de outras pessoas, não pode, por estas, ser exigido o seu
cumprimento) que, por isso, assumem uma intensidade superior à dos meros requisitos
de validade dos negócios.
O ponto de partida para as construções jurisprudenciais dos regimes das ccg reside na
condenação de situações em que, ao aderente, nem haviam sido comunicadas as
cláusulas a que era suposto ele ter aderido. A exigência de comunicação vem
especificada no art.º 5 LCCG, a qual, segundo MC, deve ser feita a todos os interessados
diretos, devendo a comunicação ser adequada e atempada (art.º 5/2 LCCG), critérios
estes que devem ser aferidos segundo as circunstâncias.
Note-se que a remissão para tabuletas inexistentes ou afixadas em local invisível não
corresponde a uma comunicação completa; uma rápida passagem das cláusulas num
visor não equivale a comunicação adequada; a exibição de várias páginas de um
formulário, em letra pequena e num idioma estrangeiro, seguida da exigência de
assinatura de imediato, não integra uma comunicação atempada. Em compensação, a
assinatura de um clausulado bem impresso, perfeita e completamente legível, sendo
as letras de tamanho razoável, assim como o respetivo espaçamento, satisfaz a
exigência legal.
O grau de diligência postulado por parte do aderente (e que releva para efeitos de
avaliar o esforço posto na comunicação) é o comum (art.º 5/2, in fine LCCG): deve ser
calculado em abstrato, mas de acordo com as circunstâncias típicas de cada caso, tendo-
se em conta o nível cultural do aderente.
O art.º 5/3 LCCG dispõe sobre o melindroso ponto de ónus da prova: o utilizador celebre
contratos com base nas ccg, deve provar, para além da adesão em si, o efetivo
cumprimento do encargo de comunicar (art.º 342 CC). Trata-se de um simples encargo:
a sua inobservância, mesmo sem culpa, envolve as consequências legalmente previstas.
A jurisprudência já tem utilizado, e bem, segundo MC, nesta via para afastar certas
soluções concretamente inconvenientes ou injustas, sem passar pelos catálogos das
proibições.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 110
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A LCCG prevê um dever de informação: o utilizador das ccg deve conceder a informação
necessária ao aderido, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados (e mesmo os
que não solicitados), desde que razoáveis e de necessário conhecimento.
Tanto o disposto no art.º 5 LCCG como no art.º 6 LCCG correspondem a vetores
presentes no art.º 227/1, mas são estruturalmente diferentes: traduzem meros
encargos e não deveres em sentido técnico (situação analítica passiva de base que se
traduz na incidência de normas de conduta impositivas ou proibitivas). A sua
inobservância não exige esculpa, ao contrário dos deveres e tem, como consequência,
não a obrigação de indemnizar, mas, apenas, a não inclusão prevista no art.º 8 LCCG.
Esta não inclusão pode, ainda, ser dobrada por um dever de indemnizar, quando se
verifiquem os diferentes pressupostos do art.º 227/1.
A jurisprudência permite esclarecer o sentido dos art.º 5 e 6 LCCG, precisando o
funcionamento do ónus da prova neles previsto, assim:
▪ O aderente que se queira prevalecer desses dispositivos deve, desde logo, invocar
e provar que contratou por adesão, o que não sucede se tiver havido negociações.
▪ O aderente deve, ainda, explicitar de que cláusulas não tomou conhecimento, por
não lhe serem comunicadas, pelo menos devidamente.
▪ O teor da informação não deve ultrapassar o exigido pela boa fé: não deve ser
exacerbado, devendo ser cumprido com uma possibilidade razoável de, usando
de comum diligência, tomar real e efetivo conhecimento do teor das cláusulas, o
que não implica uma explicação detalhada de cada cláusula.
▪ A comunicação, por conta do utilizador, deve ser integral, de modo adequado
para que se perceba e com antecedência bastante.
▪ Não é suficiente que o aderente assine um formulário a dizer que tomou
conhecimento das cláusulas.
4. Cláusulas prevalecentes
As partes que subscrevam ccg podem, em simultâneo, acordar, lateralmente, outras
cláusulas específicas. Tal eventualidade nada tem de remoto, uma vez que a adesão se
faz em globo, muitas vezes sem atenção a cada uma das cláusulas incluídas no
formulário.
O disposto no art.º 7 LCCG determina uma prevalência das cláusulas específicas sobre
as gerais: a lei, consciente de que, perante tais cláusulas, a vontade das partes se
inclinou, com toda a probabilidade, para elas, sancionou o que seria já uma lição de
experiência.
A existência de cláusulas especificamente acordadas deve ser invocada e provada por
quem delas se queira prevalecer: uma decorrência das regras gerais sobre o ónus da
prova, tal como consagradas no art.º 342. Perante uma negociação individualizada de
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 111
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
certa cláusula, já não há ccg. A jurisprudência quando entende reunidos os componentes
pressupostos, já decidiu, em concretização do art.º 7 LCCG:
▪ A negociação prévia impede a adesão a ccg.
▪ As “condições especiais” ficam fora da LCCG.
5. Cláusulas excluídas; consequências
A presença, num contrato celebrado com recurso a ccg, de dispositivos que não tenham
sido devidamente comunicados ou informados, estes não correspondem ao consenso
real das partes. Deve-se, contudo, ter presente que, mesmo nessas situações de falha
de vontade, há, em termos formais, um assentimento.
Pelo direito comum, várias seriam as soluções encarar (elas iriam desde a mera
indemnização, havendo culpa, até a anulabilidade por erro, havendo conhecimento da
essencialidade do ponto a que respeite), contudo, segundo a LCCG, segue-se a solução
mais fácil: a da pura e simples exclusão dos contratos singulares atingidos (art.º 8/a) e
b) LCCG).
O art.º 8/c) e d) LCCG penaliza, por seu turno, as cláusulas surpresa e as que constem
de formulários, depois da assinatura dos contratantes: em ambos os casos verifica-se
um condicionalismo externo que coloca de novo, a ideia de inexistência de qualquer
consenso. As cláusulas surpresas são aferidas, pela lei portuguesa, em função de um de
3 vetores:
▪ contexto – a doutrina chama a atenção para o tipo de contrato em causa: este,
em conjunto com outras circunstâncias, dará a medida da inabitualidade.
▪ epígrafe e apresentação gráfica, ambas tendo a ver com elementos exteriores
da cláusula.
Todos esses elementos são funcionalmente precisados pelo final do art.º 8/c) LCCG, que
refere a bitola última da surpresa (“passem despercebidos a um contratante normal”)
devendo ser efetiva.
Note-se ainda que a inclusão de cláusulas depois da assinatura do aderente deixa a
suspeita de que não foram lidas ou de que, quanto a elas, não houve acordo, como tenta
transmitir o art.º 8/d) LCCG. A jurisprudência considera, para esta via, não incluídas as
cláusulas inseridas no verso, mas já não, necessariamente, as constantes de anexo para
o qual remetam o texto assinado. Incorre em venire contra factum proprium o aderente
que tenha tomado conhecimento das ccg e que, depois, havendo entendimento entre
as partes, vem invocar a sua surpresa no verso, para as invalidar. Por fim, evidencie-se
o facto de que a inclusão de cláusulas depois da assinatura do aderente é de
conhecimento oficioso (STJ 15-mar.-2015).
A inserção, no contrato singular, das cláusulas referenciadas no art.º 8 LCCG, põe o
problema da sua subsistência. O princípio básico (art.º 9 e 13 LCCG) é o do maior
aproveitamento possível dos contratos singulares, já que estes são, muitas vezes, de
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 112
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
grande relevo ou até vitais para os aderentes, os quais seriam mesmo prejudicados
quando o legislador, querendo pôr cobro a injustiças, viesse multiplicar as nulidades.
O art.º 9 LCCG determina que, quando se assiste à não inclusão de ccg nos contratos
singulares, por força do art.º 8 LCCG, estes se mantenham, em princípio. Nas áreas
desguarnecidas pela exclusão, haverá que recorrer, conforme os casos, às regras
supletivas aplicáveis e às regras de integração dos negócios jurídicos.
Caso estas soluções de recurso sejam insuficientes ou conduzam a resultados contrários
à boa-fé, a nulidade é inevitável (art.º 9/2 LCCG). Resultados contrários à boa-fé
ocorrem sempre que, na falta da cláusula excluída, o contrato fique de tal modo
desarticulado ou desequilibrado que perca o seu sentido útil, o que origina uma grave
perturbação no seu equilíbrio interno.
6. Interpretação e integração
O art.º 10 LCCG dispõe sobre a interpretação e integração das ccg, remetendo
implicitamente para os art.º 236 ss.. O preceito primeiramente referido preceito releva
a dois níveis:
i) impede as próprias ccg de engendrarem outras regras de interpretação.
ii) remete para uma interpretação que tenha em conta apenas o contrato
singular; perante isso, já se perguntou se há verdadeiras ccg.
Ambos os aspetos são importantes, contudo, permanece um perpétuo confronto entre
as tendências generalizadora e individualizadora da justiça:
▪ a tendência generalizadora exigiria que as ccg fossem interpretadas em si
mesmas, sobretudo quando surjam completas, de modo a obter soluções
idênticas para todos os contratos singulares que se venham a formar com base
nelas.
▪ já tendência individualizadora abriria as portas a uma interpretação singular de
cada contrato em si, resultando isto num aparente paradoxo, já que as mesmas
ccg poderiam propiciar, conforme os casos, soluções diferentes.
O art.º 10 LCCG aponta para a segunda solução. A prazo, isso deverá levar os
utilizadores de ccg, que estejam particularmente ciosos da normalização, a desenvolver,
ao pormenor, os seus formulários, de modo a prevenir brechas interpretativas.
Contudo, note-se que, havendo margens interpretativas, não se torna possível tirar,
das ccg, as vantagens generalizadoras que acarretam.
Este modo interpretativo é, todavia, contraditado por um certo apelo à objetivação da
interpretação. Então, afigura-se necessário distinguir, dentro das ccg, três situações
básicas:
▪ cláusulas de negócios correntes de execução instantânea.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 113
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ cláusulas de negócios duradouros, inseridos em áreas dominadas pela
normalização e onde, de todo, não seja possível reconstruir a vontade real das
partes e os termos concretos da negociação (e.g. banca e seguros).
▪ cláusulas de negócios duradouros, altamente personalizados (e.g. seguros
inabituais com grandes empresas, empréstimos a sindicatos e contratos com
derivados).
Nas duas primeiras hipóteses a interpretação tende a ser objetiva: não há elementos
que permitam a intervenção dos meandros do art.º 236. Já na terceira, esse preceito,
em conjunto com o art.º 237 e 239, impõe-se; assim, há que ver o sentido dado, à luz
do art.º 236, às ccg, levando a que o art.º 10 LCCG atinja a sua plenitude.
O art.º 11 LCCG precisa a temática das cláusulas ambíguas, remetendo para o
entendimento do aderente normal. Este preceito faz ainda correr, contra o utilizador,
os riscos particulares de uma ambiguidade insanável, regra esta que se veio a consolidar
na jurisprudência.
No domínio da interpretação, cumpre ainda relevar que os contratos singulares e as
próprias cláusulas devem ser interpretadas à luz da LCCG, visando-se evitar invalidades,
em face de uma interpretação normativa integrada.
Finalmente, o recurso à regra contra stipulatorum, embora útil e legítima, tende a ser
matizada. Assim, só haverá ambiguidades se as regras comuns dos art.º 236 ss. não
resolverem o problema, de modo que ela seja efetiva. Na presença de matéria clara,
não há que recorrer ao art.º 11 LCCG, contudo este preceito foi útil para decidir um caso
em que uma seguradora pretendia exonerar-se por o veículo furtado não ter um GPS,
com localizador, a funcionar, contudo, o contrato não era claro nem se exigência: in
dubio contra proferentem (na dúvida, contra a parte que criou o contrato) –
art.º 11/2 LCCG.
O Controlo Interno
1. Generalidades
A questão das ccg não é a da sua existência, já que, mais do que inevitáveis, elas são
necessárias. Tão-pouco será a sua inclusão nos negócios singulares: queira-se ou não, é
dispensável, quiçá inviável, um conhecimento integral do seu teor, tanto mais que nem
sempre há alternativa. A essência das ccg reside, assim, no desvalor intrínseco de
determinadas cláusulas. Mas, onde reside esse desvalor? Afinal, as cláusulas que vão ser
sindicadas ao Tribunal já passaram pelo teste da vontade juridificadora, o qual opera
como fundamento de validade negocial.
Antes do momento do controlo jurisdicional, as ccg visadas foram objeto de aceitação
(art.º 4 LCCG), foram devidamente comunicadas (art.º 5 LCCG) e informadas (art.º 6
LCCG), não foram excluídas por cláusulas prevalentes (art.º 7 LCCG), não são surpresa
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 114
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
(art.º 8/c) LCCG), não surgem depois da assinatura (art.º 8/d) LCCG) e estão
devidamente interpretadas (art.º 10 e 11 LCCG).
Ao aderir a ccg, o interessado faz uso da sua autonomia: é evidente que tal adesão lhe
traz, em regra, vantagens imediatas (e.g. baixos custos de transação, rapidez e imediato
desfrute de bens e serviços). A tutela da liberdade de decisão inclui a da confiança.
Verifica-se ainda que as ccg dão vida a tipos contratuais básicos, que não têm sede legal
(e.g. toda a vida bancária depende deles, outros tantos sucedendo com a distribuição
comercial: concessão e franquia). O seu controlo deve ser cuidadoso, sob pena de
distorções.
A doutrina sublinha, assim, que o utilizador defende, também, o interesse geral.
As ccg não podem, todavia, e a pretexto dos valores que comportem, furtar-se à
sindicância do sistema que as reconhece e legitima. Pela sua natureza privada, elas
escapam ao controlo público, legal e constitucional que recai sobre os diplomas do
Estado.
Os Tribunais, por seu turno, devem ter em conta a relação dialética que se estabelece
entre o direito cogente e a autonomia privada, procurando um balanceamento entre os
vetores em presença:
▪ Por um lado, a sindicância judicial das ccg visa a tutela do aderente, designada
pelo poder do utilizador das cláusulas, sobretudo quando monopolista;
▪ Por outro, ela protege a fiabilidade dos circuitos económicos, a
sustentabilidade da distribuição e do consumo e a idoneidade dos mercados.
Em suma: o controlo de conteúdo das ccg, confiado aos tribunais tem sempre presente
as duas vertentes da justiça: individualizadora e generalizadora, havendo, pois,
interesses válidos, ainda que contrapostos. Os valores básicos do ordenamento dão
sempre a bitola de qualquer decisão. E quando a lei o diga, operam, como pontos de
referência, as regras supletivas legais que as ccg tenham pretendido pôr de lado.
Note-se que não está, aqui, em causa nem um controlo de equidade, que obrigaria o juiz
a ponderar aspetos do caso concreto (como seria a real situação das partes), a não ser
que haja uma alteração das circunstâncias (art.º 437/1); nem um controlo deontológico
(de bons costumes), dependente de um juízo de valor sobre a postura comercial do
utilizador, já que esse é o papel dos bons costumes (art.º 280/1); nem um controlo
interpretativo ou integrativo, já que há regras para tal (art.º 237 e 239); nem um
controlo do exercício, já que cabe esta dimensão ao abuso de direito (art.º 334).
Assim, quando lida com conceitos indeterminados ou com institutos de grande porte,
a ciência do direito e os seus aplicadores devem agir com uma precisão extrema,
abdicando de quaisquer casuísmos.
2. A nulidade (sui generis)
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 115
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Facilitando a tarefa aferidora dos tribunais, a LCCG veio proibir determinadas cláusulas
(art.º 12 LCCG). Note-se que estas não são nulidades comuns, mas antes nulidades que
operam segundo o disposto na LCCG.
Desde logo, a proibição pode ser um de dois tipos:
▪ ou derivada da aplicação dos art.º 15 a 23 LCCG (preceitos esses que definem,
em abstrato, as cláusulas vedadas, diretamente e no concreto contrato singular
onde o problema se ponha)
▪ ou ocasionada pela prévia proibição judicial feita independentemente de
situações concretas, por via de uma ação inibitória, prevista no art.º 25 LCCG.
As ponderações são mais envolventes e cuidadosas, no primeiro caso, e mais expeditas
(embora nunca automáticas), no segundo.
À partida, cada um decide se lhe convém invocar determinada invalidade, com efeito, a
presença, num contrato singular, de ccg nulas por ser indiferente, para o aderente:
basta, por exemplo, que se trate de cláusulas previstas para eventualidades que de todo,
ele saiba não virem a ocorrer.
Em compensação, a invocação vitoriosa de invalidades obriga a uma recomposição do
contrato singular: operação sempre incerta e com custos de transação. Acresce que,
subjacente ao contrato singular, pode haver uma relação de confiança que o particular
tem interesse em manter, pelo que, pela natureza das coisas, tal relação será afetada
caso ocorram intervenções judiciais, no contrato.
Sucede, ainda, que a ccg não serão reconfirmadas pelo aderente, individualizadamente
e no âmbito de uma negociação livremente consentida. Assim, MC adota a posição de
que a teoria clássica das invalidades não foi pensada para situações deste tipo,
carecendo, pois, de adaptações.
O art.º 12 LCCG deve ser interpretado, segundo MC, com algum cuidado. Inicialmente,
o legislador pretendeu vincar bem as cláusulas proibidas, abrindo portas à ação
inibitória, contudo, cabe-nos hoje reconstruir o pensamento legislativo em termos
atualistas e de acordo com os elementos sistemático e teleológico da interpretação.
Refira-se que, segundo o art.º 12 LCCG, a nulidade visa as próprias cláusulas,
independentemente de qualquer inclusão num contrato singular. Feita a integração, a
questão é diversa: já não se trata de ccg, mas antes de uma cláusula contratual comum.
Ora esta fica na disponibilidade do aderente: se ele podia aceitar previamente a mesma
cláusula, com toda a validade, desde que não o fizesse por adesão, também poderá
consolidar, a posteriori.
Contudo, ressalvam-se os casos em que o legislador vai proibir ccg que já seriam nulas,
nos termos da lei: as exonerações antecipadas de responsabilidade (art.º 18 a) a d)
LCCG). Aí, há sempre nulidade.
A conclusão é simples: as ccg proibidas são nulas (art.º 12 LCCG). As cláusulas
contratuais singulares provenientes da subscrição são inválidas: mas uma invalidade
suis generis, diferente da anulabilidade. Resta fixar as especificidades dessa situação.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 116
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Em primeiro lugar, MC entende que é mera anulabilidade: cabe ao aderente, decidir se
quer ou não empregar a cláusula, já incerta, no contrato singular. Pelas razões expostas,
se podemo-la confirmar ex ante, acolhendo-a por negociação, igualmente poder-se-á
fazê-lo ex post. Aliás, o art.º 13/1 LCCG começa justamente por dispor que o aderente
não pode optar pela manutenção dos contratos singulares. Já o art.º 13/2 LCCG deve ser
interpretado restritivamente, de modo a não provocar a conversão obrigatória, como
única alternativa à nulidade total do negócio. E, ainda por esta mesma ordem de ideias,
não pode qualquer interessado invocar a invalidade, assim como não pode o tribunal,
pese embora pronúncia de jurisprudência comunitária em sentido contrário, declará-
la oficiosamente.
De seguida, temos o regime especial do art.º 13/2 LCCG: o aderente pode optar pela
manutenção do contrato, mas substituindo as ccg inválidas pelas normas supletivas
aplicáveis e, se necessário, com recurso às regras de integração. Temos 2 situações
possíveis:
▪ ou estamos em face de um contrato que integra um tipo ideal, cujas regras
supletivas viessem a ser afastadas pelas ccg: nessa ocasião tais regras retomam
aplicação.
▪ ou o contrato equivale a um maior tipo social, reconhecido pela prática, mas
ausente da lei: faltam regras legais, pelo que queda recorrer à integração da
lacuna negocial (art.º 239) para suprir o espaço em branco resultante da queda
da cláusula viciada.
Estamos perante um regime claramente diferente do da nulidade comum, justificando,
por isso, assim considerá-lo . E as especialidades mais se acentuam com o esquema da
redução, previsto no art.º 14 LCCG.
3. A redução; a “redução convalidante”
O art.º 14 LCCG visa complementar o quadro das consequências derivadas da nulidade
das ccg. Em suma, em determinadas circunstâncias, perante a invalidade ccg, pode a
parte aderente optar pela redução, i.e., pela vigência do contrato sem as cláusulas
viciadas; E a mesma redução opera caso a substituição das cláusulas vedadas por
regras legais supletivas ou pelo produto da integração negocial conduzam a um
desequilíbrio de prestações gravemente atentatório da boa fé.
Este regime da redução, previsto no art.º 292, exclui a mesma quando se mostra que
este negócio não teria sido concluído sem a parte viciada. Portanto, o utilizador de ccg,
confrontado com o art.º 14 LCCG, podem sempre provocar uma nulidade fatal
demonstrando que o negócio não seria concluído sem a parte viciada. Contudo, note-
se que para tal acontecer, há requisitos que têm de ser supridos, nomeadamente: que
o aderente, invocando a invalidade, opte por não apelar à aplicação de regras supletivas
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 117
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
ou à integração negocial ou que tais soluções provoquem um desequilíbrio gravemente
contrário à boa-fé.
No caso de o aderente invocar a nulidade proveniente do acolhimento de ccg e de não
ser, de todo, possível colmatar a lacuna daí derivada: nem pelas regras supletivas, nem
pelas regras da integração, nem pelo funcionamento da redução; o negócio cai in
totum – art.º 9/2 LCCG.
Hipótese distinta é a da chamada redução convalidante. Uma ccg pode ser proibida por
ser considerada excessiva.
A solução para tais ccg excessivas deve ser procurada nos art.º 13 e 14 LCCG. A cláusula
excessiva é nula, podendo, contudo, ser recuperada, pelas regras supletivas ou pela
integração negocial. admite, ainda, que, no limite, e na insuficiência desses meios, a
invocação da nulidade global ainda possa ser sindicada pelo abuso de direito. Mas já
não lhe parece viável atribuir, ao juiz, o papel de reescrever o programa contratual das
partes, estando as cláusulas subscritas em função de juízes de gestão e de oportunidade.
Não é esse o papel dos tribunais.
Assim tomada, segundo MC, a redução convalidante não é viável.
4. O sistema das proibições
Na proibição de certas ccg, a LCCG seguiu o sistema seguinte:
▪ começou por fixar o princípio geral da proibição de ccg contrárias à boa-fé
(art.º 15 LCCG).
▪ indicou vias de concretização da mesma boa-fé (art.º 16 LCCG).
▪ adotou um esquema diversificado de proibições concretas.
A lei distinguiu: o regime do art.º 17 LCCG, do apresentado no art.º 20 LCCG.
Esta distinção, segundo MC, por um lado, permite facultar uma proteção diferenciada,
com maior adaptação à sua natureza, mas, por outro, deixa claro que a lei portuguesa
dispensa uma proteção geral. No domínio da distribuição, as ccg são sobretudo
utilizadas por grandes empresas, nas suas relações com pequenos empresários, que
merecem uma certa proteção.
Temos, assim, um princípio comum, assente na boa-fé. Além disso, o dispositivo relativo
aos empresários funciona como um mínimo aplicável em todas as circunstâncias: assim,
tratando-se de relações com consumidores finais ou de situações não redutivas às
primeiras (e.g. relações entre meros particulares) haverá que aplicar várias outras
proibições.
O teor geral das proibições segue as linhas seguintes:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 118
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Nas relações entre empresários deixa-se, às partes, a maior autonomia, apenas
prevenindo, nesse domínio, que elas se exonerem da responsabilidade que,
porventura, lhes caiba.
▪ Nas relações com consumidores finais, houve que ir mais longe: para além da
intangibilidade da responsabilidade, foram assegurados outros dispositivos de
proteção.
A estruturação das ccg proibidas assenta numa contraposição entre cláusulas
absolutamente proibidas (as quais não podem, a qualquer título, ser incluídas em
contratos através do mecanismo de adesão – art.º 18 e 21 LCCG) e cláusulas
relativamente proibidas (as quais não podem ser incluídas em tais contratos desde que,
sobre elas, incida um juízo de valor suplementar que a tanto conduza; note-se que este
mesmo juízo deve ser formulado pela entidade aplicadora, no caso concreto, dentro do
espaço para todo indicado pelo preceito legal em causa – art.º 19 e 22 LCCG). A
diferenciação fica clara perante o conteúdo das normas em presença (e.g. no art.º 18/a)
LCCG, estabelece-se uma proibição a qual faz com que sempre que apareça uma ccg
com o teor neste al. estabelecido, esta será considerada proibida e, daí, nula; já no art.º
19/a) LCCG, a situação afigura-se diferente, já que sempre que apareça uma ccg com o
conteúdo na al. referida terá de ser feita uma avaliação em concreto da excessividade
de dado prazo, devendo esta ser afastada se se concluir pela sua dimensão negativa).
O legislador procurou depois, ir tão longe quanto possível na enumeração das diversas
cláusulas absolutas ou relativamente proibidas; assim, competirá, agora, a
jurisprudência encontrar um meio termo entre as vertentes generalizadora e
individualizadora da justiça.
5. A proibição de contrariedade à boa-fé
O núcleo da LCCG é constituído pelo princípio geral do seu art.º 15 LCCG, sendo que o
mesmo é concretizado pelas vias apresentadas no art.º 16 LCCG. Note-se que a remissão
para a boa-fé equivale a delegar, no juiz, o poder de, perante cada cláusula, concretizar
os valores gerais do sistema.
No campo contratual, torna-se inviável imaginar todas as ccg que possam surgir como
inaceitáveis, perante os valores básicos do Direito. Havia, por isso, que prever uma
referência geral, com vias de concretização, que não pusessem em risco a futura
evolução da matéria.
Verifica-se ainda que, mau grado a lista extensa de proibições concretas, a cláusula geral
da boa-fé tem a maior utilidade prática.
O art.º 16/ a) e b) LCCG configuram as duas grandes vias de concretização da boa-fé: a
tutela da confiança e a primazia da materialidade subjacente. Estes vetores não
excluem quaisquer outros, que possam ser reconduzidos aos valores fundamentais
comunicados pela boa-fé. Em jogo, temos sempre a procura de soluções justificadas e
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 119
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
controladas pelo direito e não algo que se aproxime do arbítrio ou da justiça do caso
concreto.
Como exemplos de cláusulas invalidadas por contrariedade à boa-fé (art.º 15 e 16 LCCG)
encontramos:
▪ A cláusula que caía sob o art.º 15 LCCG pode ser oficiosamente apreciada pelo
Tribunal, todavia, não se considerou como contrária à boa-fé a cláusula que, num
seguro, impõe uma desvalorização de 40% a um veículo pesado, ao fim de 10
meses.
▪ A cláusula que, num seguro de invalidez, requer um Estado de invalidez
permanente não inferior a 75%, e, cumulativamente, a impossibilidade de
subsistência sem o apoio permanente de uma terceira pessoa.
▪ A cláusula que determina um arredondamento, para cima, da taxa de juros
bancários.
▪ A cláusula que imponha um vencimento antecipado de várias obrigações, por
falha numa prestação.
▪ A violação da boa-fé prevista no art.º 15 dá azo a uma nulidade de
conhecimento oficioso, devendo, todavia, ser assegurado o contraditório.
6. Articulação de proibições
O sistema geral desenvolve-se, depois, em catálogos de proibições específicas, as quais
se combinam entre si formando as 4 hipóteses básicas contempladas na lei:
▪ cláusulas absolutamente proibidas entre empresários e equiparados (art.º 18
LCCG).
▪ cláusulas relativamente proibidas entre empresários e equiparados (art.º 19
LCCG).
▪ cláusulas absolutamente proibidas nas relações com consumidores finais
(art.º 21 LCCG).
▪ cláusulas relativamente proibidas nas relações com consumidores finais (art.º 22
LCCG).
As proibições fixadas para as relações entre empresários e equiparados aplicam-se,
também, nas relações com consumidores finais.
Proibições entre Empresários
Quanto às primeiras quatro alíneas (art.º 18/a), b), c) e d) LCCG), no seu conjunto, o
legislador pretendeu deixar, entre empresários, dominar uma autonomia privada
alargada, mas com a responsabilidade inerente aos danos causados.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 120
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Boa parte das regras agora firmadas transcende o domínio das ccg, aplicando-se a todos
os contratos, independentemente do seu modo de celebração (neste sentido, art.º 809
ss.).
De todo o modo, a jurisprudência não considerou contrárias a essas proibições as
cláusulas que presumam não haver culpa do banqueiro, quando se avariam uma
máquina ATM. Todavia, já são nulas as cláusulas que exonerem o banqueiro de
responsabilidades por uso abusivo subsequente a furto ou extravio: o dinheiro
depositado pertence ao banqueiro.
O art.º 18/e) LCCG visa evitar que se procure conseguir, por via interpretativa, aquilo
que as partes não podem diretamente alcançar. Note-se que a hermenêutica contratual
tem regras próprias, sendo que deixar estas regras interpretativas ao sabor das ccg era
permitir que ambas as partes manipulassem as decisões em jogo (esta regra tem a ver
com a interpretação de qualquer preceito, provenha ele, ou não, de adesão a cláusulas
predispostas).
O art.º 18/f), g) e i) LCCG têm a ver com os institutos da exceção do não cumprimento
do contrato (art.º 428 ss.), da resolução por incumprimento (art.º 432 ss.), do direito de
retenção (art.º 754 ss.) e das faculdades de compensação (art.º 847 ss.) e de
consignação em depósito (art.º 841 ss.), institutos estes que garantem ou reforçam o
cumprimento das obrigações, sendo que a sua manutenção impõe-se pela mesma
ordem de ideias que levou a vedar a eliminação da responsabilidade.
O art.º 18/j) LCCG visa evitar obrigações perpétuas ou obrigações cuja duração ficasse
apenas dependente de quem recorra às ccg. Só são viáveis obrigações perpétuas quando
a lei o permita ou imponha, de outro modo, as partes estariam a despojar-se da sua
liberdade.
O art.º 18/l) LCCG pretende, por fim, prevenir que, a coberto de esquemas de
transmissão do contrato, se venha a limitar, de facto, a responsabilidade. Bastaria, na
verdade, transferir a posição para uma entidade que não tenha adequada cobertura
patrimonial para, na prática, esvaziar o conteúdo de qualquer imputação de danos.
7. Proibições relativas
O art.º 19/a) e b) LCCG tem a ver com os prazos dos contratos, sendo que, no decurso
desses prazos, uma das partes fica submetida à vontade da outra. Em concreto, pode
compreender-se que assim deva ou possa ser. A justificação, contudo, desaparece
quando os prazos sejam demasiado alongados, sendo que o quantum admissível
depende, como é claro, de cada tipo negocial em jogo.
O art.º 19/c) LCCG proíbe cláusulas penais desproporcionadas aos danos a ressarcir. O
art.º 812 já permitia a sua redução segundo juízos de equidade, contudo, essa solução
não é imaginável perante o tráfico negocial de massas. Aí, a pura e simples nulidade das
cláusulas com o recurso subsequente às regras legais supletivas permite uma solução
direta, clara, fácil e justa, em cada situação.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 121
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A rapidez do tráfego de massa justifica que, por vezes, se dispensem formais declarações
de vontades, substituindo-as hoje por outros indícios. Os comportamentos
concludentes têm aqui particular relevo, mas a situação torna-se inadmissível quando
se recorra a factos insuficientes para alicerçar a autonomia privada. Caso a caso será
necessário indagar dessa suficiência: tal é o sentido do art.º 19/d) LCCG.
A garantia de qualidade da coisa cedida ou dos serviços prestados pode ser posta na
dependência do recurso a terceiros (pense-se, por exemplo, na garantia dos
automóveis, que exige a realização regular de operações de manutenção, feitas por
agentes autorizados ou representantes). No entanto, em certos casos, tal sujeição
apenas irá equivaler a um meio oblíquo de limitar a responsabilidade. Caso a caso, nos
termos do art.º 19/e) LCCG, haverá que o demonstrar.
O art.º 19/f) LCCG trata da denúncia, i.e., da faculdade de, unilateralmente e sem
necessidade de justificação, se por termo a uma situação duradoura. Essa faculdade,
quanto a outra parte tenha feito investimentos ainda não amortizados, pode colocá-la
nas mãos da primeira. Assim, quando seja injusta, é nula. A jurisprudência entende que
não é esse o caso perante cláusulas bancárias que permitam ao banqueiro, como
proprietário dos cartões de crédito, exigir a sua restituição, em caso de uso abusivo ou
indevido. Já no caso dos seguros, foi julgada nula a cláusula que permita a denúncia sem
um pré-aviso proporcionado.
O estabelecimento de um Tribunal competente que envolva graves inconvenientes para
uma das partes, em razão da distância ou da língua, por exemplo, deve ser justificado
por equivalentes interesses da outra parte. Quando tal não suceda, a competente
cláusula é nula, nos termos do art.º 19/g) LCCG. De acordo com interpretação
preconizada por MTS, tal cláusula é extensiva ao Tribunal Arbitral.
As limitações do art.º 19/h) e i) LCCG têm a ver com a concessão de poderes excessivos
e exorbitantes a uma das partes.
Em todos estes casos de proibição relativa, deve entender-se que, perante a sua
concretização, toda a cláusula em jogo é afetada. Não há, pois, qualquer hipótese de
se reduzir a cláusula aos máximos admitidos pela LCCG: isso iria dar lugar a enormes
dúvidas de aplicação, nunca se podendo conhecer, de antemão, o direito aplicável.
Quando cai a sua alçada de uma proibição, ainda que relativa, a cláusula é toda nula,
seguindo-se a aplicação do direito supletivo.
Proibições com Consumidores
1. Proibições absolutas
Nas relações com consumidores finais, aplicam-se as proibições entre empresários e,
ainda, as constantes dos art.º 21 e 22 LCCG.
As proibições absolutas inseridas no art.º 21/a) a d) visam assegurar que os bens ou
serviços pretendidos pelo consumidor final são, de facto, os que ele vai alcançar. Por
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 122
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
seu turno, o art.º 21/e) a h) LCCG pretende garantir a manutenção eficaz de uma tutela
adequada, prevenindo a possibilidade de recurso a vias oblíquas para defraudar a lei.
2. Proibições relativas
As proibições relativas estão dispostas no art.º 22 LCCG. Nas relações com consumidores
finais, não se trata, apenas, de negar a exclusão de responsabilidade: há que, pela
positiva, assegurar a própria obtenção do bem, já que a obtenção de uma indemnização
é, aqui, problemática. As diversas alíneas especificam pontos nos quais, segundo a
experiência, os consumidores mais facilmente podem ver em perigo a sua posição.
Assim, é nula a cláusula inserida em condições gerais bancárias e que permita ao
banqueiro, sem pré-aviso, cancelar um cartão de crédito (art.º 22/1, b)).
Também aqui têm aplicação as considerações acima feitas sobre a nulidade plena das
cláusulas que caiam sob a alçada de proibições relativas.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 123
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 124
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
CAPÍTULO V: NEGÓCIOS USURÁRIOS, DEFESA DO
CONSUMIDOR E NÃO-DISCRIMINAÇÃO
O Direito lusófono e a usura
1. O regime vigente; a natureza
O negócio usurário tem, hoje, um regime diverso do dos juros usurários: estes são
objetiva e matematicamente fixados, enquanto o primeiro lida com vários conceitos
indeterminados.
Art.º 282
Em relação ao usurário, a lei atual exige que ele explore determinada situação de
vulnerabilidade na vítima. Trata-se de uma fórmula que equivale, na prática, ao
aproveitamento consciente exigido pelo art.º 282. Mas não totalmente, já que a
exploração pode ser objetiva, não implicando o conhecimento da fraqueza da
contraparte.
Quanto à vítima, art.º 282. O elenco é suficientemente literário para inculcar uma
natureza não taxativa: qualquer fator, com um relevo para a ignorância ou para a
concreta falta de informação, pode consubstanciar este elemento. Podemos inserir aqui
uma figura que não tem entre nós consagração expressa: a dos negócios concluídos em
estado de necessidade. Verificando-se o perigo atual de um grave dano (art.º 339/1),
pode uma pessoa ser levada, para o evitar, a concluir um negócio excessivamente
oneroso. Nessa eventualidade, mesmo quando não haja intenção de explorar o
ocorrido, o art.º 282 tem aplicação.
Os elementos relativos ao negócio cifram se na promessa ou a concessão de benefícios
excessivos ou injustificados. Basta a constatação de uma não-equivalência apreciável
entre as prestações ou uma não-justificação para o benefício, sendo que, a lesão ultra
dimidium (portanto equivalente a mais de metade do valor em jogo) é sempre excessiva.
Uma lesão que se comporte dentro do equivalente a taxa mínima de juros nunca será
excessiva. Entre esses limites, o intérprete aplicador decidirá. Note-se que os
beneficiários, quando justificados, já não permitem o recurso ao instituto da usura.
As proposições do art.º 282 devem ser interpretadas e aplicadas em conjunto, dentro
da mecânica de um sistema móvel: quando a lesão seja muito grande, a exploração e a
fraqueza do prejudicado poderão estar menos caracterizadas, e quando a dependência
do prejudicado seja escandalosa, por exemplo, não será de exigir um tão grande
desequilíbrio.
Os negócios usurários correspondem a um instituto autónomo, intervindo o direito
perante o desequilíbrio não justificado das prestações. Assim, não há qualquer
fundamento para o reconduzir a outros institutos e, designadamente, aos bons
costumes (o vício da usura é intrínseco e não extrínseco por apresentar um desequilíbrio
injustificado das prestações, ao invés de uma contrariedade a um corpo exterior de
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 125
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
regras; além disso, as consequências são diversas: a lei prevê a anulabilidade e não há
nulidade, imposta pelo art.º 280/2) ou ao vício na formação da vontade (a tónica da
usura é objetiva, por se centrar no desequilíbrio ao invés de na vontade mal formada ou
mal exteriorizada; além disso, as consequências são também diversas, uma vez que se
admite a reductio ad aequitatem, desconhecida no erro).
Não quer isso dizer que o mesmo negócio não possa, simultaneamente, ser usurário,
atentar contra os bons costumes e assentar num vício na formação da vontade.
Quando isso suceda, que dará aos interessados escolher a via jurídica que mais lhes
convenha, ou invocar várias delas. A autonomia cultural e dogmática da usura não
deve perder-se, correspondendo valores próprios.
2. Aplicação
Apesar de todos os alargamentos que se têm tentado, a usura mantém uma frágil
capacidade de concretização. Pouco invocada pelos interessados, dadas as dificuldades
de prova que acarreta, a usura encontra escassa recetividade dos Tribunais.
Assim, havendo uma doação mista (i.e. uma venda por baixo preço, de modo a
beneficiar os compradores), o tribunal não viu usura, por não se caracterizar
suficientemente a fragilidade do vendedor e por, tendo os compradores assumido o
compromisso de cuidarem do comprador até ao fim dos seus dias, o benefício parecer
justificado. Outros casos que têm encontrado decisão no foro português: trabalhadores
são levados a renunciar a um suplemento de reforma: não a usura por não se ter
provado uma situação de necessidade ou de dependência, por parte deles; uma
empresa inclui, numa empreitada, uma cláusula de revisão de preços insuficiente: é
simples invocação de pressão por falta de dinheiro e a sua sobrevivência como empresa
é insuficiente para aplicar o art.º 282; o cliente de um banco, aconselhado por este a
fazer um certo negócio ruinoso, não tem proteção por via da usura por esta não proteger
os incautos e os imprevidentes.
O art.º 282 estabelece a solução da anulabilidade para um negócio usurário, solução
que, segundo MC, é uma má saída: o regime é pouco favorável obrigando o próprio
usado a invocar o vício, o que é sempre uma deminutio. Segundo este autor, o art.º 283
admita repescagem do negócio usurário através da reductio ad aequitatem Sendo que
a equidade exige simplesmente que o usurário entregue o benefício excessivo ou
injustificado, ao lesado. Finalmente, o art.º 284 altera o prazo de caducidade do direito
de anulação, o qual, apesar de genericamente ser fixado num ano, segundo o art.º 287,
perante a usura, e quando ela seja crime, o prazo não termina enquanto o crime não
prescrever.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 126
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Defesa do consumidor
1. Generalidades; a LDC; outros diplomas
A defesa do consumidor constitui um dever dos Estados modernos (art.º 60 CRP). Esta
defesa pode analisar se num princípio com diversas projeções: é um princípio
programático que o legislador ordinário deve ter presente, nos diversos quadrantes
normativos; é um vetor sistemático que permite agrupar e interpretar em conjunto
múltiplas normas que visem a tutela do consumidor; e é uma área formalmente limitada
da ordem jurídica, que assume a finalidade expressa da tutela do consumidor.
O art.º 60 CRP surge concretizado na Lei n.º 24/96, qual designaremos por LDC. Como
princípios gerais, a lei apresenta o dever de proteção do Estado (art.º 1 LDC) e define,
como consumidor, o disposto no art.º 2/1 LDC. Trata-se de uma noção indevidamente
estreita, uma vez que os consumidores devem ser protegidos perante entidades que
forneçam bens ou serviços sem caráter profissional ou sem visar a obtenção de
benefícios. De resto, logo o art.º 2/2 LDC inclui, no âmbito da proteção, as atuações
desenvolvidas pelo Estado, em diversas das suas configurações. Os direitos do
consumidor são enumerados no art.º 3 LDC e desenvolvidos nos artigos subsequentes.
Sem prejuízo do disposto no regime sobre ccg, quaisquer cláusulas que excluam ou
restrinjam os direitos atribuídos pela LDC são nulas (art.º 16 LDC). Caso o consumidor
opte pela manutenção do contrato (art.º 16/3 LDC), no silêncio da LDC, haverá que
aplicar, por analogia, dispositivo previsto no art.º 13 LCCG.
Instituições de tutela e promoção dos direitos do consumidor: art.º 17 a 22 LDC.
A defesa do consumidor impõe regras legais que atingem: a celebração dos contratos
(estando, pois, em jogo, deveres de informação e de lealdade e boa-fé – art.º 8/1, 2 e
3, e art.º 9/1 LDC); o conteúdo dos contratos (os bens e serviços devem ter
determinadas qualidades, não podendo ser perigosos e devendo apresentar certo
equilíbrio – art.º 4/1, art.º 5/1 e art.º 9/2 LDC); a responsabilidade civil, em termos
alargados.
Todo o esquema da formação dos contratos, prescrito no CC, é, assim, dobrado pelas
referidas regras, quando se trata de consumidores.
Para além das regras gerais contidas na LDC, há, ainda, que lidar com diversos diplomas,
os quais dispensam proteções setoriais, nomeadamente: o DL n.º 70/2007 (relativo a
práticas comerciais com redução de preços); o DL n.º 383/89 (relativo à
responsabilidade do produtor pela venda de coisas defeituosas); o DL n.º 166/2013 (o
qual proíbe as práticas individuais restritivas do comércio, sendo, especialmente
vedadas, as práticas comerciais discriminatórias, de tal modo que autonomia privada,
no âmbito comercial dirigido ao Público, fique, de facto, limitada); a L n.º 19/2012 (a
qual aprova um novo regime jurídico da concorrência); e a L n.º 23/96 (que cria
mecanismos de tutela do utente de serviços públicos: determinando que o prestador
deve agir de boa-fé, dando informações e respeitando a qualidade).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 127
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
2. Os contratos pré-formulados
os contratos pré formulados, também ditos contratos rígidos, resultam de clausulados
submetidos por uma das partes a outra, para que esta, querendo contratar, os subscreva
em bloco. No fundo, há como que uma supressão de, no plano dos factos, da liberdade
de estipulação, tal como vimos ocorrer no domínio das ccg. Assim, não há ccg, seja por
se introduzirem, no texto, modificações personalizadas, seja, mais simplesmente, por
não se demonstrar uma disponibilidade para celebrar, na sua base, uma pluralidade
de negócios.
Nestes contratos, jogam diversos valores que levaram à consagração de regimes
específicos, para as ccg, daí que MC defenda a possibilidade de aos contratos pré-
formulados e perante situações similares, se aplicar a LCCG.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 128
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
CAPÍTULO VI: CONTEÚDO DO NEGÓCIO
Secção I: O Conteúdo como Categoria
Quadros da eficácia negocial
3. Noção de conteúdo; conteúdo e objeto
O conteúdo do negócio corresponde à regulação por ele desencadeada: ao conjunto de
regras que, por ele ter sido celebrado, tenham aplicação, no espaço delimitado pelas
partes. O recurso à ideia de conteúdo visa proporcionar uma ponderação global da
regulação promovida pelo negócio.
Este recurso a uma ideia ampla de conteúdo tem algumas vantagens técnicas e
científicas. O negócio jurídico é algo mais rico do que a soma de todas as regras que o
componham. Além disso, a linguagem humana tem limites sublinhados. O conteúdo dos
negócios, podendo ser exteriorizado através de uma designação unitária, é mais
manuseável do que os diversos aspetos isolados que o componham.
Do conteúdo deve distinguir-se o objeto, este tem a ver não com a regulação em si, mas
com o quid sobre que irá recair a relação negocial propriamente dita. Por exemplo, num
contrato compra e venda, verifica-se que, as regras aplicáveis, por via dele, às partes,
constituem o seu conteúdo, assim, a transmissão da propriedade e as obrigações de
entrega da coisa e do preço (art.º 879), a coisa ou o direito transmitidos formam o
objeto.
Deve frisar-se que a doutrina troca, por vezes, o conteúdo pelo objeto, utilizando esta
última expressão de modo informe. O próprio código civil, no seu art.º 280, menciona o
objeto negocial com o fito de referenciar quer o conteúdo, quer o objeto, propriamente
dito. Trata-se, no entanto, de realidades patentemente distintas.
4. Composição do conteúdo
O conteúdo do negócio divide-se em elementos normativos e em elementos
voluntários.
Os elementos normativos correspondem às regras aplicáveis ex lege, isto é, àquelas que
o direito associe à celebração dos negócios, independentemente da sua expressa
vontade negocial nesse sentido. Estes podem ser de duas espécies:
▪ Elementos injuntivos, sempre que não fiquem na disponibilidade das partes
nem possam, por isso, ser por elas afastados;
▪ Elementos supletivos, caso a sua aplicação se destine a suprir o silêncio ou a
insuficiência do clausulado negocial.
Os elementos voluntários têm a ver com as regras aprontadas e fixadas pelas próprias
partes. Estes, por seu turno, podem subdividir-se em:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 129
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Elementos necessários, que correspondem a fatores que, embora na
disponibilidade das partes, tenham, por elas, de ser fixados, sob pena da
incompletude do negócio, por exemplo, o preço numa compra e venda;
▪ Elementos eventuais, eles integram elementos que as partes poderão incluir
no negócio se o entenderem, por exemplo, a condição.
O negócio jurídico é composto por cláusulas. Podemos distinguir entre cláusulas em
sentido formal e cláusulas em sentido material: as primeiras correspondem a
proposições apresentadas vocabularmente como autónomas, em regra numeradas,
pelas próprias partes; as segundas equivalem a conjunções normativas que não podem
ser divididas, sob pena de se perder o seu teor ontológico.
5. Tipo negocial e cláusulas típicas
O tipo negocial em sentido próprio ou estrito equivale ao conjunto dos seus elementos
normativos e voluntários necessários. Por outras palavras, não correspondem ao tipo
negocial: os elementos que, legitimamente, afastem os fatores normativos supletivos e
os elementos voluntários eventuais.
O tipo negocial apresenta, dentro do universo de negócio, uma unidade particularmente
vincada. Ele exprime, no mais alto grau, o equilíbrio que o direito positivo entendeu
promover como mais justo.
Num plano prático, o tipo negocial recorda que, na generalidade dos casos, as partes
não se afadigam a procurar regimes específicos para os seus interesses, limitam-se a
eleger um negócio e a completar os elementos voluntários necessários. As tarefas de
determinação das regras aplicáveis podem, assim, limitar-se à identificação do tipo
negocial eleito pelas partes
Num plano valorativo, o tipo negocial faculta a confluência das composições de
interesses mais ajustadas, no momento histórico considerado. Desse modo, ele constitui
uma lista valorativa por excelência, particularmente adaptada, por exemplo, à solução
das questões deixadas em aberto pela supressão de cláusulas contratuais gerais.
Do tipo negocial devem ser separadas as cláusulas típicas. Correspondem dispositivos
que o direito, por razões de tradição ou pela sua frequência na vida civil, trata
expressamente e que, assim, ficam à disposição das partes que, para eles, queiram
remeter. Não formam, porém, um todo coerente, antes se apresentando como
instrumentos, em si desconectados e que, quando eleitos, integram elementos
voluntários eventuais. Como exemplo de tipos negociais podem referir-se os contratos
civis inseridos nos art.º 874 ss.; as cláusulas típicas são, a título de exemplo, a condição
(art.º 270 ss.), o termo (art.º 278 e 279) ou o sinal (art.º 440 ss.).
Ao lado do tipo legal, temos ainda a considerar o tipo social. Particularmente no direito
comercial, deparamos com negócios não regulados na lei, mas que todos conhecemos
nos seus aspetos habituais. Têm regimes especializados, dados pelos usos, pelo costume
ou pelas cláusulas contratuais gerais. Sem prejuízo do controlo que deva ser feito
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 130
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
através da boa-fé (art.º 3/1) ou da LCCG, o tipo social apresenta também os aspetos
práticos e valorativos acima indicados.
Secção II: Os Requisitos do Negócio
1. Noção e enunciado
Num sistema dominado pela autonomia privada, boa parte do conteúdo dos negócios
jurídicos é determinada apenas pela negativa, isto é, mediante a aposição de limites.
Desses limites, os mais característicos são expressos através de requisitos, portanto de
qualidades que os negócios, para serem válidos, devam assumir nos seus conteúdos e
nos seus objetos.
A noção de “requisito” pode ser alargada e elementos exteriores ao negócio e à própria
vontade. Todavia restringiremos a nossa análise à linha traçada pelo art.º 280,
limitando-nos às qualidades exigidas para o conteúdo e para objeto de qualquer
negócio.
Foi na 2º revisão ministerial que Antunes Varela fundiu num único preceito cinco
requisitos, cominando, à cabeça, a nulidade dos negócios que os não respeitassem.
Estes cinco requisitos são: a possibilidade; a conformidade com a lei; a
determinabilidade; a conformidade com a ordem pública; e a conformidade com os bons
costumes.
A Possibilidade
1. Ideia geral e evolução histórica
O negócio jurídico deve postular atuações humanas exequíveis, isto é, possíveis, no
plano do conteúdo e no do objeto. O que não pode ser prestado, não pode ser devido,
no que se ergueria como uma verdade natural, uma imposição da natureza das coisas
ou um dado lógico-material. O ponto, por tão óbvio, dispensaria, mesmo, qualquer
consagração legal.
Todavia, a impossibilidade assume diversas formas: ela atinge um negócio ab initio ou
em momento superveniente; ela revela-se geral ou, apenas, perante uma concreta
parte; pode ser material ou jurídica; ocorre espontaneamente ou por via de alguma das
partes. Em suma, a aparente simplicidade de origem não dispensa um tratamento
jurídico-científico. Além disso, intervêm múltiplos acidentes histórico-culturais que, ao
longo da história, lhe dão uma feição multifacetada.
No direito romano, o bloqueio representado pela impossibilidade era reconhecido. Estes
textos foram retomados, ao longo da história, tendo merecido uma especial atenção dos
pandectistas. O requisito da possibilidade ficou assente, tendo sido acolhido por
Windscheid, cujas pandectae exerceram especial influência na preparação do BGB.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 131
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
2. A evolução lusófona
O código de Seabra, acolhendo a tradição do direito comum, veio a dispor sobre a
nulidade de negócio cujo objeto não fosse física e legalmente possível.
Guilherme Moreira falava mesmo em inexistência, reportado aos negócios jurídicos
cujo objeto, pela ordem natural das causas ou em virtude da ordem jurídica, não seja
possível.
Na preparação do código de 1966, a possibilidade veio a ser convocada por duas áreas.
Na parte geral por Antunes Varela que convolou os requisitos do negócio jurídico para
a causa da sua novidade. As obrigações referiam as situações de impossibilidade
superveniente, não imputável (artº 790 a 797) e imputável (art.º 801 a 803) ao devedor.
3. Aspetos dogmáticos
As regras que dão corpo ao requisito da possibilidade encontram-se dispersas no código
civil. O art.º 280/1 refere-as, em geral, a propósito do negócio jurídico. Trata-se, porém,
de um requisito que sofre múltiplos desvios: a lei associa, à inexequibilidade de certos
atos, consequências diversas.
É o que sucede quanto a negócios envolvendo coisas futuras (art.º 399) embora, em
rigor, tais negócios não tenham essas coisas por objeto mas, antes, as diligências
necessárias para que a coisa surja (art.º 880/1) ou a eventualidade de cessar a
impossibilidade (art.º 401/2).
A possibilidade é física ou jurídica, consoante o conteúdo ou o objeto contundam,
ontologicamente, com a natureza das coisas ou com o direito. No caso da possibilidade
física, cabe distinguir:
▪ A possibilidade de ser vedada pela falta de substrato: pense-se no negócio de
reparação de uma casa, quando esta arda totalmente ou na prestação de serviço
médico, a um paciente que faleça;
▪ A possibilidade de perder conteúdo por uma supressão do escopo: o
fornecimento de um vestido de noiva, quando a interessada já tenha casado.
A possibilidade é absoluta ou relativa, conforme atinja o objeto do negócio, seja quais
forem as pessoas envolvidas ou, pelo contrário, opere somente perante os sujeitos
concretamente considerados. Em rigor, apenas a absoluta é verdadeira impossibilidade,
o sujeito concretamente impedido de atuar certo negócio poderá, não obstante,
celebrá-lo, desde que se faça, depois, substituir na execução. Esta distinção explica a
possibilidade de negociar coisas futuras, na hipótese de estas existirem, mas fora da
esfera do disponente (art.º 211 e 401/2).
A possibilidade é temporária ou definitiva em função da sua extensão temporal e em
termos de previsibilidade: no primeiro caso, é previsível que ela cesse, ao contrário do
que sucede no segundo. Enquanto requisito negativo, releva a impossibilidade
definitiva; sendo ela meramente temporária, o negócio poderá ser viável, dentro das
regras das coisas futuras.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 132
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Distingue-se ainda a impossibilidade efetiva da impossibilidade meramente económica.
No primeiro caso, o objeto do negócio é ontologicamente inviável. No segundo, ele é
pensável, mas surge economicamente então pesado, que se torna injusto. Todavia, as
únicas entidades capazes de, em concreto, fixar bitolas de “justiça" ou de “equidade”
são as próprias partes.
Por fim, temos a impossibilidade inicial e a superveniente: a primeira opera logo no
momento da celebração, vindo a segunda a manifestar-se, apenas, mais tarde. As
consequências dogmáticas desta distinção são importantes. A impossibilidade inicial
conduz à aplicação do art.º 280/1, implica a nulidade do negócio. A impossibilidade
superveniente também atinge os requisitos do negócio, todavia, a consequência reside
na extinção da obrigação, quando a impossibilidade ocorra por causa não imputável ao
devedor (art.º 790/1), ou na sua extinção com aplicação das regras do incumprimento,
quando o próprio devedor ocasione a responsabilidade (art.º 801/1).
Uma modalidade introduzida por Paulo Cunha é a impossibilidade moral. Nesta o objeto
seria inviável por contrariar uma conjunção de normas ou de princípios jurídicos.
Pretende equacionar-se um negócio jurídico cujo objeto, em si possível, física e
juridicamente, exija a violação de regras. Assim, podemos admitir a “impossibilidade
moral” como modalidade de impossibilidade jurídica, quando estejam em causa valores
fundamentais do sistema jurídico, expressos pela ideia de “boa-fé”.
4. A delimitação; negócios absurdos
Um negócio jurídico pode envolver um edifícios jurídicos extenso. No que tenha de
obrigacional, há que lidar, ainda, com a complexidade própria da relação jurídica.
Este estado de coisas permite inferir que a impossibilidade pode não inviabilizar o
negócio jurídico atingido: basta que ela recaia sobre algum dos seus múltiplos elementos
e que o negócio possa sobreviver apoiado nos restantes.
No tocante à obrigação, fica hoje entendido que a impossibilidade, inicial ou
superveniente, da prestação inicial, não conduz à sua supressão. A obrigação mantém-
se, sem dever de prestar principal e apenas apoiada nos deveres acessórios,
eventualmente enriquecidos com deveres de indemnizar e com outras posições
normativas, destinadas a, à luz da boa-fé, confinar o problema criado.
A experiência anglo-saxónica e a evolução do atual direito alemão confirmam a
asserção, já antiga, de que não é lógico saber se o devedor fica adstrito uma prestação
impossível. A adstrição à prestação impossível pode ter um triplo sentido:
→ O de firmar os deveres acessórios que, em qualquer caso e, agora,
reforçadamente, devam ser observados;
→ O de sujeitar o devedor inadimplente, já que não pode fazer o impossível, às
consequências do incumprimento, ora tais consequências são determináveis em
função da ausência da prestação vedada;
→ O de obrigar o devedor a substituir a prestação em jogo, garantindo, de qualquer
modo, a satisfação do interesse do credor.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 133
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A exigência de possibilidade deve ser delimitada. Ela incide sobre cada parcela do
negócio, sem impedir uma revalorização do conjunto. Segundo MC, foi uma pena que,
nas revisões ministeriais, se tenham uniformizado, sob capa da nulidade, situações tão
diferentes. Todavia, é possível uma interpretação restritiva, exigida pelos atuais cânones
jurídico-civis. A possibilidade deve ser aferida analiticamente, ponderando cada
elemento do negócio.
A Determinabilidade
1. A ideia geral e evolução
Um Negócio jurídico traduz, antes de mais, um conteúdo comunicativo: queres as partes
quer terceiros tomam conhecimento do que ele signifique, de modo a poderem
comportar-se em consonância com o que dele resulte. Quando suceda que, do negócio,
não derive uma informação clara quanto ao seu conteúdo, ou quanto ao seu objeto,
estamos perante um negócio indeterminável.
A indeterminabilidade pode resultar de uma confusão vocabular ultrapassável ou de
uma remissão para realidades que, por si, não tenham um teor percetível.
Cumpre distinguir entre um negócio indeterminado e um negócio indeterminável. No
primeiro caso, o negócio não permite, de momento, apreender o seu objeto ou o seu
conteúdo, não obstante, quer as partes quer a lei podem comportar dispositivos que,
ulteriormente, facultem uma determinação, veja-se o art.º 400, quanto à determinação
da prestação e o art.º 883, quanto à determinação do preço. O negócio é
indeterminado, mas surge determinável. No segundo caso, o negócio é, de todo,
indeterminável.
O código de Seabra referia expressamente o requisito da possibilidade. A
determinabilidade era, deste modo, reconduzida à ideia de legalidade, como tal é
considerada por Manuel de Andrade.
2. Autonomia dogmática
A determinabilidade do conteúdo e a do objeto do negócio tendem a ser aproximadas
da possibilidade de ambas essas realidades. Com efeito, o negócio jurídico que, para as
partes, implique condutas indeterminadas e indetermináveis torna-se de execução
impossível. Todavia, a prática moderna permite detetar, na determinabilidade, um valor
autónomo, particularmente importante para a defesa das pessoas e, em especial, dos
consumidores.
A determinabilidade coloca um tema de consciência na conformação da vontade
negocial. Uma pessoa que se obrigue a um negócio de conteúdo indeterminável dá um
salto no escuro. Se o contrato se mantiver, para sempre, indeterminável, ninguém o
pode cumprir. Compreende-se, a essa luz, o cuidado revelado pelo art.º 280/1, que
procura proteger, em interpretação atualista, as partes contra tais imponderáveis.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 134
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O art.º 280/1 veda negócios cujo conteúdo ou cujo objeto não possam ser
determinados, no momento da sua conclusão, isto é, que tenham, nessa ocasião, um
conteúdo indeterminável. Podemos admitir negócios que, conquanto indeterminados,
comportem regras previsíveis que facultem uma ulterior determinação. Valem, como
exemplo, os art.º 400 e 883 do CC, sendo claro que tais preceitos preveem formas
equilibradas de determinação.
Fora desse condicionalismo, a indeterminabilidade na conclusão, representa um risco
inaceitável para as partes, designadamente para a mais fraca.
3. Aplicação: a tutela da parte fraca
A jurisprudência relativa à indeterminabilidade de certos negócios, designadamente de
tipo bancário e atinentes a concessão de garantias, é muito relevante. Ela exprime, de
resto, uma área original, particularmente bem-adaptada às realidades. Assim:
▪ É nula, por o seu objeto se indeterminável, a fiança em que os fiadores se
responsabilizam por todas e quaisquer responsabilidades a assumir por
sociedade comercial apoiante um banco, provenientes de toda e qualquer
operação em direito permitida, feita com aquela sociedade ou em que ela fosse,
por qualquer modo, responsável;
▪ Sempre que o objeto da obrigação seja assumido de modo vago e incapaz de
defini-la ou de concretizá-la, um negócio é nulo;
▪ É nula a fiança de responsabilidades futuras do devedor se estas não tiverem
determinadas ou fixado critério para a sua determinação;
▪ A garantia por fiança de relações resultantes de um programa negocial ou
relação complexa de negócios teria, inevitavelmente, um conteúdo
indeterminável porque, dada a amplitude das relações em causa, os fiadores
obrigar-se-iam, ilimitadamente, correndo um risco de difícil avaliação, ficando
inteiramente à mercê do Banco credor;
▪ É nula, por indeterminabilidade do seu objeto, a fiança de obrigações futuras,
quando o fiador se constitua garante de todas as responsabilidades provenientes
de qualquer operação em direito consentida, sem menção expressa da sua
origem ou natureza e independentemente da qualidade em que o afiançado
intervenha;
▪ É nula a locação financeira cujo valor residual seja indeterminável;
▪ É nulo o aval concebido na proporção da quota do avalista em certa sociedade,
sem que o seu montante possa resultar do título.
Finalmente, há que conjugar os art.º 280/1 e 400/2. Tomando à letra, este preceito
permitiria a determinação de quaisquer prestações inutilizando o primeiro. Desde logo
o art.º 400/2 só se aplica nas situações previstas nesse mesmo preceito: as de a
determinação da prestação ser confiada a uma das partes ou a um terceiro e não ocorrer
em tempo devido. De seguida, pressupõe-se um contrato sinalagmático, sob pena de
não haver base para qualquer equidade. Finalmente, o art.º 400 só intervém se o
negócio não for, logo ab initio, nulo por via do art.º 280/1. A exigência da
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 135
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
determinabilidade do conteúdo e do objeto é, hoje, uma exigência material da tutela da
parte mais fraca
A licitude e conformidade legal
1. O quadro geral; o fim prosseguindo
A autonomia privada, expressa nos diversos negócios jurídicos, não é ilimitada. O direito,
através de normas e de princípios, norteia as condutas humanas, de acordo com um
sistema que aspira a uma harmonia científica, segundo valores históricos e
culturalmente elaborados.
A licitude é o requisito os negócios jurídicos que consiste na ultrapassagem dos limites
injuntivos do ordenamento.
A licitude negócio pode ser usada numa acessão ampla e numa acessão restrita:
→ Em sentido amplo, um negócio é lícito quando surja perfeito, isto é, quando
integre todos os requisitos postos, pela lei, para a sua plena eficácia; nesta
acessão, a licitude absorve todos os demais requisitos;
→ Em sentido restrito, a licitude do negócio diz-nos que, dele, não resultam
condutas executivas contrárias a normas jurídicas imperativas.
No domínio da licitude restrita podemos distinguir:
▪ A ilicitude da conduta em si: o sujeito obriga-se a ultrapassar os limites legais da
velocidade;
▪ A ilicitude do resultado: o sujeito obriga-se a furtar uma quantia;
▪ A ilicitude dos meios: o sujeito obriga-se a assistir ao desafio desportivo, sem
pagar o ingresso;
▪ A ilicitude do fim: o sujeito adquire uma carabina para disparar sobre o vizinho;
▪ A ilicitude da relação meios/resultado ou meios/fim: o sujeito obriga-se a, por
meios em si lícitos, tem resultados em si lícitos ou para fins também lícitos, mas
estabelecendo, entre eles, uma relação inaceitável (ameaçar a noiva para que dê
consentimento).
Não obstante a globalidade, lidamos, no negócio, em regra, com duas partes: cada uma
delas com o seu substrato humano, as suas vivências e as suas aspirações.
2. O código civil; aplicação
O código civil contém as mais diversas normas imperativas. Embora a tónica geral,
particularmente no direito das obrigações, resida na supletividade, encontramos muitas
regras injuntivas. Caso a caso haverá que ponderar as consequências da sua
inobservância.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 136
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Na parte geral do código consagrou-se o princípio geral da ilicitude, como corolário da
existência de limites à autonomia privada. Ele apoia-se nos art.º 280/1 e 294,
funcionando perante normas imperativas, como evidência, ao ponto de, por vezes, nem
se referirem as ex prefeitos.
A presença de dois preceitos relativos à ilicitude dos negócios deve ser explicada. O art.º
280/1, como vimos, deriva do anteprojeto de Rui de Alarcão sobre o objeto do negócio,
saindo imergido da necessidade de, com base no código italiano, fixar, em geral, os
requisitos do negócio. Já o art.º 294 proveio do anteprojeto de Rui de Alarcão sobre a
invalidade dos negócios jurídicos.
Ou seja, enquanto o art.º 280/1 fixa a delimitação negativa do conteúdo do negócio, o
art.º 294 explicita o tipo de invalidade que cabe, perante o objeto contrário à lei
imperativa. E ambos os preceitos confluem indicando a nulidade.
3. O fim do negócio
A ilicitude de um negócio comporta elementos subjetivo. Uma mesma ação pode ser
lícita ou ilícita em função dos fins ou das intenções de quem a desencadeia, percetíveis
por diversos elementos circundantes. Tais elementos subjetivos podem emergir do
próprio negócio ou podem ser exteriores.
O anteprojeto de Rui de Alarção ocupou-se do problema, apenas, a propósito da
contrariedade à ordem pública e aos bons costumes.
A evolução das revisões ministeriais conduziu ao art.º 281.
No tocante ao fim do negócio, podemos distinguir:
▪ O fins expresso ou clausulado: o próprio negócio, no seu preâmbulo, quando
exista, ou nas regras que estabeleça, fixa um objeto para o acordado;
▪ O fins exterior implícito: as partes concluem o negócio com um objetivo que,
conquanto não expresso no negócio, resulta das circunstâncias, a pessoa que
adquire cartuchos numa zona de caça fá-lo, por certo, para efeitos venatórios;
▪ O fim interior explícito: a parte fecha um negócio com um objetivo em si
indecifrável, mas comunica-o à outra;
▪ O fim íntimo: cada parte terá intenções mais ou menos assumidas, quando
celebre um negócio, todavia, nada transparece.
Quando exige um fim comum a ambas as partes e tomando a letra o art.º 281 apenas
censura a comunhão de objetivos. E tal comunhão, a demonstrar pelo interessado,
poderia ser expressa, exterior implícita ou, até, interior explícita: decisivo seria o facto
de todos os contraentes prosseguirem o mesmo fim. Assim, no exemplo da compra e
venda de uma arma para cometer um crime, a ilicitude no negócio só ocorreria se ambas
as portas pretendessem a morte da vítima.
O direito, quando veio de negócios com fins ilícitos lato sensu, pretende agir no domínio
da prevenção geral e da prevenção especial, evidente que, no futuro, tais negócios se
repitam. E assim, não se exige que o fim último do negócio seja ativamente procurado
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 137
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
por ambas as partes, basta que se trate do fim de uma delas, expressa ou implicitamente
conhecido pela outra, na contratação. A pessoa que venda uma arma nada tem a ver
com o uso ulterior da mesma, mas deve recusar um negócio se souber que, com ela, o
adquirente pretende perpetrar um roubo.
4. A conformidade legal
A conformidade legal corresponde, na terminologia de Paulo Cunha, um requisito
residual destinada a facultar a sistematização dos fatores que a lei exija para a validade
de negócios específicos.
Por definição, apenas se poderá, neste domínio, dar exemplos: os direitos litigiosos não
podem sair cedidos às pessoas referidas no art.º 579; os pais e avós não podem vender
a filhos ou netos exceto nas condições referidas no art.º 877.
A conformidade acaba por estar presente, dado o teor geral do art.º 294: os negócios
jurídicos celebrados contra preceitos legais imperativos são nulos. Nunca é possível
conhecer de antemão todas as proibições que possam recair sobre um espaço negocial.
A fraude à lei
1. Origem
A propósito da ilicitude, coloca-se o problema do chamado negócio em fraude à lei.
Como sucede frequentemente no direito civil, a “fraude à lei” corresponde ao instituto
com dimensões culturais e científicas próprias.
No Direito Romano não havia, em geral, um conceito de fraude (fraus), mas este
conceito traduzia-se numa quebra do direito, particularmente uma quebra da lealdade.
Os atos em fraude à lei distinguir-se-iam dos atos contrários à lei.
A partir das fontes clássicas, a ideia de fraude à lei foi-se divulgando nos diversos setores
jurídicos, sempre com uma consequência prática: o ato em fraude à lei era, para todos
os efeitos, equiparado ao lado contrário à lei sendo, em geral, nulo.
A fraude a lei conheceu dois tipos de consagrações:
▪ As específicas, sempre que as próprias normas, prevendo determinadas
hipóteses de contornar as leis, as viessem proibir;
▪ As genéricas, caso resultassem do sentir geral da ordem jurídica.
Este último aspeto punha-se, sobretudo, no campo do direito civil e mais precisamente
no domínio do negócios jurídico
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 138
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
2. O direito lusófono
Realizada uma breve referência à evolução da ideia de “fraude à lei” e a sua aplicação
nos espaços jurídicos alemão e italiano, como sendo os que mais têm vindo a influenciar
o atual direito civil português.
Na doutrina, o problema da fraude à lei foi divulgado, no primeiro tempo, por Beleza
dos Santos. Este autor depois de expor com brevidade os termos e as evoluções do
problema, vem aderir à construção germânica da não-autonomia do instituto: tudo
residiria numa questão de interpretação dos factos legais em causa.
Manuel de Andrade voltou ao assunto com várias precisões, mas em termos bastante
próximos. Definindo os negócios em fraude à lei nos termos clássicos como aqueles que
procuram contornar ou circunvir uma proibição legal, tentando chegar ao mesmo
resultado por caminhos diversos dos quais a lei designadamente previu e proibiu. Este
autor expõe as teorias subjetiva e objetiva, acabando por aderir à segunda.
Esta posição surge na doutrina posterior ao código civil de 1966, ainda que com diversas
precisões, é possível citar Vaz Serra, Carvalho Fernandes e Meneses Cordeiro. No âmbito
da preparação do código civil, tal foi a opção feita pelos especialistas que intervieram
diretamente nesse ponto: Vaz Serra e Rui de Alarcão, e por isso mesmo, os autores
vieram a concluir que não era necessário inserir no código um preceito específico sobre
o tema. Acrescente-se, ainda, que esta orientação é acolhida na jurisprudência, como o
Supremo afirma “em suma e na realidade, o negócio em fraude à lei é sempre um
negócio contrário a ela”.
3. Posição adotada
Hoje, entendemos que a fraude à lei é uma forma de ilicitudes que envolve, por si, a
nulidade do negócio. A sua particularidade residirá no facto de as partes terem tentado,
através de artifícios mais ou menos assumidos, conferia ao negócio uma feição inócua.
A fraude a lei exige uma interpretação melhorada dos preceitos vigentes:
→ Se se proíbe o resultado, também se proíbe os meios indiretos para lá chegar;
→ Se se proíbe apenas um meio fica em aberto a possibilidade de percorrer outras
vias que a lei não vede.
Nalguns casos, todavia, a lei, depois de prescrever certo regime, proíbe expressamente
os negócios que possam contorná-lo, assim sucedia no direito do trabalho, com os
contratos a termo, no domínio do decreto-lei nº 781/76, hoje revogado. No art.º 3/2,
afirmava que a estipulação do prazo era nula se tivesse por fim aludir a disposições do
contrato sem prazo, todavia e pela forma indireta como mencionava a ilicitude, deu
sempre azo a dúvidas.
A fraude à lei poderia, noutro contexto, designar o abuso de direito. Esta figura não
pode, todavia, deixar de ser estudada enquanto tal: tem uma vincada identidade
dogmática.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 139
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A fraude à lei pode ser adotada enquanto manifestação particular da ilicitude,
caracterizada em três pontos:
→ Uma aparência inócua;
→ Uma intenção específica de prosseguir um objeto vedado por lei;
→ A efetiva consecução desse objetivo
O código civil consagra, expressamente, no art.º 21 a fraude à lei.
A fraude a lei fica, assim, disponível como mais um instrumento ao serviço da
concretização do direito. Deve, todavia, ser usada com parcimónia, para não pôr em
causa uma regra civil básica: é permitido quanto, por lei formal, não for proibido
Bons costumes
1. Generalidades
Segundo o art.º 280/2, é nulo o negócio contrário ou ofensivo dos bons costumes.
Surgem, na lei civil, diversas formulações deste tipo, como nos art.º 281 ou 334.
Os bons costumes e a ordem jurídica constituem noções distintas. Além disso, os bons
costumes permitem uma sindicância de todos os negócios jurídicos, isto é, ele não
faculta uma imediata apreensão quanto ao seu conteúdo normativo.
Em situações deste tipo, impõe-se um particular esforço de cautela e de precisão por
parte do interprete-aplicador.
2. O direito lusófono
No direito lusófono, a referência aos bons costumes, própria do direito comum, acusou
uma influência verbal napoleónica. O código de Seabra limitou-se, todavia, a exarar, no
seu art.º 671, que os atos contrários à moral pública, não podiam ser objeto de contrato.
O código civil aproxima, muitas vezes, “bons costumes”, “ordem pública” e “boa-fé”.
Trata-se, contudo, de conceitos bem distintos.
No tocante à boa-fé, a distinção está feita, os bons costumes não apelam aos valores
fundamentais do ordenamento, concretizados pelos princípios mediantes da tutela da
confiança e da primazia da materialidade subjacente. Antes têm a ver com as regras
circunscritas e acolhidas, do exterior, pelo sistema.
Se analisarmos os casos de concretização dos bons costumes que nos advém da
experiência alemã, deparamos com dois grandes grupos: hipóteses que se prendem com
princípios cogentes da ordem jurídica e hipóteses que já se ligaram à “moral social”. Os
primeiros encontram solução no sistema, têm a ver com a ordem pública. Repare-se que
o direito alemão não refere, expressamente, a ordem pública, fica na contingência de
tudo inserir nos bons costumes.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 140
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O direito civil reconhece regras a que empresta um conteúdo jurídico mas que, por
razões de circunspecta tradição, nunca refere de modo expresso. Estão nessas
condições as regras de comportamento sexual e familiar e que, no fundamental, não são
admissíveis negócios jurídicos que tenham por objeto prestações que envolvam relações
familiares ou condutas sexuais. De tudo o modo, tem havido modificações nesses
domínios, mercê da evolução cultural recente, sem que, por isso, deixe de haver regras.
Confrontado com esta evolução, o juiz deve aplicar as regras vigentes no momento da
execução do negócio.
Podemos ainda alargar os bons costumes e regras deontológicas, formuladas por
instâncias profissionais próprias: advogados, jornalistas ou médicos. Os bons costumes
envolvem as duas áreas referidas que a lei não explicita, mas que são de fácil
reconhecimento objetivo, em cada momento social. Consegue-se, por esta via, um
afinamento de conceitos bem consentâneos com a origem e a evolução do instituto.
O art.º 281 prevê a hipótese de apenas o fim do negócio ser contrário aos bons
costumes. Nessa eventualidade, um negócio só será nulo se o fim for comum a ambas
as partes. Esse dispositivo deve ser interpretado extensivamente quanto à ilicitude:
fiquei ferido o negócio quando uma das partes o celebre com um fim desse tipo e a
outra, conhecendo esse dado, dê, todavia, o seu assentimento.
3. A concretização
A concretização da cláusula dos bons costumes opera na base do art.º 280/2.
Nas decisões judiciais relativas aos bons costumes, podemos indicar três vertentes:
→ Os bons costumes referidos em conjunto com a boa-fé, a propósito do abuso de
direito e seguindo à letra o art.º 334;
→ Os bons costumes como tópico argumentativo, destinado a reforçar decisões
apoiadas noutros lugares normativos;
→ Os bons costumes propriamente ditos, ora na sua vertente de moral sexual e
familiar, ora na das suas regras deontológicas aplicáveis, ainda que, por vezes,
sem uma referência explícita, nesse campo.
Os bons costumes não têm, tecnicamente, a ver com o abuso de direito. Correspondem
a regras de conduta externa e não a limites intrínsecos dos direitos, impostos pelo
sistema.
Relativamente ao uso de técnico-científico dos bons costumes merece ser seguido e
apoiado. Apenas sublinhamos que a atual densificação jurídico-positiva do direito
lusófono atinge níveis que tornam menos premente o recurso a cláusulas gerais, como
a dos bons costumes.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 141
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A ordem pública
1. Aspetos gerais
A ordem pública, agora tomada como ordem pública interna, repetidamente referida,
no código civil, lado a lado com os bons costumes.
Como vimos, os bons costumes propriamente ditos obtém-se pela análise da moral
social e dos códigos deontológicos. Temos realidades a se, a captar pela observação e
pelo conhecimento direito. Embora tudo isso deva ser feito à luz do direito, não há,
propriamente, uma tarefa de interpretação e de construção jurídica. Já o setor dos
princípios gerais injuntivos é dominado pela ciência do direito. Reside aí, a ordem
pública (interna).
2. A ordem pública
Ao contrário dos bons costumes, a ordem pública constitui um fator sistemático de
restrição da autonomia privada. Podemos alcançá-la através de considerações muito
simples. A autonomia privada é limitada por normas jurídicas imperativas. Todavia, o
sistema não inclui apenas normas, a retirar das fontes, pela interpretação: ele abrange,
antes, também princípios, a constituir pela ciência jurídica.
Tais princípios correspondem a vetores não expressamente legislados, mas de
funcionamento importante. Eles podem ser injuntivos. Muitas vezes, eles prendem-se
com bens de personalidade: justamente uma área onde, mercê dos valores em
presença, a autonomia privada surge limitada. Nesse sentido, é paradigmática a
proibição do art.º 81 do código civil.
São, assim, contrários à ordem pública, contratos que exijam esforços desmesurados ao
devedor ou que restrinjam demasiado a sua liberdade pessoal ou económica. Também
são contrárias à ordem pública negócios que atinjam valores constitucionais
importantes ou dados estruturantes do sistema.
3. Aplicações
A prática jurisprudencial tem vindo a desenvolver-se. É curioso notar que a ordem
pública tem sido mais aplicada pelos tribunais portugueses do que os bons costumes.
Ela tem sido invocada para deter negócios contrários a regras imperativas, como os que
contrariem os salários mínimos. No mesmo vício incorrem os negócios que visem
defraudar procedimentos cautelares decididos pelo tribunal, que contrariem o regime
vinculístico do arrendamento ou que iludam direitos sucessórios.
Também é contrário à ordem pública a assunção de garantias in aeternum et emnibus e
portanto, sem limite de tempo e em dimensão indeterminada.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 142
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Secção III: A Condição e o Termo
1. Terminologia
A condição apresenta-se como cláusula negocial típica que vem subordinar a eficácia de
uma declaração de vontade a um evento futuro e incerto, sendo a sua noção
apresentada pelo art.º 270 (onde se distingue a condição suspensiva – quando o negócio
só produz efeitos após a eventual verificação da ocorrência – da condição resolutiva –
quando negócio deixa de produzir efeitos (caduca) após a eventual verificação da
ocorrência em causa). Note-se que, a condição opera, em princípio, de modo
automático.
A condição vem satisfazer necessidades práticas importantes: aquando da contratação,
as partes desconhecem, muitas das vezes, a evolução futura dos factos em que
assentem, por isso, tem o maior interesse a possibilidade de subordinar a própria
eficácia negocial a esse desenrolar de factos; além disso, a condição de surge em tipos
negociais complexos, seja de base legal, seja de base social. A condição também pode
ser usada como garantia em obrigações duradouras.
2. Modalidades
A condição potestativa levantou muitas dúvidas sendo, hoje, admitida tal condição,
apenas quando assente em dados objetivos. Fora disso, ela corresponderá a um puro
direito potestativo, reconhecido a uma das partes, de desencadear efeitos negociais ou
de revogar o negócio, não se tratando, pois, de uma condição proprio sensu. O CC,
todavia, reconduziu-a, ora à proposta (art.º 923), ora à resolução (art.º 924): não se
trata, pois, de uma condição.
Contrapõe-se as condições automáticas às condições exercitáveis, de acordo com a
necessidade, para a sua eficácia, de qualquer manifestação de vontade ou, pelo
contrário, com essa necessidade.
Note-se que a condição exercitável pode ser aproximada de um misto entre a condição
casual e a prestativa, uma vez que, para além do evento, requer uma vontade do agente.
Em regra, as condições são automáticas, mas quando apenas uma das partes tenha
conhecimento da sua verificação, deve prontamente comunicada à outra parte, por via
da boa-fé.
3. Condicionalidade
A regra geral, emergente do art.º 405/1, é a da livre aponibilidade de condições: quem
é livre de estipular, pode condicionar. Deduz-se, e, que os atos em sentido estrito não
são condicionáveis, ou já terão outra natureza. A lei, em várias definições específicas,
proíbe, em certos casos, a aposição de condições: assim sucede com a compensação
(art.º 848/2), com o casamento (art.º 1618/2), com a perfilhação (art.º 1852/1) ou com
a aceitação ou o repúdio da herança (art.º 1054/1 e 2064/1).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 143
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
As condições não podem, ainda, ser inseridas em negócios que o direito pretende
afirmes e como fórmula de os precarizar. Assim, o arrendamento que não poderia ser
condicionado resolutiva mente, sob pena de se frustrar o princípio vinculístico da
renovação automática, outro tanto sucedendo com o contrato de trabalho virgula dada,
desta feita, a proibição dos despedimentos. No caso do arrendamento, a solução correta
implicava a invalidade de todo o negócio; no contrato de trabalho, há que contar com
determinadas conversões legais.
4. Invalidades
Diferente da aponibilidade e a licitude da condição, desta feita, não há que atentar no
negócio acondicionar, mas no teor da própria condição. Esta virgula pode conduzir ou
implicar resultados proibidos pelo direito, sendo que tal pode suceder: por a própria
condição ser, em si, contrária à lei (e.g. dou se ele cometer um crime), por implicar uma
relação com um negócio que repugna ao direito (e.g. dou se ele castigar os filhos) ou
por esta conduzir a resultados indesejáveis o que o direito queria livres (e.g. dou se ele
romper o noivado).
Assim, o CC distingue, neste ponto, o tipo de regra atingida: art.º 227/1 e 2230/2.
Sempre que seja aposta uma condição num negócio em condicionável o que a condição
seja, em si, ilícita, um negócio e, anunciou todo, nulo, regra essa que se alarga às
condições impossíveis (art.º 271): vitiat et vitiatur. Todavia, esta regra tem exceções:
em certos casos, o direito, em vez de cominar a nulidade de todo o negócio, determina
a nulidade, apenas, da condição: vitiat sed non vitiat [assim sucede com os atos pessoais
e familiares no domínio do casamento (art.º 1618/2) e da perfilhação (art.º 1852/2),
dada a evidente necessidade ético-jurídica de preservar esses atos; note-se que esta
exceção vigora também no âmbito de atos gratuitos].
Assim, em todas as hipóteses de mera nulidade da condição, por expressa injunção legal,
há que ponderar se as partes terão mesmo querido o negócio sem a condição. Quando
for patente a negativa, o facto de a condição se ter como não escrita acarreta a nulidade
do conjunto. E há, para tanto, além da natureza das coisas, uma base legal: art.º 2230/1.
Ora, a declaração em contrário pode ser tácita, nos termos gerais, resultando da
declaração negocial, no seu conjunto.
O regime da condição
1. Princípios gerais
O regime da condição procura um equilíbrio: por um lado, ela deve ser respeitada,
envolvendo todo o negócio jurídico, pro outro, ela não pode paralisar o comércio
jurídico, na expectativa de que ocorra. A conjunção destas proposições opostas pode
ser concretizada com o auxílio:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 144
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ da autonomia privada: a condição é imposta pelas partes (inclusive, quando o
direito as não proíba, podem compor soluções diversas das legais).
▪ da boa-fé: nas suas vertentes da tutela de confiança e de primazia da
materialidade subjacente, a boa-fé deve ser acatada pelas partes, de modo a não
falsear o seu objetivo e a não se provocarem danos desnecessários.
▪ da distribuição de riscos: uma situação condicionada e, por definição, uma
situação instável, podendo as partes daí retirar danos: trata-se, porém, de um
risco que correm e que livremente assumiram, pelo que deve ser suportado, de
acordo com a ordem natural das coisas.
Desde o momento em que seja celebrado negócio condicionado e até altura em que se
verifica a condição ou haja a certeza de que ela se não poderá mais verificar, ela está
pendente. mote, contudo, que a pendência da condição gera uma situação particular de
conflito de direitos (aquilo que aliene um direito sob condição suspensiva mantém-se
seu titular, mas deixará de o circo uma verificação dela; Por seu turno, o que adquire um
direito sob condição resolutiva, passa a ser seu titular, mas deixará de o ser com a
verificação da mesma; em ambos os casos o titular é, de algum modo, precário, ora, se
lhe fosse permitido agir como titular pleno, ele poderia pôr em perigo o direito da outra
parte).
A pendência cessa pela verificação da condição, ou pela não verificação, consoante ela
se manifesta pela positiva ou pela negativa, tendo em conta o disposto no art.º 275/1.
Em princípio, a condição deve seguir o seu curso natural, devendo-se, pois, referir que:
art.º 275/2. a vírgula aqui, uma manifestação da regra mãe do tu quoque, baseada na
própria boa-fé.
Art.º 276
Segundo o art.º 274, são possíveis atos dispositivos de posições condicionadas sendo o
adquirente equiparado a possuidor de boa-fé. Além disso, o art.º 277 retira, dessa
retroatividade, os seguintes pontos: os contratos de execução continuada (art.º 277/1),
os atos de administração ordinária entretanto praticados (art.º 277/2) e a natureza de
boa-fé a posse do titular (art.º 277/3), o que lhe confere, por exemplo, o direito aos
frutos(art.º 1270).
Não a vírgula pois, retroatividade pura: digamos antes que todo o negócio fica infle
tido pela condição, independentemente da verificação desta.
2. Pendência e boa-fé
N do regime da condição importa agora considerar, com maior atenção, o problema da
sua pendência.
Art.º 275, preceito que tem sido entendido como uma concretização do art.º 272.
Deparamo-nos com uma manifestação de boa-fé objetiva, a qual exprime a necessidade
de, em cada SJ, se observarem os vetores fundamentais da OJ. Tal necessidade implica
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 145
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
a observância de dois grandes subprincípios, o da tutela da confiança e o da primazia da
materialidade subjacente.
Note-se que estes o princípios dão corpo à boa-fé aplicável na pendência da condição, e,
como, antes de mais, estão em causa deveres de conduta, segundo MC, é de acolher a
concretização da doutrina alemã que dita que estão em jogo deveres de lealdade,
prescritos por lei e concretizados pelo contrato.
A tutela da confiança implica que na pendência da condição, as partes possam agir
contra o que, pelas suas opções contratuais ou pela ordem natural das coisas, iria, em
princípio, suceder, em termos que provocaram a crença legítima da outra parte. A
primazia da materialidade subjacente obriga a que a condição não possa transformar-
se num jogo formal de proposições dos pontos ela deve exprimir, no seu funcionamento,
a vontade condicional das partes, i.e., a sua subordinação ao facto futuro e incerto que
escapa à vontade de qualquer delas.
É, assim, contrário à boa-fé, qualquer atuação das partes que incida sobre o iter
formativo da condição, desde que se venha a interferir na sua ocorrência, ou não
ocorrência, em termos que contrariem a confiança da outra parte o que se venha abolir
com a essência futura e incerta da verificação da condição, transformando-a, por
exemplo, num simples exercício potestativo da parte interventora.
Refira-se que os deveres oriundos da boa-fé, e que funcionam na pendência da
condição, são deveres acessórios, de tipo contratual, decorrendo do negócio mesmo
antes da verificação da condição.
No art.º 275/2, distingue-se a condição impedida por aquilo a quem prejudica da
condição provocada aquele a quem aproveita. Pretender que a verificação provocada
da condição não seja sancionável, por não lhe aproveitar, seria abrir a porta para que,
nos contratos bilaterais ou situações equiparáveis, as partes pudessem livremente
interferir na condição.
Ora, segundo MC, tal é inadmissível, pelo que cabe entender-se que qualquer das partes
que impeça uma condição deve considerar-se prejudicada Por Ela; De igual modo,
qualquer das partes que provoca uma condição deve considerar-se como aproveitando
dessa ocorrência. Todavia, estes pontos devem ser considerados caso a caso. Assim,
nunca nenhuma das partes pode, contra a boa-fé, impedir ou provocar condições.
3. A expetativa
Em sentido amplo, a expectativa corresponde a uma situação aprazível, na qual se
espera a constituição de um direito, ou se adere à manutenção de uma decorrência
favorável, de onde sobressai a expectativa jurídica: aquela que traduz uma posição
jurídica tutelada pelo direito, podendo, desse modo, ser tomada como direito subjetivo.
A expectativa jurídica surge como conceito capaz de enquadrar o beneficiário de uma
condição suspensiva, enquanto esta não ocorrer; E serviria, também, para exprimir o
sucessor do titular, perante uma condição resolutiva.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 146
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A expectativa tem sido particularmente versada para traduzir a posição do adquirente
com reserva de propriedade, i.e., não sendo ainda dono, ele tem, todavia, o maior
interesse em poder dispor da sua posição, ou em ver, sobre ela, constituir-se uma
garantia.
No caso do beneficiário da condição, para MC, é preferível falar em titular condicional,
explicando que se trata de uma verdadeira expectativa, embora com um regime próprio.
O termo
Termo – cláusula pela qual as parte subordinam a eficácia de um NJ à verificação de um
facto futuro efetivo.
Termo pode ser certo (no sentido de se saber, de antemão, quando irá ocorrer) ou
incerto (no sentido de se saber que irá ocorrer, embora seja desconhecido o momento
exato desta sua ocorrência).
1. Modalidades
O termo segue a elaboração da condição, sendo, no entanto, bastante mais simples. O
amparo doutrinário que o termo tem encontrado na condição resulta, aliás, dos próprios
códigos: o art.º 278 remete aspetos importantes do regime do termo para o da condição
(art.º 272 e 273) que terão, ainda, de ser alargados.
O termo é suscetível de várias classificações:
▪ inicial/suspensivo/dilatório – quando a eficácia negocial principie, apenas, após
a sua verificação (dies a quo ou ex quo).
▪ final/resolutivo/perentório – Sempre quis eficácia em questão termine com a
verificação do evento (dies ad quem).
Tradicionalmente, são feitas as seguintes contraposições:
▪ dies certus an certus quando – há um termo certo/fixo.
▪ dies certus an incertus quando – há um termo incerto/infixo.
▪ dies incertus an certus quando – sabe-se que, caso isso ocorra, será em tal data;
há, na realidade, uma condição.
▪ dies incertus an incertus quando –não se sabe se isso vai ocorrer, nem quando:
há condição.
Quanto ao modo de exprimir o termo, pode este ser expresso (quando resulte da
vontade assumida das partes) ou tácito (quando derive de circunstâncias que, com toda
a probabilidade, revelem ser essa a vontade das partes).
Diferente da anterior, apesar das confusões patentes de alguma doutrina, é a
classificação que atende a fonte, aí, o termo pode ser convencional, se estipulado pelas
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 147
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
partes, e legal, se imposto por lei. O chamado termo legal e, na realidade, um termo
próprio, uma vez que não deriva da vontade das partes.
O termo pode, ainda, ser essencial (sempre que o seu desrespeito envolva a
impossibilidade da prestação – e.g. servir a ceia de passagem de ano até ás 00h do dia
31 de dezembro) ou não essencial (quando tal desrespeito apenas implica uma mora do
devedor – e.g. o automóvel ficará reparado dentro de uma semana).
2. Regime
O termo, tal como a condição, depende da vontade das partes, daí que estas possam
recorrer a ele, a ponto em todos os negócios que a lei não declare inaprazáveis. Deve
frisar-se que o regime não coincide aqui, precisamente, com o das condições. Caso a
caso haverá, pois, que se verificar se a proibição legal Se estende a condição e ao termo
ou se abrange, apenas, a condição.
A aposição de termo quando a lei o proíba envolve a nulidade de todo o negócio
jurídico. Esta mesma regra é aplicável quando haja um termo impossível ou inviável,
a menos que, pela interpretação, se consiga apurar que houve um mero lapso material
ou que as partes tinham outra qualquer vontade em vista.
Desde o momento da estipulação e até a verificação do termo, este diz pendente,
havendo um conflito de direitos entre o atual detentor do direito e aquilo que o
receberá, quando ele ocorrer, durante esta pendência do termo. Os problemas
suscitados são muito semelhantes aos da condição, por isso se compreende a remissão
do art.º 278 para os art.º 272 e 273.
Note-se que, apesar de poder parecer que os art.º 274 a 277 não teriam aplicação ao
termo, não é assim que sucede. De facto, apesar do termo, pode a parte que abrirá mão
do direito, praticar atos dispositivos e de administração, havendo, então, que recorrer
aos art.º 274 e 277/2 e 3.
Também se pode verificar que um termo, apesar de certo por definição, se venha a
impossibilitar por modificação superveniente (e.g. paga quando o automóvel se
transformar em sucata; ora pode o automóvel parecer de tal modo que nem sucata
fique): é nestes casos que o art.º 275/1 ganha maior utilidade. O art.º 272/2 é também
aplicável ao termo.
A retroatividade do termo poderá ainda operar ou não, consoante a vontade das partes
e as circunstâncias (art.º 276 e 277/1).
Preconiza se, segundo MC, um entendimento lato da remissão feita no art.º 278: todo o
regime da condição é aplicável ao termo, cabendo depois, caso a caso e preceito a
preceito, ponderar até onde vai essa aplicabilidade. Se necessário, segundo MC e JAV,
podemos invocar a analogia.
Por vezes, inclusão, num negócio, de um prazo resolutivo pode bulir com valores sociais
e individuais, obrigando o legislador a intervir. É o que sucede no tocante ao contrato
de trabalho: este, quanto temporalmente limitado, fica preconizado.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 148
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O cômputo do termo provoca tradicionais dificuldades práticas, as quais são enfrentadas
no art.º 279. estas regras são auxiliares de interpretação. As partes podem, pois, ter
feito opções diferentes, as quais, a demonstrarem se, prevalecem. O dispositivo do CC
tem, ainda, aplicação nas mais diversas áreas jurídicas, tal como resulta do art.º 296 (só
assim não será quando existam regras especiais).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 149
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 150
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
CAPÍTULO IX: VÍCIOS DA VONTADE E A
DECLARAÇÃO
Quadro dos vícios
1. Generalidades; pré-codificação e Seabra
O negócio jurídico, como manifestação da livre escolha do próprio, emerge da
declaração de vontade. A autodeterminação, por seu turno, funda-se na liberdade e na
própria dignidade humana. Todavia, somente por abstração se poderia construir uma
linha perfeita que unisse a vontade, a declaração, o negócio e os seus efeitos.
A pré-codificação civil dá-nos, dos vícios da vontade e da declaração, uma imagem de
grande condensação.
O código de Seabra desenvolveu a doutrina da pré-codificação, no seu art.º 656. Deste
seguiam se várias modalidades de erro: sobre a causa, o objeto e a pessoa, em termos
depois desenvolvidos. O art.º 663 ocupava-se do erro que procede o dolo, cabendo ao
erro commum e geral e ao erro de cálculo aritmético, ou de escrita, os art.º 664 e 665.
2. Apresentação e princípios
O negócio jurídico vale, como referido e perante o direito, enquanto manifestação da
autonomia privada. Nessa medida, ele releva por corresponder a uma determinada
vontade, isto é, a uma decisão assumida na sequência de toda uma ponderação
imputável a um sujeito. A decisão terá, como se viu, de ser exteriorizada, para produzir
os seus efeitos. Estamos, todavia, em fase de uma obra humana. Vários vícios podem
interferir em todo esse processo, tais vícios incidem em dois planos:
→ Na própria vontade em si: o processo que leva à tomada de decisão do sujeito
autónomo é perturbado, há um vício na formação da vontade. Tal vício pode ir
desde a pura e simples falta de vontade até à ausência de liberdade ou à
liberdade que, por assentar em elementos inexatos, não seja verdadeiramente
autónoma;
→ Na declaração: a vontade em si, formou-se devidamente, no entanto, algo
interfere aquando da sua exteriorização, de tal modo que a declaração não
corresponda à vontade real do sujeito, existe divergência entre a vontade e a
declaração. Ainda aqui, a divergência pode assumir várias feições e,
designadamente, ser intencional ou não-intencional.
Na base destas considerações, pode estabelecer-se o seguinte quadro relativo a vícios
da vontade e da declaração:
→ Vícios (na formação) da vontade:
o Ausência de vontade:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 151
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Coação física (art.º 246);
▪ Falta de consciência da declaração (art.º 246);
▪ Incapacidade acidental (art.º 257).
o Vontade deficiente
▪ Por falta de liberdade (coação moral, art.º 258 ss.);
▪ Por falta de conhecimento (erro-vício, art.º 251 e 252; dolo, art.º
253 e 254);
▪ Por ambos (incapacidade acidental, art.º 257).
→ Divergência entre a vontade e a declaração
o Intencionais:
▪ Simulação (art.º 240 ss.);
▪ Reserva mental (art.º 244);
▪ Declarações não sérias (art.º 245).
o Não intencionais:
▪ Erro-obstáculo (art.º 247);
▪ Erro de cálculo ou de escrita (art.º 249);
▪ Erro na Transmissão (art.º 250).
As soluções que o direito faz corresponder a estes vícios são norteadas por dois
princípios fundamentais, várias vezes consubstanciados ao longo da presente exposição
relativa à parte geral: a autonomia privada e a tutela da confiança.
A autonomia privada exige que a vontade juridicamente relevante corresponda a
vontade real, livre e esclarecida do declarante.
A tutela de confiança requer a proteção da pessoa que tenha dado crédito à declaração
de outrem, mesmo quando esta não reúna todos os requisitos que um puro esquema
da autonomia privada exigiria.
3. Ordenação dogmática
O quadro geral apresentado, relativo aos vícios da vontade e da declaração, apesar de
explicativamente útil, não corresponde às necessidades de uma exposição dogmática do
direito civil lusófono.
Apesar dos compassos racionalistas sempre representados pelas codificações, podemos
considerar que, ao longo da história, a matéria dos vícios da vontade e da declaração se
foi desenvolvendo não numa panorâmica envolvente, mas em termos insulares.
Existem quatro grandes situações típicas:
→ A ausência de vontade: embora colocado em primeiro lugar, é uma fórmula
residual que agrupa a falta de consciência de declaração, a incapacidade
acidental e as declarações não sérias;
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 152
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
→ A coação: fracionada em coação física e coação moral;
→ O erro: malgrado as clivagens que, correntemente, lhe são assacadas, tem uma
evidente unidade histórica, derivada da exceptio doli;
→ A simulação: tem uma identidade clara e suscita uma dogmática bem
caracterizada.
Secção I: A ausência de vontade
A falta de consciência da declaração
1. Enquadramento e origem
No Domínio das ocorrências negociais onde falta vontade de algum dos declarantes, o
Código Vaz Serra refere, sucessivamente, a reserva mental (art.º 244), as declarações
não sérias (art.º 245) e a falta de consciência da declaração e a coação física (art.º 246).
Nos dois primeiros casos, ainda há declarações voluntárias, embora falte a vontade do
negócio.
Nos estudiosos do direito comum, já aflorava incidentalmente a ideia de que, nas opções
jurídicas, era necessário que o seu autor pretendesse, de facto, a declaração e os seus
efeitos. O próprio Savigny ocupa-se da declaração (involuntariamente) sem vontade,
aproximando-a do erro.
Isay faz, todavia, uma precisão de maior importância: a declaração é imputável ao
declarante que dela tem consciência ou que, dela, deva ter, consciência.
2. A evolução subsequente
Desde logo, seria possível, com Hans Brox, considerar conceptual a ideia de que,
faltando a consciência pressuposta pela vontade, já não haveria verdadeira declaração
de vontade. A distinção entre a voluntariedade do ato e a consciência do ato não deixa
de ser subtil, nas palavras de Bydlinski. Este mesmo autor sublinha que, perante o
regime do negócio jurídico, ou atribuir um papel à falta de consciência da declaração
equivale a um mínimo de consagração do dogma da vontade; haveria que desistir dela.
A doutrina manteve-se cética, quanto a uma autonomização da falta de consciência da
declaração: o regime do erro poderia enquadrá-la. Além disso, o desenvolvimento das
declarações eletrónicas, a operar com ela, poria em jogo a segurança.
Para além do mais, manteve-se viva a ideia de que existe uma diferenciação entre o erro
e a falta de consciência da declaração. Independentemente da dimensão teórica, pode
ser inviável imputar uma declaração de todo descabida, qualquer tutela da confiança
terá de seguir havia de uma indemnização por interesse negativo.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 153
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
3. O código Vaz Serra (246º)
A problemática geral subjacente ao tema da consciência da declaração foi divulgada por
Ferrer Correia. Este autor acaba por subscrever o que denominas a teoria da culpa: o
declarante “inconsciente” pode ser responsável pelo sentido da declaração quando,
pelas circunstâncias, se devia ter apercebido da dimensão jurídica da sua conduta.
Manuel de Andrade limita-se a considerar que o declarante nem chegou a ter
consciência de que o seu procedimento tinha o conteúdo de uma declaração negocial,
seria violento obrigá-lo a responder pelo sentido do objetivo dessa declaração.
O atual art.º 246 trata, em conjunto, da falta de consciência da declaração e da coação
física: em ambos os casos não haveria quaisquer efeitos, numa asserção que alguma
doutrina tem reconduzido à inexistência. Desde logo, Rui de Alarcão considerou
desnecessária qualquer referência à coação física. E esse mesmo autor propendeu para
a não consagração, na parte geral, da figura da inexistência. A falta de consciência da
declaração surgia a propósito do erro.
A locução a declaração não produz efeitos é deficiente: ela produz, sempre, alguns
efeitos, seja na esfera do declaratório, seja na do declarante seja, eventualmente, no
terceiro que haja com coação. Basta pensar nos deveres acessórios que sempre surgem
em face de qualquer proximidade negocial e no próprio dever de indenizar, que o
preceito refere. Além disso, ela aponta para a inexistência, figura que a doutrina jurídica
hoje rejeita, e mesmo a convolar-se para a nulidade, a melhor solução seria, sempre, a
da anulabilidade.
De seguida, a fórmula o declarante não tiver consciência de fazer uma declaração
negocial aponta para uma fórmula doutrinária que nenhuma legislação teve a coragem
de oficializar.
4. Previsão e regime
De iure condendo, O legislador de 1966 deveria ter resistido à tentação de fazer
doutrina, no próprio código civil. A temática da falta de consciência da declaração é um
instituto experimental, logo contingente e cuja colocação no código civil, provoca um
tsunami sistemático. As regras positivas devem ser conhecidas, ainda que, na sua
interpretação, se devam ter em conta as obrigações que suscitam.
Assim, o art.º 246, na parte em que refere a falta de consciência da declaração, entra
em colisão com as regras da interpretação e, particularmente, com o art.º 236. Vamos
supor que seja feita uma declaração negocial, tomada, como tal, pelo declaratário
normal, colocado na posição declaratário real. Vamos ainda supor que, dadas as
circunstâncias, o declarante possa, razoavelmente, contar que, à sua atuação, seja dado
o sentido de uma declaração e que o declaratário não conheça a vontade real do
declarante.
O art.º 246 entra ainda em colisão com o art.º 247. A vontade declarada sobrepõe-se à
vontade real, mesmo havendo erro, desde que o declaratário conhecesse ou não
devesse ignorar a essencialidade, para o declarante, do elemento sobre que incidiu o
erro. Quer isso dizer que o declarante pode ficar vinculado a um negócio que, de todo,
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 154
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
não queria, por não se verificarem os pressupostos de impugnabilidade do erro. Mas se
não quisesse qualquer negócio, ficaria desconjurado o perigo de vinculação: não pode
ser.
Fica-nos, deste modo, uma estreita janela interpretativa, já que, as boas regras de onde
os permitem considerar o art.º 246 como um nado-morto, por completa contrariedade
ao sistema. Segundo Paulo Mota Pinto, há que ponderar a presença de um
compromisso: a interpretação valoriza, essencialmente, a tutela da confiança; o art.º
246 exige, todavia, um mínimo de voluntariedade aferida à relevância jurídica da
conduta. Mas podemos ir mais longe, reconduzindo esse preceito tresmalhado ao
grande edifício lusófono do negócio jurídico.
Quando refere consciência de fazer uma declaração negocial, o artigo não tem em vista
uma consciência íntima, no sentido de uma ausência de vontade da qual, apenas
introspetivamente, o próprio declarante se pudesse aperceber. O direito não penetra
no íntimo de cada um: apenas versa a vida de relação. Desta consideração estrutural e
do conjunto do sistema, com relevo para os art.º 236 e 247, inferimos que a falta de
consciência da declaração relevante é aquela que seja percetível, na própria ambiência
negocial onde o tema se ponha.
Assim, se alguém outorga uma escritura notarial, devidamente lida e explicada, não
vemos como possa, depois, invocar a falta de consciência da declaração para retirar
qualquer efeito algo fez. E isso mesmo quando logre provar que, de todo, não tinha
consciência da declaração.
Aprofundemos, a interpretação restritiva do art.º 246, na parte em que se refere à
consciência da declaração.
O declarante que emita uma proposta ou outra declaração, em boa e devida forma, sem
ter consciência do que faça, incorre à partida, nos canais de eficácia jurídica. A
declaração vai-lhe ser imputada com um sentido que lhe daria ou declaratário normal,
apenas na conjetura do erro ele a poderia impugnar.
Só assim será quando a falta de consciência seja tudo o modo aparente que, perante o
declaratário normal, ela lhe possa ser imputada. Nessa altura o ato será nulo. Ainda
então, se a falta de consciência puder ser censurada ao declarante- portanto, se ele fez
a declaração violando deveres de lealdade ou de informação ou se se colocar
voluntariamente na situação de o fazer- ele fica obrigado a indemnizar o declaratário
(art.º 246). Necessário será que se mostrem reunidos os diversos pressupostos da
responsabilidade civil. Note-se que esse preceito não faz qualquer limitação ao interesse
negativo. Valem todos os danos provocados adequadamente, com o descuido
A incapacidade acidental
1. Enquadramento
O Direito civil considera a personalidade jurídica a qualidade do destinatário da norma
jurídica, ou seja, as suscetibilidade de ser titular de direitos e distrito de obrigações. Por
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 155
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
seu turno, a capacidade jurídica é a medida de direitos e deveres de que uma pessoa
possa, respetivamente, ser titular e destinatária.
Na capacidade subdistingue-se, por seu turno, entre a capacidade de gozo e capacidade
de exercício: a primeira traduz a medida de situações que o sujeito considerado possa
encabeçar e a segunda equivale às situações que o mesmo possa exercer pessoal e
livremente.
O ser humano tem capacidade jurídica e capacidade de gozo plena: surge como centro
de imputação de normas jurídicas e pode ser titular da generalidade das situações
jurídicas legitimáveis pelo direito. Já quanto à capacidade de exercício ela é plena para
os maiores (art.º 123), sendo reduzida para quem não tem 18 anos de idade (art.º 124),
sendo anuláveis os atos que pratiquem no campo da sua incapacidade (art.º 125).
O maior pode ser interdito o exercício dos seus direitos quando, por anomalia psíquica,
por surdez-mudez ou cegueira, se torne incapaz de governar suas pessoas e bens (art.º
138). Fica, então, equiparado o menor, no tocante à capacidade (art.º 139). Para casos
menos graves, a lei prevê a inabilitação (art.º 152), fixando determinadas incapacidades
de exercício, já que devem ser assistidos por um curador (art.º 153).
As pessoas coletivas têm personalidade jurídica e uma capacidade de gozo sujeita a
determinadas limitações. Quanto à capacidade de exercício, ela é plena, devendo ser
exercida pelos titulares dos órgãos competentes, no âmbito de um nexo de
organicidade.
2. Os pressupostos
Na sequência do desenvolvimento deste instituto, dispõe o art.º 257. Este preceito fixa
condições subjetivas e objetivas. Subjetivamente, ele aproveita a qualquer pessoa que
(nº1):
▪ Se encontrava acidentalmente incapacitada: acidentalmente contrapõe-se a
permanentemente, altura em que se aplica o regime da menoridade ou da
interdição/inabilitação,; aos atos do interdito anteriores à ação aplica-se
também o regime da incapacidade acidental (art.º 150);
▪ Por qualquer causa: a lei não distingue; podem se elencar factos patológicos
extrínsecos, como a embriaguez ou efeito substâncias psicotrópicas, factos
patológicos intrínsecos, como uma doença súbita dos fomos psicológico ou
psiquiátrico, um delírio febril, Um Estado de pânico ou um trauma, o
sonambulismo, entre outros;
▪ De entender o sentido da declaração: a causa acidentalmente incapacitante
atinge a capacidade intelectiva da pessoa; podemos distinguir a perceção, o
raciocínio e a comunicação;
▪ De exercer livremente a sua vontade: a causa afetou a autonomia do
declarante, impelindo-o seja de decidir mecanicamente, seja proceder de um
outro aleatório.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 156
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Evidentemente, este afã analítico retrata mal a realidade envolvida. Os elementos
subjetivos (a causa eficiente e as limitações ao discernimento e à liberdade) atuam num
conjunto inseparável. Na prática, o próprio pode ter dúvidas sobre se perdeu
discernimento ou em que segmento ou se viu limitado o grau de livre-arbítrio que se
impunha.
O art.º 257/1 fixa, ainda, o importante requisito objetivo de o facto ser notório ou
conhecido do declaratário. O nº2 explicita que o facto é notório quando uma pessoa de
normal diligência o teria podido notar.
Pela análise gramatical do preceito, o “facto”, ou seja, a pessoa que, qualquer causa, se
encontrava acidentalmente incapacitada de entender o sentido da declaração ou não
tinha o livre-arbítrio da sua vontade.
A circunstância de revelar o facto notório, como se tal se entendendo o que uma pessoa
de normal diligência teria podido notar (art.º 257/2) introduz uma dimensão valorativa,
no instituto da incapacidade acidental.
A pessoa de normal diligência- bonus pater familias- tem um encargo, quiçá o dever, de
não contratar com quem saiba ou deva saber não estar na posse de todas as suas
faculdades de entendimento e de livre decisão. Quando o faça, sujeita-se, desde logo, a
impugnabilidade do negócio. Mas além disso, pode incorrer em responsabilidade, por
violação dos deveres de lealdade e de segurança in contrahendo (art.º 227/1) ou, até,
por atentado a direitos de personalidade (art.º 483/1).
Esse dever de cuidado na contratação exprime-se numa ponderação do interlocutor e,
ainda, das circunstâncias que rodeiam a declaração. Quando é este seja feita num
banquete de casamento ou de batizado, numa taberna, ou numa discoteca, há que
redobrar as cautelas pois, provavelmente, haverá incapacidade acidental.
Finalmente, o jogo de pressupostos procura um equilíbrio entre a tutela do declarante
e da sua vontade e a do tráfego e da confiança. À partida, a incapacidade acidental, até
pelas suas conexões linguísticas com a doutrina Geral das incapacidades, visa proteger
o declarante incapaz. No entanto, essa proteção depende da própria incapacidade ser
conhecida pelo declaratário: ficam asseguradas a confiança desse e a segurança do
tráfego.
Como, todavia, o sistema lusófono é essencialmente objetivista, repousado no fator
“confiança do destinatário”, o art.º 257 tenderá a ser interpretado restritivamente, só
releva a incapacidade acidental clara e radical e que, pelo aparato, seja (ou deva) ser
conhecida pelo declaratário.
Pode-se questionar se este instituto é aplicável à pessoa que, propositadamente, se
coloque numa situação de incapacidade acidental. Por exemplo, depois de negociado
um contrato, o declarante apresenta-se no cartório notarial, em estado de patente
embriaguez. Segundo o art.º 257/1, este instituto funciona para qualquer causa. Não
obstante, as posições jurídicas que dele emerjam sujeitam-se, como todas as outras, à
sindicância do sistema. Assim, a pessoa que propositadamente se coloque em situação
de incapacidade acidental pode, quando pretenda anular o negócio celebrado, se este
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 157
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
detida por abuso de direito, designadamente nas modalidades de venire contra factum
proprium ou de tu quoque.
3. As figuras afins e o regime
Na determinação do regime de incapacidade ocidental, é particularmente útil a
distinção de figuras afins.
A incapacidades mental distingue-se das incapacidades legais, correspondentes a status
da pessoa singular: a menoridade, a interdição e a inabilitação. Estas últimas equivalem
a situações estáveis, que se prolongam no tempo e que são publicitadas através do
registo civil. Já a acidental ocorre pontualmente e, na falta de publicidade, deve ser
detetada e apreciada sumariamente pelo declaratário. Os atos praticados pelos
legalmente incapazes são anuláveis, mas no âmbito de uma invalidade que segue regras
especiais fixadas para menores (art.º 125 e 127), aplicáveis aos interditos (art.º 139) e
aos inabilitados (art.º 156), com as devidas adaptações.
Mas delicada é a delimitação da falta de consciência da declaração (art.º 246).
Conceptualmente, a separação é clara:
→ Na falta de consciência da declaração, o agente mantém o discernimento e a
liberdade; simplesmente, julga mover-se fora do palco do juridicamente
relevante;
→ Na incapacidade acidental, o agente, apesar de saber-se na área negocial, não
tem discernimento ou liberdade para concretizar a atividade.
Na prática, a sobreposição entre as duas figuras é fácil: basta que o acidentalmente
incapaz, além da falta de discernimento ou liberdade quanto ao que declare, também
não se aperceba de que profere uma declaração com conteúdo jurígena. Cabe-lhe,
então, acolher, das duas figuras, qual a que lhe convém invocar, ou alegar as duas,
conjunta ou supletivamente.
Também a declaração não séria (art.º 245) sobrevive no confronto com a incapacidade
acidental. Naquela, o declarante tem discernimento e liberdade, quando faz a
declaração. Esta, todavia, não é séria, havendo a expectativa de que essa falta de
seriedade seja percetível pelo declaratário.
O art.º 2199 comporta um regime especial de incapacidade acidental, no domínio do
testamento. Aí, como não existe a necessidade de proteger a confiança do declaratário,
já que o testamento é um negócio unilateral, desaparece o requisito do conhecimento
do facto da incapacidade ou da sua notoriedade.
A declaração feita sob incapacidade é anulável. Em temos práticos e mau grado o vício,
o declarante pode optar por conservar o negocio: basta que, passado o óbice, ele faça
um juízo favorável sobre o contratado ou que, não obstante o sucedido, o mesmo
declarante prefira honrar a sua palavra.
Curiosamente, o regime da incapacidade acidental, pode ser mais vantajoso para o
declarante do que o da falta de consciência da declaração ou o da declaração não séria.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 158
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Nestas duas situações, a declaração “não produz efeitos”, situação que convolamos para
a nulidade. O declarante, não as pode, pois, aproveitar, ainda que supervenientes, elas
se lhe venham a revelar favoráveis. Já na incapacidade acidental, a mera anulabilidade
confere, ao declarante, o direito potestativo de impugnar o negócio: direito que
exercerá, ou não, conforme o que melhor lhe convenha.
4. A aplicação prática
O art.º 257 e o instituto da incapacidade acidental, que lhe comporta, assumem, na
prática, o seu papel efetivo.
A jurisprudência tem entendido, em moldes estritos, o dispositivo da incapacidade
ocidental. Assim, a anulação por via do art.º 257, obedeceria a três requisitos:
→ Condições psíquicas de não entender e querer;
→ No momento da prática do ato;
→ Sendo isso facto notório ou do conhecimento do declaratório.
Explicou o Supremo que não era suficiente o enfraquecimento da vontade ou a
obnubilação ou continuação de faculdades do declaratório. Torna-se muito difícil
provar, a posteriori, a incapacidade e o seu conhecimento.
Existem diversos casos na jurisprudência, como o STJ 9—dez-2004, num caso de
interdição em curso, em que o art.º 257, era aplicável por via do art.º 150, entendeu-se
que a presença de dois médicos no alo de outorga de uma escritura pública, que
garantiram ao notário a sanidade mental do alienante, não fez garantir não ser notória
a insanidade então existente.
A incapacidade acidental corresponde, assim, a um tipo particular de falta de vontade
na declaração, desenvolvido à margem da teoria do negócio jurídico. Apenas por razões
contingentes ela surge no setor da declaração. Com requisitos estreitos de
funcionamento e um regime benevolente, a mera anulabilidade, ela opera, contudo,
como figura de retaguarda opta a enfrentar situações particulares.
Um campo de especial aplicação deste preceito será, hoje e infelizmente, o dos negócios
manifestamente celebrados sob influência de psicotrópicos ou de estupefacientes. Além
disso, o envelhecimento da população e o consequente aumento de patologias do
cérebro levam a que o direito civil lhe deva prestar a maior atenção.
As declarações não-sérias
1. Ideia geral e evolução
A declaração diz-se não séria quando o declarante, apesar de lhe dar uma conformação
jurídica, a faça não com o objetivo de concluir um negócio mas, simplesmente, de
efetuar uma tirada jocosa, jactante, publicitária, cénica ou ilustrativa. A intenção do
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 159
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
declarante pode ser boa, neutra, desagradável ou maléfica. O código civil ocupa-se desta
matéria no seu art.º 245.
O direito romano já conhecia a eventualidade de declarações não sérias, prevendo que
as mesmas não produzissem efeitos. O fragmento conhecido pressuponha que o
destinatário tivesse consciência da não seriedade.
Também no BGB houve uma disposição sobre a falta de seriedade. Este preceito exerceu
uma influência decisiva no código civil de 1966: de novo é doutrina alemã apresenta o
maior relevo, teórico e prático, no entendimento e na aplicação do direito lusófono.
2. A doutrina de Seabra e os preparatórios
O tema das declarações não sérias mereceu, no tempo do código de Seabra, a atenção
de Miguel Moreira. Este autor sublinha que, no negócio jurídico, está em causa a
autonomia da vontade mas, também, o interesse da coletividade.
Nos preparatórios, as declarações não sérias obtiveram, em conjunto com a reserva
mental, um pequeno estudo de Rui de Alarcão. O autor optou, todavia, pela não
produção de efeitos da declaração não séria, dobrada, todavia, por um dever de
indenizar, quando o declaratório não soubesse nem devesse saber da falta de seriedade.
3. O regime vigente
Tudo visto, consta, do código civil, um dispositivos expressamente dedicado às
declarações não sérias. Segundo o seu art.º 245/1.
Tudo reside na ideia de declaração não séria. Esta locução é, tal como no direito alemão,
muito estrita: ficam envolvidas todas as situações nas quais o declarante não tenho a
intenção de emprestar, à declaração feita, uma dimensão jurídico-negocial, esperando
que o “declaratário” disse se perceba. Passando a dissecar a ideia temos:
▪ Uma declaração linguística capaz de exprimir uma declaração negocial eficaz:
uma afirmação descabida ou disparada , em si ou pelo contexto, não tem
qualquer relevância capaz de avocar o art.º 245:
▪ Acompanhada pela falta de vontade (de consciência) de lhe emprestar uma
dimensão jurídica;
▪ Em termos que, de algum modo, se reflitam seja no seu teor, seja nas
circunstâncias que acompanhem o sucedido: uma falta de seriedade
puramente íntima, que não assuma uma dimensão de alteridade, não releva
para o direito;
▪ Na expectativa de que a falta de seriedade não seja desconhecida, isto é, de
que o destinatário se aperceba dela; esta “expectativa” deve alicerçar-se em
algo de substancial, seja objetivamente (todos percebem a falta de
seriedade) seja objetivamente (o concreto destinatário deveria aperceber-se
disso dado, por exemplo, o historial de brincadeiras entre ambos existente.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 160
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Na dúvida, haverá que interpretar a declaração não séria, à luz do art.º 236, para
verificar se a falta de seriedade é acessível ao horizonte do destinatário: normal, na
posição do real.
Não lográmos construir um especial dever, a cargo do destinatário, de indagar da
seriedade das declarações negociais que lhe sejam dirigidas: o direito é assunto sério,
todos têm a consciência de que os contratos devem ser cumpridos e de que as
declarações de vontade são para valer. Opera, apenas, o dever geral de prestar atenção
ao que se ouça e veja, quando se pretende concluir um negócio.
E se, mal grado a “expectativa” do declarante, a falta de seriedade não que for
cognoscível, nesse caso cairíamos na reserva mental (art.º 244/1). Uma declaração não
séria, feita de tal modo que a não-seriedade não seja percetível tem (objetivamente) o
instituto de enganar o declaratário. A “sanção” será, nessa altura, a validade da
declaração (art.º 244/2).
Como ponto de suplementar dificuldade, o art.º 245/2 consagra, aparentemente, uma
regra para a declaração não-séria que posso por verdadeira.
Tomando à letra esta previsão, a declaração não séria, justificadamente aceite como
boa, e a reserva mental ficariam indistinguíveis. O quadro, em nome de uma
interpretação sistemática, terá de ver o seguinte:
→ declaração patentemente não séria: aplica-se o art.º 245/1;
→ declaração patentemente não séria, mas que, por particulares condicionalismos,
enganou o declaratário, aplica-se o art.º 245/2;
→ declaração secretamente não séria: aplica-se o regime de reserva mental, sendo
o negócio válido e eficaz.
O regime português atinente a declarações não sérias e às figuras circundantes será, dos
mais completos e subtis. Assim, em STJ 9-nov-1999, entendeu-se que o contrato-
promessa assinado pelas partos sem qualquer vontade de celebrar negócio e sem visar
o engano de terceiros não produz quaisquer efeitos por ser não sério.
Queda, ainda, uma hipótese: a da declaração normal que, por força das circunstâncias,
seja entendida como não séria. A chave reside no art.º 236. Se a declaração for tomada,
pelo declaratário normal, na posição do real, como não séria, ela cai no art.º 245/1,
mesmo quando fosse seriíssima. Logo, a sua aceitação é irrelevante.
A reserva mental
1. Ideia geral e evolução
Diz-se haver reserva mental quando o declarante emita uma declaração contrária à sua
vontade real, com o intuito de enganar declaratário (art.º 244/1). Ou seja, o declarante
quer uma coisa e diz outra: não por engano, mas para fazer crer, ao declaratário, que a
sua vontade era diversa. Como bem se compreende, uma ocorrência deste tipo,
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 161
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
totalmente inescrutável, não pode ser relevante. Todavia, o tema mereceu diversas
reflexões.
Ao longo dos séculos, foram declarados nulos casamentos católicos por força da
reservatio mentalis dos nubentes ou de algum deles. O código do direito canónico de
1983 confere, no casamento, um relevo supremo ao internus animi consensus dos
esposos. Este presume-se em consonância com as palavras proferidas.
Savigny considerou irrelevante, perante uma declaração de vontade que, secretamente,
o declarante tenha uma vontade contrária. Todavia, o problema repõem-se a propósito
da própria conceção da declaração e do negócio: perante o dogma da vontade, como
admitir que uma pessoa ficasse ligada a uma declaração que, de todo, fosse contrária à
sua vontade real.
2. Os preparatórios e os seus antecedentes
O código de Seabra foi omisso, quanto à reserva mental. Guilherme Moreira,
conhecedor do debate pandectístico, faz-lhe uma pequena referência, em conjunto com
a declaração não séria. Outros autores seguiram essa linha, como Inocêncio Galvão
Telles e Emanuel Andrade.
3. Reserva mental (244º)
A reserva mental surge numa crescente caminhada para a eficácia jurídica, mas em
termos ainda marcados pela ausência de vontade.
A noção parece clara: há declaração com um mero intuito interior de enganar o
declaratário, não pretendendo o declarante aquilo que declara querer. Pode distinguir-
se a reserva absoluta da relativa, consoante o declarante não pretenda nenhum negócio
ou antes queira um negócio diferente do declarado. A reserva diz-se inocente ou
fraudulenta conforme não vise prejudicar ninguém ou, pelo contrário, assuma animus
nocendi.
A reserva mental sendo, como é, puramente interior não prejudica a validade da
declaração. Trata-se de uma evidência, como explica Manuel de Andrade. Este autor
põe todavia a hipótese de alguém concluir um negócio que não queira, mas pensando
ser o mesmo nulo por um vício que, na realidade, não se verifique. Nessa eventualidade
tem, todavia, aplicação o regime do erro: não o de reserva mental, os motivos
determinantes da vontade, relativos ao objeto (ou conteúdo) (art.º 251) assentaram
num error iuris. Haverá que aplicar o como tem de regime, sendo ainda certo que a
prova é difícil.
Em compensação, não há nenhuma evidência no final do art.º 244/2: manda aplicar o
regime da simulação quando declaratário conheça a reserva. De facto, a simulação
pressupõe um acordo entre o declarante e o declaratório e o intuito de enganar
terceiros (art.º 140/1). Ora, na reserva conhecida pelo declaratário, não há tal acordo
nem, logicamente, o que comum intuito de enganar terceiros. A remição do final do art.º
244/2 deve, pois, ser lida em termos cabais: há uma remissão para a simulação, e esta
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 162
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
só se aplicará se se encontrarem reunidos os diversos requisitos. Mas, à partida, reserva
mental conhecida por outra parte da azo a nulidade, passará a simulação se houver o
acordo simulatório e a intenção de enganar terceiros.
As pessoas sentem-se e ficam vinculadas às palavras e aos atos: não aos pensamentos,
ainda que porventura os conheçam ou pensei conhecer. A juridicidades está
suficientemente ancorada nos corações e nos espíritos da humanidade para ser da
maior evidência que vale a declaração feita, ainda que, no fundo, a vontade fosse outra.
O fundamento da irrelevância da reserva mental já foi visto na defesa da confiança: de
facto, desta pouco ficaria se qualquer declaração de vontade pudesse ser invalidada pela
vontade íntima do seu autor. Mas nem é preciso ir tão longe: está em jogo, desde logo,
a relevância negocial da declaração e da vontade. O declarante exterioriza o que quis
declarar: e aqui reside a sua liberdade e a sua autonomia. Essa orientação deve ser
sufragada.
Secção II: A ausência de liberdade
Coação
1. Generalidades e evolução
Examinadas as hipóteses radicais da ausência de vontade, cabe passar àquelas em que
esta surge deformada pela falta de vontade.
A tradição patente no código de Seabra usa o termo coação. Anteriormente, a figura é
tratada sobre o epiteto “violência”.
De todo o modo, a expressão portuguesa atual, é a mais correta: pode haver situações
de privação de liberdade contratual sem que se deva falar de violência, de ameaça, ou,
até, de medo. Em compensação, haverá sempre um agir acompanhado e, como tal, não
livre.
A sugestão, a pressão, a coação e a violência têm sido, desde o início, companheiras
indesejadas da humanidade. O direito existe, justamente para conseguir que as relações
humanas se racionalizem, evitando converter-se em meras relações de força.
2. A coação física; experiência lusófona
A Primeira e mais radical forma de atentado à liberdade negocial é a coação física.
Na coação física, alguém levado, pela força, a emitir uma declaração, sem ter qualquer
vontade de o fazer. Em rigor não há, na coação física, qualquer manifestação de
vontade, mas tão-só numa aparência. Sabe-se, porém, que o jogo inseparável dos
princípios da autonomia privada e da confiança não permite a sua erradicação do
universo negocial: a declaração sem vontade é, ainda uma declaração.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 163
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O art.º 246 do código civil autonomiza a figura da coação física, proclamando que a
declaração negocial por ela originada não produz quaisquer efeitos. Apesar liste aceno
à inexistência, desde já se adianta que a consequência da coação física é a nulidade: não
há qualquer inexistência como vício autónomo.
A distinção entre coação física e coação moral, faz-se através de meios: na coação física,
a força exercida sobre o declarante é material enquanto, na coação moral, ela seria
psicológica. Mas a fronteira não é satisfatória: a droga que enfraquece a vontade é
físico-psicológica, enquanto a agressão em curso tem, também, as duas dimensões.
Tentou-se, por isso, outra via: a distinção baseada no resultado. Aí, a coação física
existiria quando a pressão exercida sobre o declarante fosse tal que já não se pudesse
falar em vontade dele; pelo contrário, ela seria moral sempre que a pressão ainda
permitisse falar em vontade, ainda que deturpada pela ameaça. Mais satisfatória, esta
via é complicada na sua concretização; uma mesma pressão pode ocasionar a coação
física ou moral consoante a pessoa atingida ou, até, conforme o estado de espírito de
uma mesma pessoa.
A discussão tem relevância porque a pandectista tradicional, firme no dogma da
vontade, poderia descobrir, na coação física, uma falta de declaração, pelo que não
havia quaisquer efeitos e, na coação moral, uma verdadeira declaração, ainda que
deformada. Esta última conduziria à mera invalidade. Tal orientação passou à
generalidade dos códigos civis e à doutrina sobre eles tecida, com relevo para Guilherme
Moreira.
A contraposição faz parte da tradição jurídica lusófona do século XX. A regra deverá ser
a seguinte: qualquer situação de coação implica, à partida, o regime da coação moral.
Todavia, quando a situação seja de tal modo significativa que não possa falar-se de
voluntas, por o coagido não ter, em termos de normalidade, margem de escolha, caímos
na coação física.
Cumpre sublinhar que a técnica abstrata usada pelo legislador, para além de dúvidas
concretas, pode conduzir a soluções injustas ou inconvenientes. Havendo coação moral,
um negócio assim concluído é anulável, art.º 256, o coagido deverá invocar o vício mas
não, em princípio, qualquer terceiro, deste modo, supervenientemente, cessando a
coação e tornando-se o negócio favorável, o coagido pode escolher mantê-lo. Porém,
perante a coação física (art.º 246), o vício seria o de nulidade ou, quiçá, ou da
inexistência. O coagido, mesmo a querer conservar o negócio por, subsequentemente,
se ter tornado favorável, já não o poderia fazer.
In concreto, o regime da coação física pode ser mais gravoso, para o coagido, do que o
da coação moral. Como se vê, temos uma situação de difusão valorativa, que recomenda
as maiores cautelas aplicativas. No limite, a pessoa que exerça a coação física e venha,
depois, invocar a nulidade daí decorrente incorre em abuso do direito, na fórmula tu
quoque, pretende prevalecer-se do ilícito próprio.
Na jurisprudência não surgem situações de coação física. Todavia, no tocante à posse
violenta (art.º 1261/2) a lei remete para os conceitos de coação física e moral. E de facto,
na jurisprudência, a propósito da posse violenta, ocorrem situações de coação física.
Seja qual for o regime, deveremos sempre sublinhar que a violência, sob qualquer
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 164
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
forma, repugna profundamente ao direito civil e ao pensamento humanista que o
sustenta.
3. Coação moral; aspetos gerais
O repúdio pela violência e pelo medo é uma evidência para o direito civil, desde os
primórdios. Todavia, o problema dos negócios atingidos acusou, ao longo da história,
múltiplas flutuações.
4. Segue; o código Vaz Serra
O código civil exclui, no art.º 255/3, do campo da coação, o exercício normal do direito
e o simples temor referencial. Este é definido por Coelho da Rocha como o receio de
desgostar o pai, a mãe ou outros superiores a quem se deve respeito. Trata se de um
ponto cuidadosamente delimitado pelos canonistas, com vista a salvaguardar
determinados casamentos. Hoje, o temor referencial pode ocorrer, sobretudo, em
situações de trabalho.
A coação moral corresponde a sanção da anulabilidade (art.º 256). Assim se distingue
da coação física, que nos leva à nulidade (art.º 246).
Na jurisprudência, são escassas as hipóteses de coação moral: normalmente, ele surge
referida apenas para ser afastada ou, indiretamente, a propósito da posse violenta.
Os tribunais não viram coação moral, no caso do filho do sacador de um cheque faz uma
declaração confessória de uma dívida, por o tomador lhe dizer que, se não o fizesse, e
aí a recorrer à justiça.
Secção III: O erro
O erro na declaração
1. A essencialidade e o conhecimento (247º)
Este preceito reporta-se ao erro na declaração ou erro-obstáculo: a vontade de forma-
se corretamente, porém, aquando da exteriorização ou da comunicação, houve uma
falha, de tal modo que a declaração não retrata a vontade do declarante. A lei não
delimita os elementos sobre os quais recaía o erro na declaração, para este ser
relevante. Podem, pois, ser quaisquer uns, desde que essenciais para o declarante e
portanto:
▪ Elementos nucleares do contrato: o objeto, o conteúdo ou outros aspetos
principais;
▪ Elementos circundantes: características acessórias do objeto, cláusulas
acidentais ou fatores periféricos diversos;
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 165
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Fatores relativos às partes, incluindo a identidade, a qualidade, a função ou
as mais variadas características.
Para a relevância do erro na declaração, o código Vaz Serra apenas exige:
▪ A essencialidade, para o declarante, do elemento sobre que recaiu o erro;
▪ O conhecimento dessa essencialidade, pelo declaratário ou o dever de a
conhecer.
Diz-se que há essencialidade relativa a certos elementos quando, sem ele, o declarante
não tivesse emitido a declaração de vontade com o sentido que veio a ser exteriorizado.
A essencialidade permite excluir o erro indiferente e o erro incidental: no primeiro caso,
o declarante concluiria o negócio tal como resultou, no final; no segundo, conclui-lo-ia
igualmente, ainda que com algumas modificações. A bitola da essencialidade é
subjetiva: cada um determina livremente, os fatores que possam levar a contratar. Mas
não repugna admitir que, em cada caso e mercê da própria natureza do negócio em
jogo, certos elementos não possam deixar de ser considerados como essenciais. Assim
sucede que o preço, numa cessão de quotas ou com uma cláusula de exoneração de
responsabilidade.
O conhecimento da essencialidade do elemento, por parte do declaratário é, também,
um dado subjetivo: ou conhece ou não conhece. Em regra, o conhecimento derivará de
uma comunicação expressa, nesse sentido: todavia, ele poderá advir do conjunto das
circunstâncias que rodeiem o negócio ou, quiçá, da própria natureza deste.
Já dever de conhecer a essencialidade é objetivo: tem natureza normativa. Por princípio,
não há qualquer dever de indagar, na contratação, as razões que levam a outra parte a
fazê-lo. Apenas em casos muito delimitados e perante fatores circundantes, se poderá
dizer que o declaratário não deve ignorar a essencialidade de determinado elemento,
para o declarante. No fundo, resolver-se-ão questões de prova: declaratário não sabe
ou devia saber. Esta dimensão dá, à essencialidade, uma feição objetiva: no fundo, tudo
redunda em saber se, perante o horizonte declaratório, essencialidade era cognoscível.
Repare-se que este conhecimento, ou a sua exigência, constitui a válvula de segurança
do sistema: de outro modo, qualquer pessoa poderia ser confrontada com a supressão
de um negócio ao qual dera plena adesão.
A essencialidade e o conhecimento, ou as circunstâncias que originem o dever de
conhecer, devem ser invocadas e provadas pelo interessado em anular o negócio. Tal
sucede, aliás, com os diversos fatores que constituem este instituto.
2. Outros requisitos
Assim entendida, a essencialidade absorve outros eventuais requisitos. Em
compensação, a lei vigente não exige a desculpabilidade do erro. Todavia, parece claro
que, perante um erro indesculpável, será mais difícil exigir à contraparte o dever de
conhecer a essencialidade do elemento.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 166
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O erro na declaração exige uma efetiva declaração: não chega uma ambiência de ordem
geral. As regras a ele atinentes aplicam-se a negócios diversos, como às partilhas, ou à
assinatura de títulos de crédito.
A anulação do contrato, por erro na declaração, pode provocar danos ao declaratário.
Existe um dever elementar, imposto pela boa-fé e pela tutela da confiança, de
corresponder as declarações de vontade realizadas ao que, efetivamente, se pretenda.
Assim, o declarante poderá responder por culpa in contrahendo: verificados os
requisitos, ele deverá indenizar ou declaratório de todos os danos. Nenhuma razão
existe para limitar a indeminização ao interesse negativo.
Uma modalidade particular do erro na declaração é o dissenso. Este ocorre quando as
partes formulem declarações que não coincidem, convencidas de que concluíam o
contrato: A diz que vende um automóvel e B aceita que ele pinte o muro. Nessa
eventualidade, não há contrato. Qualquer das partes que se aperceba do qui pro quo
tem o dever de prevenir a outra que nada se concluiu.
3. Erro na transmissão da declaração (250º)
O art.º 251/1 autonomiza o erro na transmissão da declaração. Determina a aplicação
do regime do erro na própria declaração. Assim sucederá nos casos clássicos do
intermediário, ou núncio que não transmita fielmente a vontade do mandante. Outro
tanto pode suceder em casos e mandato com representação, quando o representante
se desvie das instruções recebidas. Caso, pois, o destinatário conheça a essencialidade,
para o mandante, do elemento deturpado na transmissão ou não deva ignorá-lo, o
negócio é anulável. Tudo se passa como se a declaração tivesse sido diretamente
transmitida. Tratando-se de atos bancários, há regras específicas que tutelam a
confiança nas comunicações.
O nº2 do art.º 250 ocupa-se do caso particular do dolo do intermediário, isto é: dos casos
em que este altere propositadamente a declaração. Aí, no conflito entre autonomia
privada e a de tutela de confiança, a lei entendeu dar primazia à primeira: a declaração
é sempre anulável. O dolo deve ser provado por quem o invoque, havendo, contra o
autor do feito e verificados os pressupostos legais, um direito à indemnização, a favor
de todos os lesados. Tal indemnização deve ressarcir todos os danos ocasionados: não
apenas, os que se prendam com o chamado interesse negativo.
4. Validação do negócio (248º)
Segundo o art.º 248, a anulabilidade fundada em erro na declaração não procede se o
declaratário aceitar o negócio como o declarante o queria.
Esta validação pressupõe, desde logo, que haja uma declaração. Verificada a aceitação,
prevalece a vontade real do declarante, numa figura que já foi juridicamente entendida
como uma manifestação prática do princípio da redução dos negócios (art.º 292).
Carvalho Fernandes atribuiu um direito específico, de natureza potestativa, ao
declaratário, que se distingue da falsa demonstratio non nocet e da redução/conversão:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 167
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
▪ Art.º 236/2: falsa demonstrativo non nocet: o declaratário conhece a vontade
real do declarante e concorda com ela, o contrato forma-se, imediatamente,
modelado segundo essa vontade;
▪ Art.º 292 e 293: consumada a anulação por erro, o negócio pode reduzir-se ou
converter-se, se a vontade hipotética das partes o facultar: temos um
(re)aproveitamento do negócio que é ulterior e não segue, particularmente,
nenhuma vontade real.
O art.º 248 tem um limite objetivo de funcionamento: a necessidade de respeitar as
regras formais. Não pode validar-se, no seu âmbito, um negócio tal que não veja
contemplados os competentes requisitos de forma, nas declarações efetivamente
feitas. Além dos princípios gerais sobre a forma, valem os art.º 238 e 293.
5. Erro do cálculo ou de escrita (249º)
Uma modalidade muito vincada de erro na declaração, que dispõe de regime próprio, é
a do erro de cálculo ou de escrita (art.º 249).
Trata-se de um preceito correspondente ao art.º 665 do Código de Seabra e que cobre
as hipóteses de laspsu calami ou de lapsus linguae. O erro é de tal modo ostensivo, que
resulta do próprio contexto do documento ou das circunstâncias da declaração. Em
rigor, nem há erro, uma vez que a declaração deve ser globalmente interpretada. Não
se verificando a imediata aparência do erro, haverá que aplicar o regime geral do art.º
247 ou qualquer outro, previsto por lei específica.
O maior campo de aplicação prática do art.º 249 reside, precisamente, nos atos de
processo não dotados normas específicas: aflora nesse preceito, uma regra geral
aplicável a todos os atos jurídicos.
O erro de escrita ou erro de cálculo já foi invocado, no tocante a guias de depósito de
rendas na caixa geral de depósitos. Campo atual é o do lapso na faturação de energia:
sendo manifesto, o competente erro não vincula o declarante. Por fim, documenta-se,
por erro de escrita devidamente provado, uma correção de um contrato de hipoteca,
em que houve a troca do prédio e ab initio de uma pólice seguro.
O erro da vontade
1. Erro relativo à pessoa ou ao objeto (251º)
Tendo regulado erro na declaração, o erro na Transmissão da declaração e o erro de
cálculo, o código civil passou ao verdadeiro erro: o que vicia a própria formação da
vontade. Fala-se, a propósito, em erro-vício ou simplesmente, erro da vontade.
Quanto ao erro na declaração, o legislador não formulou restrições de âmbito: apenas
releva a essencialidade, para o declaratário, do elemento atingido e o conhecimento (ou
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 168
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
dever de conhecer), pela contraparte, dessa mesma essencialidade. Já no erro da
vontade, o código retomou a tradição napoleónica de só admitir a relevância do erro
quando fossem atingidos determinados pontos especificamente enumerados. Utilizou,
no entanto, uma linguagem complexa.
No tocante à pessoa do declaratário, o erro pode reportar-se à sua identidade ou às suas
qualidades. Em qualquer dos casos, ele só será relevante quando colha um elemento
concretamente essencial, sendo essa essencialidade conhecida pelo declaratário, pela
aplicação do art.º 247. Bem se compreende: quem contrate com um oftalmologista para
trata dos dentes comete um erro seja quanto à identidade da pessoa, seja quanto às
duas qualidades.
O erro relativo ao objeto tem sido prudente e corretamente alargado pela doutrina e
pela jurisprudência. Não está em causa, apenas, a identidade do objeto, mas as suas
qualidades e, particularmente, o seu valor. Relevam, também, as qualidades jurídicas do
objeto. Além disso e numa interpretação correta e da maior importância, o “objeto”
abrange o conteúdo do negócio. Quando, porém, as qualidades de uma coisa constem
do próprio contrato e não se verifiquem, a hipótese já é de incumprimento e não de
erro, isso apesar das dificuldades causadas pelo art.º 913.
A jurisprudência tem oscilado quanto a saber se o erro pode abranger as representações
sobre a evolução futura do objeto. Em rigor, a inesperada evolução dos acontecimentos
dá azo à figura da alteração das circunstâncias. Esta, como veremos, evolui em algumas
áreas precisamente para a aplicação do regime do erro; o legislador de 1966, assente
numa doutrina antiga, isolou o erro sobre a “base do negócio”, mas para mandar aplicar
o regime de alteração das circunstâncias. Em rigor, o erro sobre o futuro do objeto
seguirá o regime do art.º 252. Assim, não será quando fiquem envolvidas as qualidades
(atuais) da coisa e, designadamente, o seu valor (atual). De todo o modo, o interessado
terá de provar que as evoluções desfavoráveis, capazes de, no presente, traduzir o erro,
têm a ver com o próprio objeto em jogo.
O erro na vontade, quando relativo à pessoa do declaratório ou ao objeto do negócio,
segue o regime do art.º 247. Damo por reproduzido o que não se disse quanto à
essencialidade do elemento soube que recaía e quanto ao conhecimento, ou dever de
conhecer, dessa essencialidades pelo destinatário. O verdadeiro conhecimento não se
consegue, na prática, demonstrar, a menos que conste do contrato. O “dever de
conhecer” introduz um fator de objetivação que dá consistência ao sistema, tutelando
a confiança: quem compra uma mercadoria pensando que é a mais barata do mercado
poderá fazer, disso, um fator essencial; mas das muitas motivações possíveis, nenhum
vendedor tem o dever de conhecer esse elemento: qualquer interessado compra por
precisar na altura, por lhe ter ocorrido, por ser mais prático ou por ser, em qualquer
caso, suficientemente barato para permitir a decisão de compra.
2. Erro de direito; atos stricto sensu
O erro da vontade de sua pessoa ou sobre o objeto pode advir da falsa representação
de regras jurídicas: a compra de um terreno por se pensei que é sempre permitido
construir ou a contratação de um solicitador por se julgar que os solicitadores podem
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 169
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
advogar-verificados os requisitos do art.º 247-anuláveis por erro, respetivamente, no
objeto e na pessoa: e no entanto, em ambos os casos há erros de direito. A anulação por
erro da vontade tem a ver com a má conformação desta; ele não dispensa ninguém de
observar a lei, a pretexto do seu desconhecimento. Não está, pois, em causa o art.º 6 do
código civil.
O regime do erro da vontade é aplicável, com adaptações, a atos não contratuais. O
declaratário figurado no art.º 247 terá, então, de ser substituído pela figura do
interveniente normal que entre em contato com a situação criada e que possa ser
prejudicado com a sua supressão ad nutum.
O art.º 295 deve estar sempre presente.
3. Erro sobre os motivos (252/1º)
Na gíria civil portuguesa, “erro sobre os motivos” reporta-se à figura prevista no art.º
252.
Na linguagem do código, o erro da vontade é apresentado como o que “atinja os motivos
determinantes da vontade” (art.º 251). Todo o erro-vício seria, assim um “erro sobre os
motivos”; quedaria, ao art.º 252/1, reportar-se ao erro sobre os motivos.
O erro sobre os motivos provém do erro de facto acerca da causa-portanto, do motivo-
previsto no código de Seabra. Procurando delimitar a matéria do erro da vontade
relevante, o legislador de 1966 entendeu ser restritivo: de outro modo, nenhum negócio
estaria livre de impugnações. Admitia- ainda que no condicionalismo do art.º 247- a
relevância do erro da vontade relativo à pessoa do contratante ou ao objeto do negócio,
o código decidiu excluir quaisquer outros erros, com as exceções do art.º 252. É isso o
sentido fundamental do preceito: circunscrever o erro da vontade e fixar, não obstante,
duas margens de relevo marginal.
As pessoas podem formular declarações pelos motivos mais variados e que nada
tenham a ver com o objeto do negócio ou com o declaratário. Nessa altura, o facto de o
destinatário conhecer a essencialidade do motivo não justifica a supressão do negócio:
não se tratando de um elemento Nuclear, ele não tem nada com isso. Assim, se uma
declarante experimenta e compra um vestido de noiva, é patente que o motivo da
compra é o próprio casamento; não pode invocar erro nesse ponto, para anular um
negócio. Com a ressalva de que ambas as partes tenham reconhecido, por acordo, a
essencialidade do motivo.
Havendo tal acordo, a autonomia das partes é soberana. Dispensando o regime do art.º
247.
O acordo exigido para a relevância dos motivos pode ser tácito. O supõe me fala num
“recíproco reconhecimento”: ambas as partes associam a sua vontade à e sensibilidade
do motivo, identificando-o minimamente na sua configuração e no seu papel.
Assim, o artº 251/1, tem sido aplicado em circunstâncias deste tipo: uma cessão de
exploração de um café que, ao contrário do exarado no preâmbulo do contrato, não
tinha alvará bastante. Outras hipóteses, como a de obras relativas à instalação de uma
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 170
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
padaria-pastelaria para a qual, depois, não se obteve o necessário licenciamento, são
reconduzidas ao erro sobre a base do negócio: não houve acordo sobre a essencialidade
do motivo.
Havendo um acordo sobre a essencialidade dos motivos, pode perguntar-se senão
estaríamos perante uma condição resolutiva, mas não estamos, visto que, uma condição
resolutiva implica uma vontade condicional- por exemplo, vendo, mas a venda
desaparece se não houver casamento. A relevância por acordo, dos motivos traduz uma
vontade pura, apenas negociar muito justificada- Por exemplo, vendo sabendo que tu
só compras porque vais casar.
Os regimes são diferentes: a condição opera automaticamente, enquanto a
anulabilidade para eventual erro sobre os motivos têm de ser potestativamente
exercida; a supressão da condição exige mútuo acordo, enquanto a mera anulabilidade
pode ser confirmada, segundo o art.º 288; na dependência da condição o adquirente
tem de conformar-se com uma atuação circunspecta (art.º 272 a 274), enquanto o mero
conhecimento da relevância do motivo deixa o adquirente livre para agir como
entender.
4. Erro sobre base do negócio (252/2º)
O art.º 252/2 prevê o erro sobre a base do negócio. O código civil português é o único a
fazê-lo, de modo expresso.
Uma vez celebrado, o contrato deve ser cumprido. Trata-se de um dado
existencialmente irresistível, sob pena de pôr em causa a própria contratação e, mais
latamente, qualquer sociedade organizada. Todavia, pode suceder que um contrato,
uma vez celebrado, venha a cair nas malhas de alterações circunstanciais de tal modo
que ganhe um sentido e uma dimensão totalmente fora do encarregado pelas partes,
aquando da sua conclusão. A situação será, então, tanto mais injusta quanto maior for
o prejuízo que, por essa via, uma das partes possa sofrer, em benefício da outra. Em
situações-limite, ninguém tem algo dúvidas sobre a necessidade de intervir. A formas de
suprimir o risco e bloquear qualquer sociedade aberta, assente, para mais, na iniciativa
privada e na livre concorrência.
No direito civil atual, a locação “alteração das circunstâncias” exprime o instituto jurídico
destinado a solucionar o problema acima retratado e, ainda, o próprio problema em si.
Sob o pano de fundo apontado, compreende-se que a alteração das circunstâncias não
tenha ainda encontrado soluções definitivas; provavelmente, ela constituirá uma das
áreas mais complexas e inseguras do direito civil.
O desenvolvimento da alteração das circunstâncias ocorreu, sobretudo, na Alemanha e
ao longo o séc. XX. Em determinada altura, a doutrina explicou que diversos problemas
reconduzidos à alteração das circunstâncias podiam, na realidade, encontrar solução à
luz de outros institutos mais precisos. Designadamente:
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 171
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
→ A interpretação complementadora: a alteração das circunstâncias origina um
problema que o contrato não abordou, mas deveria ter abordado;
consequentemente, haveria que integrar a lacuna assim revelada;
→ A teoria do risco: os eventos nefastos que ocorram distribuem-se, juridicamente,
de acordo com as regras ajustadas e equitativas; há que determiná-las;
→ A teoria da confiança: os contratos pressupõem a adesão das partes a certos
esquemas legítimos; exige-lhes condutas, para além deles, e atentar contra a
confiança e a boa-fé;
→ O regime do erro: contratar sem ter em conta a ocorrência de superveniências
que possam afetar o contrato é, antes de mais, cometer um erro de vontade;
toda a “base negocial subjetiva” vem, assim, a ser reconduzida ao regime do
erro.
A margem de alteração das circunstâncias foi-se circunscrevendo a um núcleo objetivo
e irredutível: contratos apanhados em modificações que superem interpretação
complementadora e o erro, que extravasem as esferas de riscos e sobre as quais
nenhuma confiança legítima possa ser invocada. Cabe, então, lidar com os modelos de
decisão lassos.
Com estes elementos voltemos ao art.º 252/2. Ao referir “base do negócio”, este
preceito não tem em vista o instituto desse mesmo nome, tal como Hoje é
correntemente usado na literatura alemã. Trata-se, como vimos, de uma fórmula vazia,
que nada diz de específico. O preceito em análise refere concretamente um erro na base
do negócio: haverá, pois, uma realidade fáctico-jurídica com essa designação. A base do
negócio será, então, uma representação de uma das partes, conhecida pela outra e
relativa a uma certa circunstância basilar atinente ao próprio contrato e que foi essencial
para a decisão de contratar.
Na sequência de Castro Mendes, a doutrina tem vindo a exigir, tem o art.º 252/2, um
erro bilateral. Todavia, nada na lei exige a bilateralidade. O erro é-o do declarante,
recaindo embora sobre um elemento decisivo do contrato, conhecido pela outra parte
(a qual, sobre ele, não podia ter qualquer opinião).
O art.º 252/2 parece captar uma área do erro para a remeter para alteração das
circunstâncias. Esta tem um regime complexo que, até hoje, não foi devidamente
enquadrado pela ciência do direito.
Antes de ensaiar uma explicação científica atualista para o “erro sobre a base do
negócio”, vamos verificar como tem ele funcionado na jurisprudência. Os nossos
tribunais superiores procedem à interpretação do art.º 252/2, na sequência do 252/1: a
lei admite a relevância do erro da vontade quando recaia sobre a pessoa do destinatário
ou sobre o objeto do negócio; reportando-se a outro elemento, terá de haver acordo
quanto à essencialidade; referindo-se, todavia, à base do negócio, tal acordo é
dispensado, bastando o conhecimento das partes.
Quanto aos concretos elementos que integrem a base do negócio e ao quantum de erro
que justifique a intervenção do Tribunal, há que apelar para o regime da figura, no seu
todo. A lei manda aplicar o regime da alteração das circunstâncias. Pois bem: integrando
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 172
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
a “base do negócio” os elementos essenciais para a formação da vontade do declarante
e conhecidos pela outra parte, os quais, por não corresponderem à realidade, tornam a
exigência do cumprimento do negócio concluído gravemente contrário aos princípios da
boa-fé.
O legislador, sob peripécias sumariadas, por construir um sistema coerente. Dado o
fracionamento dos erros da vontade (art.º 251 e 252/1) houve que prever uma hipótese
residual de erro cuja relevância fosse diretamente controlada pelo sistema, através da
boa fé. O erro escandaloso, que atinja gravemente as exigências da confiança e da
primazia da materialidade subjacente pode, por esta via, ser sancionado pelos tribunais.
Impõem-se, ainda, uma interpretação restritiva quanto à remissão, feita pelo art.º
252/2, para a alteração das circunstâncias. Esta, sendo superveniente, faculta a
resolução do contrato ou a sua modificação segundo juízos de equidade (art.º 437/1).
Compreende-se, estando um contrato em curso de execução, não há que atingi-lo no
passado (salvo quando a resolução a isso conduza) assim como não se exige atingi-lo in
totum: as partes poderão ter investido já muito no seu cumprimento.
No erro sobre a base do negócio, porém, há que aplicar o regime comum do erro: a
anulabilidade. A situação ocorre já no momento da celebração do negócio, ela tem de
comportar um prazo curto, para se sedimentar; há que admitir a confirmação. Em suma,
não se verificam valores que requeiram consequências diferentes das normais para o
erro.
A jurisprudência relativamente ao art.º 252/1, permite isolar as proposições seguintes:
▪ O art.º 252/2 assenta no erro ou desconformidade da representação da
realidade, enquanto o art.º 437/1 tem em vista a evolução posterior das
circunstâncias;
▪ No erro, a base do negócio é unilateral, respeitando apenas ao errante, na
alteração das circunstâncias, ela é bilateral;
▪ O erro relativo a circunstâncias futuras é um erro de previsão e só é relevante
na medida em que se verifiquem os o requisitos do art.º 437.
5. Dolo (253º)
Por fim, encontramos uma específica modalidade de erro, o erro qualificado por dolo,
presente no art.º 253/1.
No atual direito português, o termo dolo tem uma dupla aceção completamente distinta
da defendida no direito clássico:
▪ A sugestão ou artifício usados com o fim de enganar o autor da declaração e
previstos no art.º 253/1;
▪ A modalidade mais grave de culpa, contraposta à “mera culpa” ou
negligência referida o art.º 483/1 do mesmo diploma.
Apenas a primeira aceção está, agora e aqui, em causa. O dolo dá lugar a uma espécie
agravada de erro: é um erro provocado, nas palavras de Manuel de Andrade.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 173
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
A relevância do dolo depende, segundo a sistematização geralmente acolhida, na
doutrina como na jurisprudência, de três fatores:
▪ Que o declarante esteja em erro;
▪ Que o erro tenha sido causado ou dissimulado pelo declaratário ou por
terceiro;
▪ Que o declaratário ou terceiro haja recorrido a qualquer artifício, sugestão
ou embuste.
Nas palavras de Castro Mendes: a relevância do dolo depende de uma dupla
causalidade: é preciso que o dolo seja determinante do erro e o erro determinante do
negócio. O art.º 254/1 prescreve, nesse caso, a anulabilidade.
É importante atentar na diferença que existe entre o erro simples e o erro qualificado
por dolo. Sendo o erro simples, o negócio só é anulável se ele recair sobre o elemento
essencial se o declaratário conhecer ou dever conhecer essa essencialidade; sendo o
erro qualificado por dolo, essa anulabilidade surge se for determinante da vontade: não
tem de ser essencial, pois bastará que, por alguma razão tenha dado lugar à vontade e
não se põe o problema do conhecimento uma vez que, neste caso, ele foi pura e
simplesmente causado pelo declaratário.
A anulação por dolo é cumulável com a indemnização dos danos causados.
Designadamente pode fazer-se, em simultâneo, apelo às regras da culpa in
contrahendo. Esta, através da técnica dos deveres acessórios e da relação obrigacional
sem dever de prestar principal, pode ser aplicável a terceiros que provoquem o erro
qualificado por dolo.
Secção IV: A simulação
A simulação no código civil
1. Requisitos (240º)
O art.º 240 põe, claros, três requisitos para a simulação:
▪ Um acordo entre o declarante e o declaratário;
▪ No sentido de uma divergência entre a declaração e a vontade das partes;
▪ Com o intuito de enganar terceiros.
Estes elementos devem ser invocados e provados por quem pretenda prevalecer-se da
simulação ou de aspetos do seu regime.
A divergência entre a vontade declarada e a vontade real representa o elemento mais
distintivo da simulação: no seu seio surgem as diferentes modalidades e os pontos mis
delicados do seu regime.
A relação negocial, enquanto um todo, englobando a vontade real das partes e a
vontade exteriorizada, assenta num encontro de vontades. A existência de um acordo é
um elemento diferenciador da simulação, no âmbito dos vícios do negócio. Não basta
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 174
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
uma das partes manifestar uma intenção que não corresponda à sua vontade real: exige-
se uma sintonia entre os contraentes. Este elemento afasta a simulação da reserva
mental. Na reserva mental, uma das partes escamoteia a sua vontade real dos restantes
intervenientes; o negócio efetivamente concluído é apenas pretendido por um dos
contraentes. Já a simulação pressupõe um conluio, o que não se verifica na reserva
mental. De resto, sendo a divergência comum a todas as partes, aplica-se, como seria
expectável, o regime da simulação.
Ao contrário do código de Seabra, o código Vaz Serra não faz depender a aplicação do
regime simulatório de uma intenção de prejudicar terceiros. O legislador basta-se com
o mero intento de enganar: as partes pretendem, criando uma aparência jurídica,
ludibriar todos os terceiros externos à mancomunação, levando-os a acreditar que a
vontade manifestada é realmente querida. Este raciocínio, seguido de forma unânime
tanto pelos nossos tribunais como pela nossa jurisprudência, foi, aparentemente, posto
em causa numa recente decisão da Relação de Lisboa:
A e B celebraram um contrato de compra e venda que tinha como objeto o prédio X. o
preço nunca foi realmente pago e o imóvel permaneceu na esfera jurídica de A. B,
proprietário legal do bem X, celebra um contrato de mútuo com o banco C, tendo sito
dada uma garantia uma hipoteca sobre o imóvel. Demonstrou-se, em juízo, que as
condições conseguidas por B junto do banco C eram análogas às obtidas por A. O banco
C não foi prejudicado: para além do pagamento atempado das prestações, a sua posição
estava protegida com a constituição da garantia.
Perante estes factos, o tribunal, embora reconhecendo o preenchimento textual dos
requisitos legais, visto existir uma intenção de criar uma falsa aparência, decidiu-se pela
irrelevância jurídica do engano. O argumento utilizado é bastante simples: o engano não
contribuiu, de nenhuma forma, para o conclusão do negócio.
Esta decisão deve ser apoiada: a criação de uma aparência jurídica só por si é
insuficiente, o sistema exige que a posição jurídica dos terceiros enganados tenha sido
afetada de qualquer forma. Repare-se que não se está a fazer depender a aplicação do
regime simulatório da demonstração de um prejuízo ou sequer de uma intenção de o
causar; todavia, o direito não pode ser alheio ao impacto efetivo da aparência criada:
sendo inexistente, o engano é virtual.
Este último elemento facilita, ainda, a distinção da simulação das declarações não sérias.
Na simulação, há uma intenção de enganar terceiros estranhos à conjuração, enquanto,
nas declarações não sérias, a manifestação de vontade tem um simples propósito
jocoso.
Finalmente, “terceiro”, no âmbito da simulação, será qualquer pessoa alheia ao conluio
ou acordo simulatório, mas não, necessariamente, estranha ao contrato simulado.
Também o Estado é considerado terceiro para efeitos da aplicação do regime da
simulação: pense-se no exemplo perfeito da celebração de um contrato simulado com
o intuito de ver diminuídos os impostos ou as taxas inerentes ao negócio efetivamente
pretendido. Repare-se, porém, que a celebração de um contrato simulado com o
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 175
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
propósito de contornar a lei, i.e., de enganar o Estado, enquanto entidade governativa
ou legislativa, não preenche ou requestos necessários.
2. Modalidades
A primeira classificação, já indiferentemente aludida, respeita ao conteúdo do terceiro
requisito: ela diz-se inocente ou fraudulenta consoante vise apenas enganar alguém ou
também prejudicar. Regra geral, a simulação será fraudulenta: as partes não pretendem
apenas criar uma falsa aparência para o exterior; têm, ainda, como fim imediato, retirar
benefícios, em prejuízo de terceiros.
Como exemplo clássico de simulação inocente refira-se a doação dissimulada em
compra e venda, com o propósito de não aferir a suscetibilidade de terceiros igualmente
interessados no bem, conquanto a sua posição não seja suportada juridicamente.
Apesar de se poder falar, em abstrato, num prejuízo, a expectativa do terceiro não é
tutela. A nulidade da simulação é, assim, alheia à existência de direitos ou interesses
protegidos, na esfera jurídica do terceiro enganado.
A simulação é absoluta quando as partes não pretendem celebrar qualquer negócio; é
relativa sobre que, sob a simulação, se esconda um negócio verdadeiramente
pretendido: o negócio dissimulado.
Na simulação absoluta, as partes conjeturam uma mudança, quando, na realidade, o
status real permanece inalterado. Por regra, essa aparência tem, como fim, evitar uma
qualquer consequência jurídica prejudicial: simula-se vender para evitar que os bens
seja executados, para aludir credores ou para que um determinado bem não seja
considerado para efeitos de partilhas de heranças ou de divórcio.
A simulação relativa pode ser objetiva, quando a divergência recaia sobre o objeto do
negócio ou sobre o seu conteúdo; ou subjetiva, sempre que incidir sobre as próprias
partes.
Dentro da modalidade objetiva podem ainda ser apontados dois subtipos distintos:
simulação objetiva total e simulação objetiva parcial.
A primeira subcategoria engloba as simulações sobre a natureza do negócio, ou seja, o
negócio simulado e o negócio dissimulado pertencem a tipos legais ou sociais distintos:
pense-se, por exemplo, em quem celebra um contrato de compra e venda com o
propósito de cobrir uma doação.
Na simulação objetiva parcial, temos apenas um negócio: a simulação respeita somente
a parte do seu conteúdo, sem, todavia, afetar a qualificação do contrato concluído. É o
caso da simulação dita de valor, em que há um desfasamento entre o preço declarado
e o preço efetivamente pago.
A recondução destas situações à figura da simulação relativa não é, porém, imune a
criticas: as partes celebram apenas um negócio: não temos um negócio simulado e um
negócio dissimulado; o suposto negócio dissimulado esgota-se num valor diferente do
manifestado, o que se apresenta insuficiente para subsumir os factos ao regime
simulatório.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 176
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Os nossos tribunais têm vindo a defender que a simulação de valor não acarreta a
nulidade do negócio, como estabelece o legislador de forma expressa, na parte final do
art.º 241/1, implicando apenas a determinação do preço real. De resto, se a nulidade
fosse declarada, quedava-nos uma simples indicação de valor pecuniário.
A simulação de valor consubstancia uma simulação imprópria, cujo regime aplicável, de
base jurisprudencial, se distingue do regime simulatório positivado, quer no que
respeita aos elementos fácticos- temos apenas um negócio jurídico-, quer em relação
aos efeitos jurídicos daí decorrentes.
3. Figuras afins da simulação
A simulação não se confunde com a simples falsidade. A simulação consubstancia um
vício interno, ela exprime uma declaração divergente da vontade, mas efetivamente
exarada pelas partes. O documento através do qual a vontade simulada se manifesta
não é forjado: é verdadeiro. A falsidade, por sua vez, constitui um vício externo ou
formal, não assenta numa divergência de vontade, mas na falsificação de um
documento: existe uma divergência entre o conteúdo do documento e a vontade
manifestada.
A simulação distingue-se do negócio indireto. Os negócios indiretos caracterizam-se pela
utilização de um tipo contratual fora da função que este, normalmente, é chamado a
desempenhar. Não há, nestes casos, qualquer pacto simulatório nem uma divergência
entre a vontade manifestada e a vontade real: as partes empregam um negócio jurídico
com uma finalidade distinta sem, contudo, violarem qualquer preceito jurídico.
A simulação diferencia-se do negócio fiduciário. O negócio fiduciário é um negócio
atípico e realmente querido, que não assenta numa divergência entre a vontade
manifestada e a vontade real. A sua validade, como se verifica para qualquer negócio
tipificado ou não, deve ser averiguada em concreto, à luz dos seus exatos contornos, e
não por simples remissão para o regime simulatório.
A simulação, na sua modalidade interposição fictícia de pessoas, não se confunde com
interposição real das pessoas. Na interposição real, seja ela fiduciária ou assente em
mandato sem representação, uma pessoa contrata com outra (apenas) para que esta,
depois, transfira para o verdadeiros destinatário da operação aquilo que adquiriu: aqui
é vontade das partes percorrer todo este circuito, não havendo divergências entre a
vontade manifestada e a vontade real.
Os efeitos da simulação
1. A nulidade: efeitos substantivos e legitimidade processual
O art.º 240/2 considera lapidarmente a negócio simulado- absoluto ou relativo- como
nulo. Não obstante, não se trata de uma verdadeira nulidade, uma vez que, visto o
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 177
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
disposto nos art.º 242 e 243, ela não pode ser invocada por qualquer interessado, sem
por maioria de razão, ser declarada oficiosamente pelo tribunal, sob pena de se esvaziar
a proteção devida aos terceiros de boa fé.
Fica, todavia, a ideia de que o negócio simulado não produz efeitos entre as partes e
perante terceiros que conheçam ou devessem conhecer a simulação: os terceiros de má
fé.
O art.º 242/1 dá legitimidade aos próprios simuladores, mesmo na simulação
fraudulenta, para arguir a simulação. Trata-se de um preceito que visa ladear a eventual
invocação do tu quoque.
No nº2 do artigo, o legislador atribui, aos herdeiros legitimários (segundo o art.º 2157),
uma especial legitimidade de invocarem o vício da simulação, sempre que haja uma
intenção de prejudicar. O preceito tem, na sua génese, a ideia de que os filhos apenas
podem intrometer-se nos negócios dos seus pais em situações que lhes sejam
particularmente lesivas.
A circunscrição da legitimidade a simulações fraudulentas cessa com o falecimento do
autor da sucessão, passando então a aplicar-se a regra geral prevista no art.º 286, nada
impedindo, consequentemente, que os herdeiros legitimários invoquem, a partir dessa
data, a simulação do negócio, mesmo não havendo um intuito de os prejudicar.
Tendo sido provocados prejuízos, mas não se demonstrando qualquer intenção de os
causar, colocam-se dúvidas quanto à aplicabilidade do preceito. Duas soluções têm sido
avançadas: a letra do artigo é inequívoca: não havendo intenção de prejudicar, os
herdeiros legitimários não têm legitimidade para arguir a simulação, em vida do autor
da sucessão; e a norma tem, como ratio, proteger a posição dos herdeiros legitimários
contra prejuízos e contraintenções.
Todavia, demonstrando-se em juízo que os autores da sucessão atuaram
negligentemente, isto é, que não se inteiraram da possibilidade de, da sua atuação,
resultarem prejuízos na esfera jurídica dos herdeiros legitimários, não se justifica
restringir a legitimidade processual destes últimos. A norma que acautela expectativa
dos herdeiros legitimários é violada quer quando haja uma intenção direta de os
prejudicar quer quando haja uma simples indiferença.
Sendo- mau grado o apontados desvios- o contrato nulo, a nulidade por ainda ser
invocada por terceiro interessado, nos termos gerais do art.º 286, contra os simuladores
e os seus herdeiros.
Discute-se ainda, entre nós, se a exceção prevista no art.º 243/1 pode ser estendida a
outras classes de sujeitos.
Ora, para além dos simuladores, também os herdeiros e os representantes, bem como
todos os sujeitos que tenham contribuído ativamente para a conclusão do negócio
simulado e daí retirem ou pretendam retirar benefícios não pode, igualmente, invocar
a nulidade da simulação contra terceiros de boa-fé.
Mesmo admitindo que a letra do preceito impeça semelhante interpretação, o que não
se reconhece, a invocação da simulação, por parte de qualquer sujeito que preencha os
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 178
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
requisitos já elencados, estaria sempre condicionada pelo art.º 334: o sistema não pode
tolerar que um sujito que tendo contribuído para a conclusão de um negócio simulado
venha, posteriormente, a invocar a sua nulidade.
É ainda irrelevante se os terceiros são prejudicados ou beneficiados com a declaração
de nulidade e se o direito foi adquirido a título oneroso.
Para além das situações abrangidas pelo contrário do art.º 243/1, dever-se-ão ter ainda
em consideração as limitações decorrentes do art.º 291, para os bens, objetos do
negócio simulado, adquiridos a título oneroso e devidamente registados.
2. Inoponibilidade da simulação a terceiros de boa fé e preferências legais
Com o art.º 243/1, o legislador afasta a simulação do regime geral previsto para a
nulidade clássica.
O art.º 243/2 veio dar uma definição incompleta de boa-fé subjetiva, não faz qualquer
sentido vir sustentar que a tutela seja dispensada a quem, com culpa, portanto, violando
concretos deveres de indagação ou de conhecimento que ao caso caibam- desconheçam
o que devia conhecer.
O art.º 242/3 especificamente a má-fé perante o registo da ação de simulação. É
evidente, havendo registo, qualquer interessado em conhecer a realidade tem o dever
de se inteirar do seu teor.
O problema da inoponibilidade da simulação a terceiros de boa-fé suscita um delicado
problema de justiça, no confronto com as preferências legais.
Diz-se que há preferências quando alguém tenha o direito de, perante outra pessoa e
querendo esta celebrar certo negócio, surgir como contraparte, desde que acompanhe
as condições que por ela pretendidas. O preferente na compra de certa coisa- por
exemplo- rem o direito de exigir ao proprietário dela que, caso ele a pretenda vender,
lhe submeta previamente o projetado negócio para que ele, querendo, o subscreva.
A lei portuguesa distribui, com grande generosidade, direito de preferência que, assim,
se dizem legais. Havendo violação de um direito de preferência, portanto: vendendo o
obrigado à preferência a um terceiro sem dar prévia conta, ao preferente, do conteúdo
exato do negócio projetado, para que este eventualmente prefira- pode o preferente,
através da ação prevista no art.º 1410 – a ação de preferência- fazer seu o negócio
preferível.
Uma das simulações mais frequentes era, na prática, a venda por um preço declarado
inferior ao real, para defraudar o fisco: vendia-se por 500000 euros, mas, para não pagar
sisa, então existente, declarava-se, na escritura, apenas o preço de 50000 euros. Nessa
altura, se tiver sido preterido um preferente legal, este pode mover uma ação de
preferência, pagando os 50000, apenas; e se os simuladores explicarem- e provarem.
que o preço fora, na realidade, o de 500000, poderá o preferente escudar-se com o art.º
243/1: os simuladores não podem arguir a simulação contra terceiros de boa-fé. O
preferente teria um enriquecimento escandaloso
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 179
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O professor Castro Mendes e Antunes Varela vieram a defender que a simulação era,
em qualquer caso, inoponível a terceiros de boa-fé. Em sentido inverso, vieram depor
Mota Pinto e Almeida Costa: o objetivo da lei, perante os interesses em presença, nunca
poderia ser o de facultar o enriquecimento do preferente.
Esta última posição, defendida pela doutrina generalista mais moderna foi acolhida pela
nossa jurisprudência. Depois de, numa primeira fase, os nosso tribunais terem avançado
diferentes respostas, a doutrina do abuso do direito acabou por receber um apoio
alargado: sendo a diferença entre o valor real e o valor declarado conhecido do
preferente, o exercício do direito de preferência é abusivo.
O exercício do direito de preferência por um sujeito que conheça a simulação do preço
não preenche os requisitos clássicos do princípio da tutela da confiança: esta só se
justifica quando haja um investimento de confiança, isto é, quando o confiante, adira à
aparência e, nessa base, erga um edifício jurídico e social que não possa ser ignorado
sem dano injusto. Ora o preferente por valor simulado inferior ao real não fez qualquer
investimento de confiança. A sua posição não pode invocar a tutela dispensada, à
aparência, pela boa-fé.
A posição do preferente pode ainda ser combatida pela positiva, aspeto especialmente
invocado pelos nossos tribunais e que nos remete para o campo da primazia da
materialidade subjacente: o exercício do direito de preferência por parte de um sujeito
que conheça os vícios simulatórios do negócio jurídico não pode ser tolerado pelo
sistema, sob pena de se privilegiarem comportamentos ilícitos que atendem ao espírito
do sistema.
3. Conflito de interesses entre terceiros
O anteprojeto de Rui de Alarcão previa um artigo dedicado à complexa questão do
conflito entre terceiros interessados nos efeitos da nulidade da simulação e terceiros
empenhados na validade do negócio jurídico simulado. A visão aí defendida não
mereceu a concordância do nosso legislador, que excluiu do regime simulatório
qualquer referência ao tema.
Tradicionalmente, a problemática do conflito de interesses abarca três situações:
▪ Conflito entre os credores comuns do simulador alienante e os credores
comuns do simulador adquirente;
▪ Conflito entre os credores comuns do simulador alienante e subadquirentes
do simulador adquirente, o seu contrário;
▪ Conflito entre os subadquirentes do simulador alienante e os subadquirentes
do simulado adquirente.
A solução para o problemática do conflito de interesses deve ser procurada no seio do
próprio regime simulatório, pelo que importa recapitular as linhas gerais já avançadas.
Como princípios geral, nulidade pode ser invocada por todos os interessados. Contudo,
sendo a nulidade declarada, exceciona o legislador, “esta não pode ser arguida pelo
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 180
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
simulador contra terceiros de boa-fé” (art.º 243/1). Esta proibição estende-se a todos
os sujeitos que contribuíram ativamente para a conclusão do negócio simulado. Repare-
se que esta classe de sujeitos não se confunde com o conceito de terceiro de má fé, no
sentido que usualmente lhe é atribuído na maioria dos textos simulatórios: no sujeito
que conhecia a natureza simulatória do negócio, mas que não colaborou, de qualquer
forma, na mancomunação, conquanto seja rotulado de “terceiro de má-fé”, não está
sujeito ao regime previsto no art.º 243/1.
Conflito entre os credores comuns do simulador alienante e os credores comuns do
simulador adquirente: não tendo os credores do simulador alienante participado
ativamente na mancomunação simulatória, mesmo no caso de os credores comuns do
simulador adquirente estarem de boa-fé, não se lhes aplica o regime excecional previsto
no art.º 243/1, pelo que têm toda a legitimidade para arguira nulidade do negócio.
Esta solução é aplicável a todas as restantes situações de conflito.
Em termos conclusivos, fora dos casos reconduzíveis ao art.º 243/1, nos termos acima
apresentados, é indiferente se os terceiros externos à mancomunação estão ou não de
boa-fé: a nulidade é passível de ser invocada por todos os interessados (art.º 286).
4. O valor do negócio dissimulado
De acordo com o disposto no art.º 241/1, a nulidade do negócio simulado não afeta a
validade do negócio dissimulado. Repare-se que o legislador não nos diz que o negócio
dissimulado seja válido, mas que a validade deste negócio não é afetada pelo vício que
inquina o negócio simulado. O interprete aplicador terá sempre de averiguar a validade
do negócio dissimulado, enquanto negócio jurídico completo e autónomo.
Cabe aos interessados na preservação do negócio dissimulado alegar e demonstrar a
sua validade.
É precisamente a necessidade averiguar a validade do negócio dissimulado que motivou
o legislador a consagrar o conteúdo no nº2 do art.º 241.
O exato significado do texto positivado tem dividido a nossa doutrina. Em termos
sucintos são três as teorias defendidas:
→ A teoria da forma da declaração: o negócio dissimulado apenas poderá ser
declarado válido se as próprias declarações de vontade respeitarem a forma
exigida;
→ A teoria da forma do negócio: não releva se a declaração de vontade
característica do negócio dissimulado revestiu a forma legalmente exigida; a sua
validade deverá ser declarada sempre que exita uma identidade entre a forma
empegue pelo negócio simulado e a forma exigida pelo negócio dissimulado;
→ A teoria da ratio da forma: a validade do negócio dissimulado está dependente
do preenchimento das razões justificativas subjacentes à exigência de uma
forma especial.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 181
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Antes de centrarmos a nossa atenção na problemática clássica dos negócios formais
sujeitos a escritura pública, importa esclarecer alguns casos menos complexos.
Sendo a forma do negócio de dissimulado mais exigente do que a forma do negócio
simulado, dificilmente se poderá sustentar a conservação do primeiro, salvo se o
negócio dissimulado for celebrado, secretamente, seguindo-se as exigências legais.
Pense-se numa doação de coisa móvel simulada em compra e venda não acompanhada
de tradição de coisa doada. Neste caso, ao abrigo no disposto no art.º 947/1 a doação
não é válida. Todavia, nada impede que os simuladores, como modo de precaverem
possíveis invalidades do negócio dissimulado, tenham acordado por escrito os efeitos
escamoteados no comércio jurídico.
A aplicação do art.º 238, à simulação relativa pela primeira vez por Vaz Serra. No art.º
238/1, o legislador estabelece que “nos negócios formais não pode a declaração valer
com um sentido que não tenha o mínimo de correspondência no texto do respetivo
documento, quando que imperfeitamente expresso”. Este princípio geral, de acordo
com o nº2, cede nos casos em que se verifiquem, cumulativamente, dois elementos:
→ Se esse sentido (que não tem um mínimo de correspondência no texto)
corresponder à vontade real das partes;
→ Se “as razões determinantes da forma do negócio se não opuseram a essa
validade”.
A segunda solução é proposta por Pais de Vasconcelos. Diz-nos o art.º 217/2: “o carácter
formal da declaração não impede que ele seja emitido tacitamente, desde que a forma
tenha sido observada quanto aos factos de que da declaração se deduz”. O preceito não
pode ser lido isoladamente, desprendido da norma contida no nº1: a declaração
negocial é tácita “quando se deduz dos factos que, com toda a probabilidade, a
relevam”. Ou seja, aplicando o regime inteiro à simulação relativa, seria necessário
deduzir da escritura pública da declaração de compra e venda a intenção de doar e
apenas depois se poderia invocar o art.º 217/2.
Afastada a possibilidade de recorrermos ao art.º 217, resta-nos a solução do art.º 238.
Vaz Serra expõe sérias dúvidas quanto a essa possibilidade: na doação simulada em
compra e venda não conta, do texto do negócio, sendo que “a declaração de vender não
é tão grave como a de doar”; e na compra e venda simulada em coação, não conta o
preço, sendo que “a declaração de aceitar uma doação não é tão gravosa como a de
comprar.
5. A prova da simulação
O art.º 394/2 parece proibir a prova testemunhal do acordo simulatório e do negócio
dissimulado, quando invocados pelos simuladores. Trata-se de uma regra que remonta
ao direito napoleónico e que visava dificultar a declaração de nulidade dos atos.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 182
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
Todavia, a simulação é, só por si, difícil de prova. Impedir a prova testemunhal equivale,
muitas vezes, a restringir de modo indireto a prescrição do art.º 240/2, quando à
nulidade da simulação.
A jurisprudência acolhe a interpretação restritiva do art.º 394/2. Havendo um princípio
de prova escrita, quando seja impossível obter prova escrita ou em caso de perda não
culposa dos documentos que forneciam prova é admissível complementá-la através de
testemunhos. Os próprios simuladores podem ser ouvidos sobre a simulação, em
depoimento de parte. Em termos práticos admite-se, como princípio de prova escrita,
uma escritura de retificação.
Contra este entendimento veio manifestar-se Luís Menezes Leitão, referindo doutrina
na âmbito de Seabra e, sobretudo, recordando o objeto da lei: o de evitar que, com base
numa prova testemunhal de “conteúdo altamente duvidoso, se venha pôr em causa, a
fiabilidade do documento autêntico”. Tem a sua razão: só com muita cautela o juiz
poderá validar factos derivados de depoimentos e desde que, como foi dito, haja um
início de prova documental minimamente consistente.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 183
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 184
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
CAPÍTULO X: A INEFICÁCIA DO NEGÓCIO
JURÍDICO
Ineficácia estrita e irregularidade
1. A ineficácias em sentido estrito
A ineficácia em estrito traduz a situação do negócio jurídico que, não tendo, em si, vícios,
não produza, todavia, todos os seus efeitos, por força de fatores extrínsecos.
As ineficácias deste tipo só surgem nos casos específicos, previstos pela lei. O negócios
jurídicos sem vícios produz os seus efeitos: apenas razões muito particulares e
expressamente predispostas poderão levar a que assim não seja.
Imaginemos que alguém, para defraudar os seus credores, aliena, sem crédito, o seu
património. Pois bem: os atos de alienação sujeitam-se à ação pauliana, podendo ser
impugnados nos termos dos art.º 610.
Os negócios celebrados são válidos: nada os afeta, em si. Todavia, ou são totalmente
inoponíveis ou inoponíveis nalguns dos seus aspetos ou são impugnáveis. Trata-se de
“ineficácias em sentido estrito”, acordo com a designação tradicional portuguesa.
Temos, aqui, uma categoria residual; as figuras a ela redutíveis assumem regimes
particulares, a apurar caso a caso pela interpretação.
2. A irregularidade
O problema da ineficácia dos negócios jurídicos deve ser delimitado da sua
irregularidade.
A eficácia do negócio jurídico depende do seu enquadramento, dentro da autonomia
privada. Pode, no entanto, suceder que, perante um negócio, tenham aplicação, além
das da autonomia privada, outras regras muito diversas.
A inobservância dessas regras provoca a irregularidade do negócio atingido, sem
prejudicar a sua eficácia.
Os exemplos tradicionais de irregularidade negocial ocorriam no domínio matrimonial.
O menor que casar sem autorização dos pais ou do tutor celebra um casamento eficaz,
mas sujeita-se a certas sanções quanto aos bens (art.º 1649); o casamento celebrado
com impedimento é válido, mas dá lugar a determinadas consequências, também no
domínio dos bens (art.º 1650).
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 185
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
O regime das invalidades
1. A invocação
Coloca-se o problema de como devem ser invocadas as invalidades. Frente a frente,
temos dois sistemas: o direito latino, em que exige uma invocação judicial, e o direito
alemão, que admite uma anulação por mera declaração extrajudicial dirigida à
contraparte, a interpretar de acordo com as regras negociais.
Aquando a preparação do código civil propôs-se, para a anulabilidade, a possibilidade
de invocação extrajudicial, mas foi silenciosamente suprimida na segunda revisão
ministerial, sem que, no entanto, se produzisse, qualquer preceito da vida contrário. De
tudo o modo, a supressão foi suficientemente incisiva para levar alguma doutrina a
defender a necessidade de invocação judicial, seja para a anulação, seja para as
invalidades em geral.
A necessidade de recorrer ao Tribunal para exercer um direito é uma formalidade
anómala e pesadíssima. Assim, ela só se impõe quando prevista por lei, art.º 219, lei essa
que, a surgir, será excecional. O código civil não contém qualquer norma que obrigue à
invocação judicial. Pelo contrário: os art.º 286 e 287 falam em invocar a nulidade e arguir
a anulabilidade sem inserirem qualquer rasto de uma necessidade de invocação judicial.
Não para viável, na falta de base legal, exigir qualquer procedimento: anómalo e
pesadíssimo, como cumpre repetir.
É certo que o art.º 291/1 pressupõe ações de declaração de nulidade ou de anulação.
Mas isso explica-se por, aí, se pretenderem fazer valer posições contrárias ao que resulta
do registo predial: ora a nulidade deste, seja substantiva seja registal, só pode ser
invocada depois de celebrada por decisão judicial, com trânsito em julgado (art.º 17/1
CRP).
O panorama legal é, pois, o seguinte: a lei é omissa quanto ao regime geral da invocação
das invalidades, o que depõe no sentido da desformalização, mau grado os
preparatórios; no entanto, a que diretriz que impõe o recurso a juízo- ou um acordo-
perante invalidades que atinjam situações registadas.
A invocação de nulidades ou a declaração de anulação surgem como atos secundários
subordinados os principais: os próprios negócios viciados. Assim, elas deverão seguir a
forma exigida para esses mesmos negócios. Mal se compreenderia que, para invocar um
vício que atingisse um negócio corrente, verbalmente concluído, houvesse que recorrer
ao tribunal ou a outra forma solene. A esta regra básica ocorrem desvios: no caso dos
sujeitos a registo, queda o acordo- sob a forma exigida para o negócio em crise- ou a
ação judicial, como vimos.
É evidente que se a declaração de nulidade ou a anulação “informais” não foram aceites,
como tais, pelos destinatários, há litígio, a dirimis em juízo. Mas o tribunal limitar-se-á,
então, a apreciar se a invocação da nulidade ou se a anulação foram devidamente
atuadas.
Perante a exigência do cumprimento de um negócio inválido, a parte visada pode
defender-se por exceção. Antes disso, porém, ela já podia, licitamente, recusar a
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 186
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
prestação. O possuidor de uma coisa por via de um negócio inválido deixará de estar de
boa fé assim que conheça o vício (art.º 1260/3). Não se exige, para tanto, qualquer ação.
2. As consequências
Uma visão mais imediatista das invalidades tinha em mente, de modo vincado, a
nulidade. Além disso, esta era aproximada de uma pura e simples inexistência jurídica.
Os atos nulos não produziriam, deste modo, quaisquer efeitos, num modelo subjacente
no pensamento jurídico napoleónico.
A declaração de nulidade e a anulação do negócio têm efeito retroativo (art.º 289/1).
Desde o momento em que uma ou outra sejam decididas, estabelece-se, entre as partes,
uma relação de liquidação: deve ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou, se a
restituição em espécie não for possível, o valor correspondente, nos temos desse
mesmo preceito.
Nos contrato de execução continuada em que uma das partes beneficia do gozo da coisa
ou se serviços a restituição em espécie, não é, evidentemente possível. Nessa altura,
haverá que restituir o valor correspondente o qual, por expressa conversão das partes,
não poderá deixar de ser o da contraprestação acordada.
O dever de restituição predisposto no art.º 289/1 tem natureza legal. Ele prevalece
sobre a obrigação de restituir o reconhecimento, meramente subsidiário e pode ser
decretado, pelo tribunal, quando ele conheça, oficiosamente, a nulidade. No entanto, já
haverá que recorrer às regras de enriquecimento se a mera obrigação de restituir não
assegurar todas as deslocações ou intervenções primordiais injustamente processadas,
ao abrigo do negócio declarado nulo ou anulado, foram devolvidas.
Não será assim quando, mau grado a invalidação, ocorra uma outra causa de atribuição
patrimonial. O próprio art.º 289/3 manda aplicar, diretamente ou por analogia, o
disposto nos art.º 1269ss. Portanto, o regime da posse, incluindo as regras sobre a perda
e deterioração da coisa, sobre os frutos, sobre os encargos e sobre as benfeitorias. Caso
a caso será necessário indagar a boa ou má fé do obrigado a restituir.
Pode a parte obrigada à restituição ter alienado gratuitamente a coisa que devesse
restituir: ficará obrigada a devolver o seu valor. Porém, se a restituição deste não puder
tornar-se efetiva, fica o beneficiário da liberalidade obrigado em lugar daquele, mas só
na medida do seu enriquecimento (art.º 289/2).
O dever de substituir é recíproco (art.º 290).
A invalidade de um negócio pode não prejudicar a manutenção dos deveres de
segurança, de informação e de lealdade que acompanha, qualquer obrigação, por força
da boa-fé.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 187
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
3. A tutela de terceiros
A declaração de nulidade ou de anulabilidade de um negócio jurídico envolvem a
nulidade dos negócios subsequentes, que dependam do primeiro. Trata-se de uma
consequência inevitável da retroatividade dessas figuras: se A vende a B que vende a C,
a nulidade da primeira venda implica a na segunda, por ilegitimidade (art.º 892); se D
vende a E que, nessa base, se obriga a prestar a F, a nulidade da venda implica a nulidade
da obrigação, por impossibilidade legal.
O direito conhece uma tutela especial de terceiros, quando estejam em causa direitos
reais.
No por caso de bens imóveis, o terceiro que haja adquirido, de boa fé, o bem a um
comerciante que negociei em coisa do mesmo ou semelhante género, tem o direito à
restituição do preço pago, a efetuar pelo beneficiário da restituição (art.º 1301). Como
resulta deste preceito, o terceiro só é tutelado se tiver comprado a coisa, isto é,
adquirido o título oneroso.
No campo dos imóveis sujeitos a registo, vale o art.º 219: não sendo prejudicados os
direitos de terceiros, adquiridos de boa-fé e a título oneroso e que registem a aquisição
antes de inscrita qualquer ação de nulidade ou de anulação ou qualquer acordo quanto
à validade do negócio- nº1; todavia, esse regime só opera passados três anos sobre a
conclusão do negócio.
Tem-se suscitado, na jurisprudência, a dúvida de saber se o art.º 291 se aplica aos casos
de ineficácia stricto sensu dos negócios. Algumas decisões respondem negativamente:
a mera ineficácia não permitiria a tutela de terceiros.
As razões que levam à tutela dos terceiros-boa fé, investimento de confiança e inação
das partes interessadas- podem proceder tanto mas invalidades como nas ineficácias.
Reformulação da teoria da invalidade
1. Ponto de partida
O cerne da doutrina da invalidade assenta na contraposição entre a nulidade e a
anulabilidade:
▪ A nulidade equivale a um status rei: um estado do próprio negócio, como
consequência, temos uma permissão genérica de impugnação;
▪ A anulabilidade traduz um status personae: uma característica específica de
um dos intervenientes, ao qual é reconhecida com a permissão específica de
impugnação.
2. Cisão na nulidade: nulidade absoluta e relativa
À partida, a nulidade equivale, como se disse a um status rei, o qual permite, a qualquer
interessado, invocar a decorrente ineficácia. Corresponde a uma valoração negativa
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 188
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
extrínseca, que põe em crise o negócio, perante os valores da ordem jurídica. Deriva,
daí, uma permissão genérica de impugnação: qualquer interessado o pode fazer.
A confluência com outros princípios, leva, todavia, a todo um conjunto de entorses no
que, há partida, seria um regime lógico e coerente.
Assim:
▪ O simulador não pode arguir a nulidade da simulação contra terceiro de boa
fé (art.º 243/1);
▪ A nulidade da venda de bens alheios pode cessar por convalidação (art.º
895).
Em termos de uma pura coerência jurídica, as soluções apontadas são desviadas. O
negócio nulo é um não negócio, ainda que não um vazio total.
Daí a permissão genérica de impugnação: qualquer interessado a pode fazer: a todo o
tempo; e o próprio tribunal o pode declarar de ofício.
Um negócio simulado não corresponde à vontade de nenhuma das partes que o tenham
concluído. Logo, ele não vale. A juridificação opera não por via da autonomia privada,
mas por força da tutela da confiança a qual, por analogia, adota um código genético
semelhante ao de eficácia negocial. E assim sendo, nenhuma vantagem se perfila em,
contrariando a linguagem comum que afeiçoou o direito, vir dizer que o negócio
simulado invocável é irremediavelmente nulo, surgindo, todavia, um quid em tudo
semelhante a ele. Poderíamos formular juízos paralelos, no tocante às demais nulidades
sanáveis ou confirmáveis: verifica-se que elas são estabelecidas no interesse de certas
pessoas, que se mostram acauteladas e, tinha, cumpre proteger terceiros.
Assim, a nulidade absoluta, corresponde ao perfil do art.º 286 e as nulidades relativas,
que ocorrem sempre que surja uma nulidade suscetível de não ser invocável por
qualquer interessado ou que seja sanável.
Quanto às nulidades relativas derivam de um concurso:
▪ Entre a permissão genérica de as invocar
▪ E o direito potestativo de conservar os efeitos do negócio ou, saneado o
negócio, fazer surgir as posições jurídicas equivalentes ao negócio nulo.
A nulidade relativa é estruturalmente diferente da anulabilidade: apenas na aparência
as duas se aproximam. Com efeito, na nulidade ainda que relativa, mantém-se a
permissão genérica de impugnação; todavia esta é contrariada pontualmente pelo
direito potestativo de invocar a tutela da confiança, detendo a impugnação ou
provocando a legitimidade superveniente, com a consequente convalescença do
negócio.
O ónus da prova decorre deste cenário:
▪ Na nulidade relativa, a pessoa protegida invoca e demonstra os factos de que
decorre a tutela;
▪ Na anulabilidade, o interessado fará provas de factos que dão azo ao seu
direito de impugnação.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 189
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
3. Cisão da anulabilidade: anulabilidades comuns e privilegiadas
A anulabilidade é uma realidade subjetiva: tem a ver com a posição específica do sujeito,
equivalendo a um status personae. Ela traduz, na esfera do sujeito, um direito
potestativo de impugnar certo negócio. As circunstâncias que permitem tal impugnação
são fixadas em abstrato, podendo dizer respeito a qualquer uma das partes no negócio
considerado.
Todavia, para alguns casos p legislador quebra o princípio da igualdade. Por razões de
desproteção pessoal ou social, o legislador apenas confere o direito de impugnação a
um dos interveniente na relação.
Assim:
▪ Os atos dos menores não representados apenas podem ser anulados a
requerimento do progenitor que exerça o poder paternal;
▪ Nos contratos-promessa, o promitente alienante só pode invocar a
anulabilidade decorrente da falta de certificação das licenças de construção
ou de habitação.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 190
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
CAPÍTULO IX: APROVEITAMENTO NEGÓCIOS
INVÁLIDOS
Secção I: redução e conversão
A redução e a conversão
1. A redução
A invalidação dos negócios jurídicos não impede, ainda, a produção de efeitos nas
hipóteses de redução ou de conversão (art.º 292 e 293)
O primeiro requisito presente no art.º 292 é o de nulidade ou anulação meramente
parciais. Na base desta fórmula, algumas doutrinas e jurisprudência têm admitido uma
regra de divisibilidade dos negócios.
O segundo requerido tem a ver com a vontade das partes no tocante ao ponto da
redução: esta não opera quando se mostre que o negócio não teria sido concluído, sem
a parte viciada.
Em termos de ónus da prova:
▪ O interessado na salvaguarda do negócio deverá invocar e provar os factos de
onde decorra a natureza meramente parcial da invalidade e, portanto, a
divisibilidade do negócio em causa, a qual não é regra e se presume;
▪ Ao seu opósitos caberá invocar e provar os factos de onde se infira que, sem a
parte viciada, não havia negócio.
Embora o art.º 292 não diga temo que acrescentar três outros requisitos:
▪ O respeito pela boa-fé;
▪ O respeito pelas regras formais;
▪ O respeito pelas outras normas imperativas.
Recordando que na área negocial domina a autonomia privada. Esta deve prevalecer
sobre uma regra favor negotii. Quando as partes celebrem um negócio, querem-no no
seu todo. Sobrevindo uma invalidade, deve entender-se, na dúvida, que as partes
pretendem que todo o negócio seja afetado e isso mesmo quando ele seja divisível.
2. O problema no contrato-promessa; os contratos coligados
Pela nossa parte, sempre temos preconizado uma interpretação-aplicação conjunta de
dois preceitos, a que acrescentaríamos ainda o art.º 239, com o seu apelo à boa-fé
devidamente concretizado.
De todo o modo, não podemos deixar de sublinhar que uma promessa monovinculante
é diferente da bivinculante: na primeira, surge uma parte sujeito ao livre arbítrio de
outra, o que não sucede na segunda.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 191
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
3. A conversão
Pela conversão, um negócio jurídico nulo ou anulado pode aproveitar-se, como negócio
diverso, desde que reunidos determinados requisitos legais.
Os condicionantes legais da conversão resultam do art.º 293:
▪ A manutenção dos requisitos essenciais de substância e de forma (art.º 236/2 e
238/2);
▪ O respeito pela vontade hipotética das partes; integração.
O direito reconhece a hipótese de conversão legal: perante destas desconformidades,
indica, de imediato, qual o destino dos negócio atingidos (p. ex. art.º 1306/1). Caso a
casa deveremos verificar, pela interpretação se é possível bloquear a “conversão legal”
pela não ocorrência dos requisitos previstos no art.º 293.
Secção II: A confirmação
A dogmática geral da confirmação
1. Ideia básica
A confirmação equivale ao ato pelo qual, numa situação de anulabilidade, o titular do
direito potestativo de proceder à impugnação opta, antes, pela invalidação do negócio
atingido. Consta hoje do art.º 288.
A confirmação compete à pessoa a quem pertence o direito à anulação (art.º 288/2, 1º
parte). Lógico: só assim se explica o efeito, que ela assume, de sanar dificuldades. De
outra forma, ela surgiria expropriativa. Tem interesse relevar a locução legislativa
“direito à anulação”: estamos prante um verdadeiros direito potestativo, com toda a
carga jurídico-científica que isso implica.
2. Requisitos objetivos e subjetivos; ineficácia
A confirmação “só é eficaz” (art.º 288/2, 2º parte), cumulativamente:
▪ Quando for posterior à cessação do vício que serve de fundamento à
anulabilidade;
▪ Quando o seu autor tiver conhecimento do vício;
▪ E do seu direito à anulação.
Mas além disso, temos dois requisitos subjetivos:
▪ Quer do vício;
▪ Quer do seu direito potestativo à anulação.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 192
TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL II | PROFESSOR DOUTOR JOSÉ ALBERTO VIEIRA
3. Confirmação expressa e tácita; dispensa de forma
A confirmação pode ser expressa ou tácita (art.º 288/3, 1º parte). Trata-se de regra
comum, que emerge do art.º 217/1. Nos termos gerais confirmação tácita ocorre:
▪ Perante comportamentos que, com toda a probabilidade, revelem a intenção de
consolidar o negócio;
▪ Quando o interessado prescinda de invocar anulabilidades;
▪ Quando decorra um comportamento concludente, com esse conteúdo.
4. A (aparente) eficácia retroativa
O art.º 288/4 prescreve uma eficácia retroativa para a confirmação: mesmo em relação
a terceiros, nas próprias palavras do legislador.
Delimitações e natureza da confirmação
1. Ratificação e aprovação
A ratificação (art.º 268) é um ato jurídico unilateral que estabelece, a posteriori, um
vínculo de representação. Esta exige:
▪ Uma atuação nomine alieno;
▪ Por conta deles.
▪ Com poderes.
A ratificação estruturalmente, é bastante diferente da confirmação:
▪ Esta sujeito à forma da procuração (art.º 268/2), a qual equivale à forma
exigida para o negócio a realizar (art.º 262/2);
▪ Tem eficácia retroativa (art.º 268/2), uma vez que obriga a tratar o negócio
ratificado como se houvesse poderes de representação;
▪ Mas respeitando os direitos de terceiros (art.º 268/2) justamente porque
aqui há verdadeira eficácia retroativa.
A aprovação (art.º 269) é um ato próprio do dono do negócio, perante a gestão, por essa
via:
▪ Renuncia quaisquer direitos que pudesse ter contra o gestor;
▪ Reconhece o direito do gestor a reembolsos e indemnizações.
José Lourenço Gonçalves | TURMA B | 2021/2022 193
Você também pode gostar
- Apostila De Noções De Direito Processual CivilNo EverandApostila De Noções De Direito Processual CivilAinda não há avaliações
- Resumo Direito Dos Contratos II - Menezes LeitãoDocumento117 páginasResumo Direito Dos Contratos II - Menezes LeitãoAndreia Oliveira100% (1)
- Contratos de Prestação de ServiçosDocumento26 páginasContratos de Prestação de ServiçosMila DuarteAinda não há avaliações
- 05 - Contrato de MandatoDocumento5 páginas05 - Contrato de Mandatolucio langaAinda não há avaliações
- Contrato de Mandato ComercialDocumento15 páginasContrato de Mandato ComercialDiana CharruaAinda não há avaliações
- Mandato Artigo 2Documento14 páginasMandato Artigo 2Rafael MoreiraAinda não há avaliações
- Resumo de Direito Civil IIIDocumento29 páginasResumo de Direito Civil IIIClaudia NevesAinda não há avaliações
- Contrato de Mandato - Ana PaulaDocumento9 páginasContrato de Mandato - Ana PaulaAnaAinda não há avaliações
- MandatoDocumento1 páginaMandatoQuico RibeiroAinda não há avaliações
- Procuração - Instrumento Do MandatoDocumento10 páginasProcuração - Instrumento Do MandatovmbbmvAinda não há avaliações
- 1 - Introdução DOBDocumento39 páginas1 - Introdução DOBAna FigueiredoAinda não há avaliações
- Curso - Online - Completo - de - Direito - Civil - Modulo IV - Aula - 7 - MandatoDocumento8 páginasCurso - Online - Completo - de - Direito - Civil - Modulo IV - Aula - 7 - Mandatosimonebayer2Ainda não há avaliações
- A revogação e anulamento do ato administrativoDocumento12 páginasA revogação e anulamento do ato administrativoricardo quartimAinda não há avaliações
- Resumo Civil II - Rev. e Atual. - 01-12-2020Documento45 páginasResumo Civil II - Rev. e Atual. - 01-12-2020Bruno R. DuarteAinda não há avaliações
- ResumoDocumento15 páginasResumoBeatriz SimõesAinda não há avaliações
- Aula n8 - Negocio J Unilateral, Gestão de NegóciosDocumento9 páginasAula n8 - Negocio J Unilateral, Gestão de NegóciosJoão PereiraAinda não há avaliações
- Trabalho de Dir. Civil 2Documento24 páginasTrabalho de Dir. Civil 2isabellepenha73Ainda não há avaliações
- Direito Da EmpresaDocumento25 páginasDireito Da EmpresaVera GonçalvesAinda não há avaliações
- Contrato de MandatoDocumento9 páginasContrato de MandatoCosta Fernandes NkrumahAinda não há avaliações
- 65208-Texto Do Artigo-86260-1-10-20131120Documento15 páginas65208-Texto Do Artigo-86260-1-10-20131120Camila KalajianAinda não há avaliações
- Extinção Dos ContratosDocumento10 páginasExtinção Dos Contratoskarmanegativo1213Ainda não há avaliações
- Resumo sobre negócios jurídicosDocumento7 páginasResumo sobre negócios jurídicosmichaelpi8Ainda não há avaliações
- Resumos Menezes LeitaoDocumento128 páginasResumos Menezes LeitaoBeatriz Filipa Pompeu SousaAinda não há avaliações
- Aula2 20230309151403Documento2 páginasAula2 20230309151403Álisson CauãAinda não há avaliações
- Abuso de Mandato e Excesso Do LimiteDocumento15 páginasAbuso de Mandato e Excesso Do LimiteNanci HenriquesAinda não há avaliações
- Direito Civil. Aula 12. Da representação.Documento10 páginasDireito Civil. Aula 12. Da representação.RicardoAinda não há avaliações
- Iptu de Imóvel em Alienação FiduciáriaDocumento17 páginasIptu de Imóvel em Alienação FiduciáriaGustavo FilippiAinda não há avaliações
- Procuração TrabalhoDocumento5 páginasProcuração TrabalhoLauriano HandaAinda não há avaliações
- Sub Rogação Real e ObrigacionalDocumento12 páginasSub Rogação Real e ObrigacionalFábio Leonardo PimentelAinda não há avaliações
- Resumo de Direito Civil III - ContratosDocumento3 páginasResumo de Direito Civil III - ContratosMassao Matayoshi100% (2)
- Caracterização dos contratos de trabalho e prestação de serviços e determinação da subordinaçãoDocumento13 páginasCaracterização dos contratos de trabalho e prestação de serviços e determinação da subordinaçãoRicardo OliveiraAinda não há avaliações
- Fato e NegocioDocumento8 páginasFato e NegocioJosé Samuel SilvaAinda não há avaliações
- Questões de Prova Oral TGDCDocumento14 páginasQuestões de Prova Oral TGDCTeresa AraújoAinda não há avaliações
- Resumo - Direito Civil - Contratos (Atualizado - Maio 2020)Documento96 páginasResumo - Direito Civil - Contratos (Atualizado - Maio 2020)eullerAinda não há avaliações
- Apontamentos 1Documento141 páginasApontamentos 1xanoca1386% (7)
- ATPS Direito Civil 5 SemestreDocumento18 páginasATPS Direito Civil 5 SemestreLigia Maria Oliveira JorgeAinda não há avaliações
- Ordem Dos Advogados - Doutrina - João Nuno Calvão Da Silva - Procuração (Artigo 116.º Do Código Do Notariado e Artigo 38.º Do Decreto-Lei NDocumento11 páginasOrdem Dos Advogados - Doutrina - João Nuno Calvão Da Silva - Procuração (Artigo 116.º Do Código Do Notariado e Artigo 38.º Do Decreto-Lei NcmmirandolaAinda não há avaliações
- Ato Jurídico, Fato Jurídico, Negócio JurídicoDocumento14 páginasAto Jurídico, Fato Jurídico, Negócio JurídicoJunior Tomaz de AquinoAinda não há avaliações
- Teoria Geral do Direito Civil IIDocumento25 páginasTeoria Geral do Direito Civil IIKuake HDAinda não há avaliações
- Resumito TeoriaDocumento7 páginasResumito TeoriainesAinda não há avaliações
- Elementos dos negócios jurídicosDocumento18 páginasElementos dos negócios jurídicosJosé Manuel Jaime JúniorAinda não há avaliações
- Procuração Irrevogável no Direito AngolanoDocumento5 páginasProcuração Irrevogável no Direito Angolanobelmiro adrianoAinda não há avaliações
- Contrato de Mandato - ResumoDocumento6 páginasContrato de Mandato - ResumoCarlos FernandoAinda não há avaliações
- Estatuto Da Oab Comentado (Material Completo)Documento45 páginasEstatuto Da Oab Comentado (Material Completo)valparaisoandreAinda não há avaliações
- Intervenção de Terceiros - AssistênciaDocumento9 páginasIntervenção de Terceiros - AssistênciaGabriel SilvaAinda não há avaliações
- Perguntas e Respostas de Direito Civil IIDocumento4 páginasPerguntas e Respostas de Direito Civil IIclaudioAinda não há avaliações
- O Usufruto e as principais alterações do Novo Código CivilDocumento4 páginasO Usufruto e as principais alterações do Novo Código CivilWilliam_BitterAinda não há avaliações
- Fato Jurídic1Documento3 páginasFato Jurídic1Isabelle FrançaAinda não há avaliações
- NEGÓCIO JURÍDICO - Escada Ponteana PDFDocumento7 páginasNEGÓCIO JURÍDICO - Escada Ponteana PDFbrunotyroneAinda não há avaliações
- Capítulo I A Relação ObrigacionalDocumento14 páginasCapítulo I A Relação ObrigacionaledgarAinda não há avaliações
- TEORIA GERAL DOS FATOS JURIìDICOSDocumento5 páginasTEORIA GERAL DOS FATOS JURIìDICOSenzonescalAinda não há avaliações
- Apontamentos TGDCDocumento26 páginasApontamentos TGDCInes MartinsAinda não há avaliações
- Negócio JurídicoDocumento3 páginasNegócio JurídicoPaulo JoaquimAinda não há avaliações
- IntroduçãoaoDireitoNotarialeRegistral PDFDocumento20 páginasIntroduçãoaoDireitoNotarialeRegistral PDFJeane Fernandes100% (1)
- Contrato de Mandato: conceito, características e formasDocumento6 páginasContrato de Mandato: conceito, características e formasCarlos FernandoAinda não há avaliações
- Plano validade negócio jurídicoDocumento9 páginasPlano validade negócio jurídicoSilvio CirqueiraAinda não há avaliações