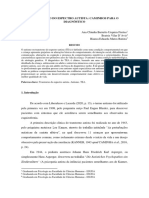Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Medicina Insana, Capítulo 4 - A Fabricação de Transtornos Do Espectro Do Autismo (TEA) (Parte 2) - Modo Leitor
Enviado por
Diniz Com ZDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Medicina Insana, Capítulo 4 - A Fabricação de Transtornos Do Espectro Do Autismo (TEA) (Parte 2) - Modo Leitor
Enviado por
Diniz Com ZDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Personalizar aparência
Medicina Insana, Capítulo 4: A Fabricação de
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA)
(Parte 2)
Nota do editor: Nos próximos meses estaremos publicando uma
versão seriada do livro de Sami Timimi, Insane Medicine. A parte 1 do
capítulo 4 foi publicada há duas semanas. Na Parte 2,Sami discute a
falta de resultados para qualquer base genética ou neurobiológica
para os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), bem como os
critérios de diagnóstico e testes para o TEA. Todos os capítulos serão
arquivados aqui.
Genética do TEA: A hipótese nula foi refutada?
Como discutido anteriormente, a posição cientí ca correta é assumir
que o que estamos a caracterizar como autismo ou Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA) não existe como uma categoria natural
até que possamos demonstrar que esta hipótese nula não pode ser
verdadeira. Se quisermos classi car o TEA como uma desordem
geneticamente predeterminada de desenvolvimento neurológico,
temos de demonstrar que a hipótese nula – de que não existem
genes especí cos ou anomalias/diferenças neurológicas – não pode
ser verdadeira.
O argumento de que o autismo é uma condição fortemente genética
baseia-se principalmente em estudos com gêmeos. Expliquei no
último capítulo sobre TDAH porque é que estimar a hereditariedade
genética utilizando o método dos gêmeos não ajuda a distinguir as
causas ambientais das genéticas. A única forma ável de estabelecer
a relevância do componente genético é através de estudos genéticos
moleculares, graças a existência de uma base de dados crescente
que envolve digitalizações do genoma inteiro de milhares de crianças
com o rótulo de autismo.
Não foram descobertos genes especí cos, característicos, raros,
comuns, ou poligênicos para o autismo, mas não por falta de procura.
Vários genes candidatos, estudos de associação, varreduras de
genoma e estudos de cromossomas não conseguiram produzir e
replicar de forma ável quaisquer genes particulares associados
especi camente ao autismo. Quanto mais falhas se acumulam, mais
os proponentes do paradigma da explicação genética começam a
falar desesperadamente sobre como a genética do autismo é
“complexa” e que deve haver algum tipo de misteriosas interações
poligênicas que explicam a “hereditariedade ausente”.
A explicação mais provável para esta constatação, ou melhor, a falta
de constatação – que não existem genes que causem autismo – é
inominável.
O fracasso contínuo na identi cação de especi cidades parece ser
resultado da identi cação da maioria dos cromossomas humanos
como sendo potencialmente portadores de genes do autismo, com
grandes revisões por parte de peritos a concluírem geralmente:
“Muitas equipes de investigação têm procurado genes que possam
estar envolvidos. Ainda não encontraram nenhum candidato principal,
apenas dezenas, talvez centenas de agentes” (Hughes escrevendo
em 2012) e “Com o advento das técnicas de sequenciamento da
última geração, o número de genes encontrados que estão
associados ao TEA está a aumentar para mais de 800 genes;
consequentemente, está a car ainda mais difícil encontrar
explicações uni cadas e associações funcionais entre os genes
envolvidos” (Al-jawahiri e Milne escrevendo em 2017).
A elevada proporção de homens em relação às mulheres nos
diagnósticos de TEA também constitui um grande problema para as
teorias genéticas. Os mecanismos genéticos precisam de dar conta
disto (como o autismo transmitido através do cromossoma X), e até
agora nenhum estudo genético molecular encontrou uma ligação
entre os cromossomas X ou Y.
Em vez de enfrentarmos a possibilidade de os genes não se
revelarem por não estarem presentes, estamos entrando em uma era
em que múltiplas equipes de investigação se juntam para criar
bancos de “grandes dados”, na esperança de que isto possa revelar
associações minúsculas. É difícil encarar a possibilidade de que esta
massa de dinheiro para a investigação tenha levado a um esforço
desperdiçado, pelo que, ao em vez disso, continuam a receber a
maior parte do dinheiro desperdiçado com a investigação. Porque “a
tecnologia de sequenciamento con rmou rapidamente que a
etiologia do TEA era multigênica e altamente heterógena, com muito
poucas das mesmas variantes patogênicas presentes em uma
percentagem signi cativa de indivíduos afetados” (Rylaarsdam e
Guemez-Gamboa, escrevendo em 2019); e assim “Pode levar muitas
mais décadas de investigação até que a comunidade cientí ca tenha
uma imagem precisa de como estes moduladores contribuem para a
etiologia do TEA. No entanto, este entendimento é fundamental para
o desenvolvimento de terapias e cazes” (escrito por Al-jawahiri and
Milne em 2017).
Sim, continuem, com o seu dinheiro, a jogar-nos para a investigação.
Até agora fracassamos, mas será que precisamos de décadas a mais
com esses fracassos para saber realmente o quanto fracassamos,
porque não compreendemos os princípios básicos da metodologia
cientí ca? Mas nós somos cientistas, parecemos cientistas, falamos
como cientistas, por isso o público deve acreditar em nós.
Cienti camente falando, então, temos de assumir que no que diz respeito à
genética, o armário está vazio e a hipótese nula mantém-se: Não há nenhuma
anomalia genética característica identi cável/per l associada ao TEA.
Estudos de imagem cerebral TEA: A hipótese nula foi refutada?
Uma consideração importante a ser tomada em consideração em
qualquer análise de per s de neuroimagem é a da
“neuroplasticidade”. Isto refere-se à notável capacidade do sistema
nervoso (particularmente em crianças) de crescer e mudar em
resposta a estímulos ambientais. A surpreendente plasticidade do
cérebro humano torna difícil determinar causa e efeito precisos,
quando indivíduos com diferentes experiências de vida mostram
subsequentemente o que parecem ser diferenças na estrutura ou
funcionamento neurológico. Este inconveniente torna difícil para os
investigadores determinar as características comportamentais que
as crianças apresentam como sendo causadas por quaisquer
anomalias ou diferenças neurológicas.
Vemos esta neuroplasticidade em jogo de todas as maneiras, desde
a capacidade que as crianças têm de compensar ao longo do tempo
as lesões cerebrais, até às descobertas de que os taxistas londrinos
têm volumes maiores do que qualquer outra pessoa de áreas
cerebrais que estão altamente envolvidas na navegação e na
consciência espacial. Assim, quaisquer diferenças cerebrais
encontradas podem ser o resultado de fatores ambientais que afetam
o desenvolvimento cerebral (como traumas psicológicos), diferenças
nas taxas de maturação (por exemplo, sabemos que em média as
meninas se desenvolvem um pouco mais depressa do que os
meninos) e variações resultantes de outras características nos
tópicos de investigação (por exemplo, a sua capacidade intelectual).
Isto signi ca que não podemos assumir que as diferenças que
encontramos são o resultado de um problema biológico pré-
existente. A nal, o cérebro é o órgão corporal cuja função é a de
permitir que o organismo se adapte ao ambiente. Seria surpreendente
se o cérebro não fosse in uenciado pelas experiências que o
organismo tem.
No entanto, o maior problema para os estudos do autismo, como no
caso do TDAH, advém da falta de resultados consistentemente
replicados. Esta consistente incoerência agela a investigação nesta
área. Por exemplo, alguns estudos centrados numa área do cérebro
chamada “cerebelo” documentaram um aumento do volume cerebelar
entre crianças diagnosticadas com um TEA, enquanto outros
encontraram volumes cerebelares inferiores à média; outros ainda
não relataram diferenças signi cativas entre crianças com TEA e
indivíduos sem TDAH.
Do mesmo modo, estudos sobre outra área chamada ” amígdala” têm
sido amplamente inconsistentes, incluindo alguns estudos que
encontraram diferenças signi cativas em volume e outros que não
encontraram diferenças. Este é o quadro que emerge desta
investigação. Com uma regularidade de relógio, uma equipe de
investigadores anuncia a sua última descoberta: “Descobrimos que
as ligações entre as duas metades do cérebro são menores no
autismo, sugerindo que o TEA é uma desordem da conectividade
cerebral“, e isto passa depois pelos meios de comunicação social
mundiais, mas depois nunca ouvimos falar das subsequentes
equipes de investigação que não conseguem replicar estas
descobertas.
Esta realidade ambígua, confusa e contraditória da investigação
cerebral sobre o autismo foi-me trazida para o meu país quando
participei num debate sobre o autismo com um colega em um evento
académico em Março de 2017. Cada um de nós teve de apresentar
documentos que apoiassem o nosso ponto de vista. O colega com
quem estava a debater, que acredita que o autismo é uma
perturbação “conhecida” do sistema nervoso e que com investigação
su ciente descobriremos a sua base neurológica, apresentou três
comunicações para apoiar a sua posição. Eram:
1. “O quadro emergente do transtorno do espectro do autismo:
Genética e patologia“, um artigo de Chen e colegas de 2015. Este
artigo propõe que a investigação aponta para um papel primordial
no TEA para o sistema límbico e o cerebelo.
2. “Neuroimagem no transtorno do espectro do autismo: Estrutura e
função do cérebro durante toda a vida“, um artigo de Ecker e
colegas de 2015. Este artigo centra-se nos lobos frontais e
temporais e no córtex cerebral como os principais locais de
interesse na causa do TEA.
3. “Perturbações do espectro autista: Uma revisão das
características clínicas, teorias e diagnóstico“, um artigo de
Fakhoury de 2015. Este documento é o balanço das sinapses
excitatórias e inibitórias para a questão principal no TEA.
É uma confusão completa. Nenhum tema comum emergiu destas
três revisões de investigação do “estado da arte”. Há poucas
coincidências nas suas teorias favoritas. Nenhum dos artigos
discutiu devidamente os efeitos do ambiente ou possíveis outros
fatores (como os níveis de de ciência intelectual nas amostras de
investigação) sobre os resultados.
As teorias vêm e vão, e ninguém faz realmente ideia do que, como, ou
onde está essa aparente anormalidade ou diferença de
desenvolvimento neurológico. É um caldeirão giratório de cientistas
autoproclamados que não conseguem enfrentar uma realidade
assustadora – que a sua ciência não tenha cumprido os requisitos
básicos exigidos pelo método cientí co. A maioria parece não estar
preparada para a rmar o óbvio – que a hipótese nula se mantém e
que a sua investigação talvez se encaminhe de um beco sem saída
atrás do outro para uma cacofonia de becos sem saída.
Finalmente, alguns investigadores estão a despertar para a ideia de
que possivelmente não irão encontrar nada. Um artigo de 2016
intitulado “validade do TEA”, que inclui entre os seus autores o
famoso investigador do autismo Professor Christopher Gillberg,
conclui: “Os resultados analisados indicam que o diagnóstico TEA
carece de validade biológica e construtiva“, e recomendam a
supressão dos diagnósticos TEA como base para a investigação.
Infelizmente, eles continuam a sugerir uma construção neuro-
desenvolvimentista mais ampla. Nenhuma destas provas (ou melhor,
a sua falta) parece ter o mínimo de impacto na expansão contínua
dos números que recebem rótulos TEA ou no pressuposto de que
existe uma coisa natural chamado autismo.
Também aqui, no que se refere à ciência, o armário está igualmente vazio. Ninguém
se aproximou de encontrar uma anomalia característica, e como resultado não
existe um marcador biológico ou exame ao cérebro utilizado para diagnosticar o
autismo. A hipótese nula mantém-se – não existe nenhuma anomalia característica
do cérebro associada ao TEA.
O que é a nal o autismo?
O TEA não se desenvolveu a partir de qualquer descoberta cientí ca e
foi criado e popularizado através de motivações sociais e políticas.
Não devemos car surpreendidos com a falta de progressos na
descoberta das bases biológicas. Não sabemos realmente como
fazer uma de nição utilizável e exclusiva de um caso. Se a nossa
de nição de um caso inclui uma grande variedade de características
que estão espalhadas de diferentes maneiras pelas populações, não
nos devemos surpreender quando os resultados da investigação
mostram uma grande variação semelhante de descobertas.
Hoje em dia a mesma síndrome de nida comportamentalmente
(TEA) é aplicada aos residentes de instituições com pouca esperança
de viverem independentemente e uma longa lista de grandes e
virtuosos como Mozart, Van Gogh, Edison, Darwin, Einstein – todos
eles, juntamente com muitos outros, foram diagnosticados
retrospectivamente como tendo um TEA (basta digitar “pessoas
famosas com autismo” no Google e ver o que surge).
Da perspectiva da “de ciência”, este é todo o espectro humano. Será
que as pessoas que apoiam a ideia de que o TEA é uma condição
reconhecível dizem seriamente que o que pode ser útil para estes
ícones culturais é o mesmo que para os residentes de instituições
com pouca linguagem funcional?
Este problema de ter um vasto repertório de formas de apresentar
comportamentos e níveis de funcionamento que podem levar a um
diagnóstico é referido como o problema da “heterogeneidade”
(de nido como a qualidade ou estado de ser diverso em carácter ou
conteúdo). Não só as características “nucleares”, tais como
di culdades na comunicação social, têm um grande cruzamento com
pessoas que não se considerariam como tendo um ” transtorno”, mas
os que são considerados como sintomas de autismo são também
normalmente listados numa variedade de diagnósticos de saúde
mental – desde TDAH à depressão, ansiedade a psicose.
A heterogeneidade é amplamente reconhecida como uma questão
nas publicações “mainstream” sobre o autismo. No entanto, longe de
se ver isto como um grande problema no que diz respeito à validade
cientí ca e médica do conceito, é muitas vezes explicado como um
re exo da “complexidade” do autismo. Isto leva à situação ridícula
em que, numa conferência em que estive presente, um consultor de
uma nova unidade de avaliação do autismo estava orgulhosamente
falando dos primeiros 100 pacientes que tinham diagnosticado com
TEA em sua nova clínica nacional e de como, “se reuníssemos essas
100 pessoas numa sala e falássemos com elas, teríamos di culdade
em ver o que elas tinham em comum“.
Isto foi apresentado para explicar quão variado o TEA se apresenta
nas pessoas reais, mas a inutilidade e bizarrice ( apenas do ponto de
vista do senso comum, quanto mais cientí co) de dar às pessoas que
tinham pouco em comum o mesmo rótulo, parecia perdida neste
apresentador (e infelizmente, a maioria dos pro ssionais da indústria
do autismo).
Para onde quer que olhe, a heterogeneidade e a falta de clareza
conceitual sobre o que é o autismo, é evidente. Esta confusão é
aparente ao examinar “critérios de diagnóstico” relativamente a
outros “diagnósticos” comuns. Por exemplo, nos critérios para ”
transtorno de conduta” pode-se encontrar “incapacidade de formar
laços com pares e egocentrismo, o que é demonstrado pela
disponibilidade para manipular os outros por favores sem qualquer
esforço para retribuir, juntamente com uma falta geral de sentimentos
pelos outros“. Esta descrição tem (provavelmente) uma semelhança
mais próxima com as descrições dos casos sobre os quais Hans
Asperger escreveu do que os casos de Lorna Wing (como discutido
na Parte 1).
Uma das características centrais do espectro autista é a falta de
empatia, uma falta que se destina a causar di culdades duradouras
nas interações sociais. Como é que este tipo de “falta de empatia”
pode ser diferenciado da falta de empatia encontrada no transtorno
de conduta, ou mesmo no “transtorno da personalidade” de um
criminoso? Outros ” transtornos”, como a ” transtorno de apego”,
também descrevem crianças que carecem de empatia e têm o que se
designa por “padrões disfuncionais de interação social”.
O transtorno de apego é descrito como frequentemente associada a
alguma forma de negligência, abuso, ou trauma; contudo, na ausência
de provas sólidas sobre o que causa o transtorno de apego ou
autismo, fazendo a distinção entre “disfunção social” no contexto do
transtorno de conduta, transtorno de apego, ou TEA, torna-se pouco
mais do que uma questão de semântica transmitida pela opinião
subjetiva do diagnosticador. Esta confusão de cruzamento de
sintomas não se limita aos transtornos de conduta e de apego, mas
abrange potencialmente todo o espectro dos diagnósticos
psiquiátricos.
Que tal o “sintoma” de “comportamentos restritos e repetitivos”? As
suas versões encontram-se em critérios descritos no transtorno
obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade obsessivo,
transtorno de personalidade esquizoide, TDAH (como nos jogos de
computador), transtorno depressivo importante (preocupação
mórbida com aspectos negativos da vida), transtornos alimentares
( xação com alimentos e/ou peso), e assim por diante.
Longe dos manuais e dos sintomas medicalizados, também se pode
encontrar isto: a maioria dos homens (por exemplo, com o
futebol/sociedade!), desportistas (com os seus programas
desportivos e de treino), e a humanidade em geral, uma vez que um
interesse obsessivo numa esfera restrita é característico não só de
um estado de espírito deprimido, mas também da aplicação
necessária para a descoberta e exploração. A maioria dos grandes
realizadores tem assim a capacidade de “ xar-se” na sua área de
interesse/experiência. Na estranha circularidade do raciocínio, esta
torna-se então a motivação para rotular a longa lista de grandes
realizadores mencionados anteriormente como tendo TEA – a sua
capacidade de xação num assunto torna-se prova de que “têm”
supostamente TEA.
E quanto ao “sintoma” de “falta de empatia”? Como já foi
mencionado, pode ver-se isto em muitos diagnósticos formais, tais
como transtornos de conduta e de apego, mas também em
depressão, psicose, TDAH, transtornos de personalidade, e assim por
diante. Também pode aparecer como resultado de uma falta de
autocon ança em situações sociais. A percepção de maus
resultados ou um sentimento de inferioridade numa cultura
competitiva pode também levar as pessoas a afastarem-se de uma
série de interesses comuns. De fato, se pensarmos nisso, qualquer
experiência ligada a uma preocupação com os nossos próprios
problemas tende a reduzir o interesse pela vida e interesses de outras
pessoas. A dimensão da possibilidade de ngir interesse em todos os
assuntos ou de se empatizar com todas as di culdades é limitada. À
medida que as expectativas de empatia social (por exemplo, na
escola e no local de trabalho) aumentam, mais pode parecer faltar
esta capacidade.
Assim, aquilo que são considerados sintomas primários do TEA
como “di culdades de comunicação social”, “falta de empatia” e
“comportamentos restritos e repetitivos” não podem ser
considerados como patologia/diferença individual isolada sem uma
compreensão do contexto em que aparecem. Quando se começa a
escavar em torno do subsolo que está na base da nossa ideia de
autismo, torna-se evidente que este é tão super cial; nada pode
realisticamente instalar-se ali. Não é de surpreender que tudo o que
temos seja o cienti cismo a sustentar o autismo como um conceito.
Se não conseguimos encontrar nenhum limite, ainda que vago, para
manter o conceito unido, como é que esperamos encontrar correlatos
ou marcadores biológicos? A razão pela qual não conseguimos
encontrar nenhum é, portanto, óbvia. De acordo com a ciência real,
então, o TEA é um fato de cultura e não um fato da natureza.
O TEA, portanto, nem sequer funciona bem como uma classi cação
descritiva. É o que os terapeutas que trabalham com narrativas
chamariam uma “descrição na” porque deixa de fora todo o tipo de
outras coisas que podem ser importantes para se compreender a
vida daquela pessoa (família, ambiente social, escola, traumas, etc.)
bem como as suas capacidades, habilidades, e coisas em que fazem
bem. Estes outros traços tornam-se menos importantes do que o
“diagnóstico”, através do qual outros descritores e eventos podem
agora ser lidos e vistos como secundários.
Não só os “sintomas” são construções frágeis, como há muitas
situações em que não é necessário um conceito misterioso como o
autismo para descrever a apresentação, uma vez que processos
relativamente comuns e relativamente fáceis de compreensão
poderiam estar a funcionar.
Por exemplo, o TEA tem sido considerado mais comum em crianças
imigrantes. Quando a origem familiar de uma pessoa difere
culturalmente em grau signi cativo do resto da comunidade local,
juntamente com o stress e a adversidade psicossocial que
frequentemente acompanha uma mudança tão dramática das
circunstâncias das pessoas, e particularmente se não houver uma
comunidade já existente que possa fornecer apoio e familiaridade
cultural, não poderia isto levar a “sintomas” do tipo autismo, tais
como falta de reciprocidade social, afastamento, etc.?
Do mesmo modo, crianças e jovens com uma variedade de
“imperfeições” (má coordenação motora, descaracterização facial,
di culdades de fala, etc.) poderiam também ter di culdades em fazer
amigos e, por necessidade, retirar-se para a busca de interesses
solitários. As mudanças no estilo de vida podem também causar
mudanças nos padrões de socialização semelhantes aos que são
descritos pelos sintomas de TEA. A utilização de extensa tecnologia
baseada em tela, particularmente nos primeiros anos, poderia reduzir
o interesse pela socialização presencial e, em vez disso, forjar uma
preferência pelo escapismo encontrado na TV, nos jogos de
computador e no YouTube.
Estou em contato com um grupo de pro ssionais (incluindo
psiquiatras e terapeutas) na França e no Norte de África, que têm
documentado esta associação e prescrito intervenções que incluem
a retirada ou limitação do tempo em frente a uma tela com, após
algumas semanas ou meses, um desaparecimento relatado da
maioria dos “sintomas” da TEA em algumas crianças.
Assim, para além da construção social dos signi cados associados
aos comportamentos ditos indicativos de autismo, temos também
um conjunto diversi cado de possibilidades para os potenciais
percursos que podem levar a experimentar tais comportamentos.
Para alguns, as anomalias cerebrais que causam di culdades na
aprendizagem e bom funcionamento do corpo e do sistema nervoso
podem resultar na luta para acompanhar os colegas, fazer amigos,
ou, a um nível mais grave de lesão cerebral, a incapacidade de fazer
sentido das noções básicas de linguagem e comunicação. Um
mundo mais solitário é um resultado que se pode compreender.
Para alguns, graves agressões ambientais (como a privação sentida
por muitos nos infames orfanatos romenos) podem prejudicar o
desenvolvimento. Para muitos, um conjunto único de circunstâncias
envolvendo a interação de fatores biológicos e psicológicos poderia
ser relevante. Pequenas diferenças biológicas responsáveis por
características físicas, incluindo a coordenação mão-olho e o
processamento sensorial, podem ter impactos psicológicos
signi cativos, especialmente se vividas ao longo da infância, num
clima de intensa competição social. Um rapaz desajeitado terá
di culdade em misturar-se com outros rapazes que jogam os jogos
de bola sempre populares que exigem um bom controle motor e
capacidades visuais-espaciais.
Uma combinação de fatores sutis de diferenciação pode estar em
jogo. Uma criança pode vir de uma família culturalmente atípica e,
devido a alguma falta de jeito, não se integrar no grupo de pares da
comunidade local, deixando-a vulnerável à exclusão. Uma criança
sem amigos pode então retirar-se para um mundo atomizado, por
vezes centrado nas atrações viciantes das engenhocas eletrônicas,
tornando mais fácil do que nunca na história humana para os
desiludidos simplesmente juntarem-se a um universo virtual paralelo.
Há outra questão que vale a pena mencionar que surge quando se
fala de algo estar num “espectro”. Um espectro signi ca que todos
nós estamos, até certo ponto, neste espectro. No entanto, as pessoas
que são classi cadas com um ” transtorno de espectro autista” são
colocadas numa categoria diferente do resto de nós. Um diagnóstico
é uma classi cação binária. Ou se a tem ou não se tem. Chamar a
algo um ” transtorno” transforma um espectro em, a dada altura, já
não num espectro, mas em algo que existe como uma categoria
separada.
Não se vê isto no resto da medicina. Não se encontra pessoas a dizer
que tem uma “doença de asma” ou “doença de diabetes” ou “doença
de insu ciência cardíaca”. Ao colocarmos a palavra ” transtorno” no
começo, tornamo-la numa patologia, por isso quando classi camos
alguém com TEA não estamos a dizer “Você está no nonagésimo
percentil do espectro”, simplesmente tem um transtorno ou não tem.
Seja como for, o TEA é inútil, não cientí co, limitador, e, diria eu, uma construção
destrutiva.
Mas certamente que “examinamos” o autismo, não é mesmo?
A mercantilização do TEA resultou no crescimento daquilo a que
agora se chama enganosamente “testes” para o TEA. A utilização
desta linguagem medicalizada de um “exame” dá-lhe a aura de algo
cientí co e médico que lhe dá algum tipo de resultado e medição
precisos – algo que pode responder à pergunta “o meu lho tem TEA?
Estes testes baseiam-se ou na observação e classi cação de uma
pessoa que realiza tarefas de nidas ou em respostas dadas a um
questionário. Cada pergunta ou tarefa é pontuada de certa forma, de
modo que no nal tem uma pontuação total e uma resposta sobre se
tem pontuado acima ou abaixo do ponto de corte.
A utilização de números dá-lhes mais credibilidade aos olhos do
público, pois parece que o avaliador está a medir algo. Mas tudo o
que fazem é escrever um número que corresponde à sua
interpretação das respostas dadas por uma determinada pessoa num
determinado momento, ou à sua interpretação das observações
feitas sobre uma determinada pessoa num determinado contexto,
num determinado momento. Este número arbitrário é então
comparado com outro número arbitrário (o presumível ponto de
corte) para decidir se têm ou não TEA. Estes “exames” não fornecem
quaisquer dados físicos sobre o funcionamento interno da mente ou
do corpo, pelo que não podem ser vistos como tendo o mesmo
estatuto que os exames médicos que medem as características
físicas e que funcionam como uma ajuda ao diagnóstico.
Se zéssemos medicina física da mesma forma, em vez de lhe
colocarmos um es gmomanômetro à volta do braço para medir a sua
tensão arterial, teríamos um questionário e algumas observações que
pontuaríamos à medida que avançássemos e depois, se pontuasse
acima de um certo número, diríamos “tem um Transtorno da Pressão
Arterial“. Na forma como a maioria das unidades de avaliação de TEA
funcionam agora, esse seria o seu trabalho feito: “Examinámo-lo e
descobrimos que tem um Transtorno da Tensão Arterial. É um
distúrbio que dura toda a vida. Aqui estão alguns folhetos e links para
alguns websites sobre Perturbação da Tensão Arterial. Tenha uma
boa vida. Adeus“.
Em 2017, participei, juntamente com outros 13 participantes, numa
formação de dois dias sobre a administração de um destes
instrumentos de teste do autismo (sim, são por vezes referidos como
“instrumentos”) – Escala de Observação Diagnóstica do Autismo
(EODA), provavelmente o “teste” mais utilizado para o autismo. A
primeira versão foi publicada pela primeira vez em 1989, com várias
atualizações desde então.
Para o curso, o EODA foi anunciado como sendo uma “medida
semiestruturada padronizada de comunicação, dé cits sociais, e jogo
associado ao TEA”. A linguagem de “padronizado”, “medida”, e
“dé cits” ajudam a promover a ilusão de que esta é uma abordagem
empiricamente válida e quanti cável para a identi cação de um
problema médico. Há 5 módulos à escolha. Cada módulo classi ca
os fenômenos semelhantes, mas utiliza algumas atividades
diferentes para diferentes idades ou níveis de intelectualidade.
Vale a pena recordar o contexto geral, que re ete vários níveis de
pressupostos. Isto inclui que o TEA existe como uma “coisa” discreta
e natural, que essa “coisa” pode ser identi cada e quanti cada, que a
identi cação e a medição podem ser feitas de forma válida e ável
através de ferramentas de avaliação especí cas, que o EODA é uma
dessas ferramentas, que os itens no EODA englobam e identi cam os
“sintomas” que compõem o TEA, que o EODA tem abilidade
su ciente para lhe permitir não obter falsos positivos (pessoas a
quem é dado um rótulo TEA mas que não o “têm”), e que pode ser
treinado para administrar o EODA de uma forma “normalizada”, para
fazer com que o EODA que sujeito a pouca variação inter-
relacionada. Cada nível assertivo é uma questão em aberto. Se
alguma destas hipóteses não se justi car, então a validade do EODA
esmorece.
A avaliação do EODA envolve um entrevistador (a quem me referirei
como “examinador”) e um sujeito (a quem me referirei como
“paciente”). O examinador apresenta uma série de tarefas para o
paciente completar num tempo limitado e depois retira cada tarefa no
nal deste tempo e passa para a tarefa seguinte. Todo o processo
deve demorar um mínimo padronizado de 40 minutos e um máximo
de 60 minutos. O comportamento do paciente é observado e recebe
classi cações numéricas, que o examinador coloca num folheto de
observação.
O examinador não está autorizado a alterar ou modi car a sua
abordagem em resposta ao comportamento do paciente, incluindo a
exigência de produzir todas as tarefas em sequência. As tarefas
incluem jogo livre; descrever uma história de um livro ilustrado;
brincar com guras em miniatura; completar um puzzle; e, com
pacientes mais velhos, questões sobre a sua vida social,
compreensão das relações, e esperanças para o futuro. Ao longo da
avaliação, o examinador procura a presença de certos “sintomas” ou
a ausência de comportamentos “normais”, que serão depois
utilizados para completar o sistema de classi cação numérica.
Para aprender a administrar os EODA, os participantes do curso (eu
incluído) assistiram a várias sessões de avaliação de EODA gravadas
em vídeo, zeram as nossas próprias classi cações do que
observámos, e foram depois ensinados pelo facilitador do curso
quais eram as classi cações ” corretas” e como utilizar essas
classi cações para fazer um diagnóstico (ou não).
A língua utilizada baseia-se em pressupostos que passaram
despercebidos (ou não comentados se o foram) durante o curso. Não
foi reconhecido que estas avaliações ocorrem num contexto e
cenário particular (tal como uma clínica médica na sequência de
preocupações expressas por alguém sobre uma criança) ou que o
comportamento do examinador poderia ter um impacto na forma
como o paciente se comportou subsequentemente. O pressuposto
era que o contexto e o lado examinador da dinâmica relacional na
sala de avaliação não são signi cativos, de modo que o que emerge
durante a avaliação é puramente o resultado da biologia do paciente.
A rigidez quase artística de ver apenas qualidades internas “reais”
nos pacientes era um tema recorrente. A maior parte das perguntas
que z durante o curso decorreu de um verdadeiro enigma sobre
como certos comportamentos dos pacientes nos vídeos das
entrevistas de avaliação a que assistimos podiam ser interpretados
como consequência exclusiva dos sintomas no paciente. Isto levou a
uma circularidade lógica em que o facilitador do curso insistiu que o
que estava a ser observado só podia ser entendido como sendo as
manifestações de TEA derramadas na sessão de avaliação, devido à
perícia/experiência do examinador na realização de uma avaliação
padronizada.
Assim, enquanto o facilitador nos guiava através da pontuação, eles
continuaram a referir-se ao ” fato ” de este ou aquele sintoma ter
ocorrido. As interpretações não patologizantes não eram toleradas.
Estávamos todos a ser treinados para nos tornarmos examinadores
com um olhar atento para reparar em todas as minúcias do “não
normal” do paciente.
O que resulta disto é uma visão mecanicista das interações sociais.
Os cenários/tarefas são estabelecidos como se o examinador, as
suas ações e o ambiente existissem como variáveis controláveis para
que o que emerge demonstre irrefutavelmente as anormalidades
sociais dos pacientes. Num exemplo, o facilitador do curso,
discutindo as interações de um paciente anterior com a sua mãe,
demonstrou esta visão unilateral das interações sociais. Neste
exemplo, ela contou-lhe uma história contada por um dos pais de
uma criança trazida para a clínica deles.
Aparentemente, esta mãe tinha perguntado ao seu lho: “Porque é
que nunca você me olha?” A criança começou então a olhar para ela.
A mãe queixou-se agora: “Porque é que você me olha xamente?”. O
menino confuso decidiu agora que talvez devesse aprender a olhar
para ela e depois afastar-se dela. A mãe queixou-se agora: “Porque é
que você move os seus olhos de um lugar para outro?” De acordo
com esta história, o menino acabou por desenvolver uma fórmula
complexa sobre quanto tempo devia olhar para ela e afastar-se dela.
Ao contar esta história, o facilitador não fez qualquer comentário
sobre o papel da mãe neste desconforto relacional em
desenvolvimento – tudo isto foi o resultado do TEA (na altura não
diagnosticado) desta criança.
Não foi levado em conta a relevância cultural das
atividades/perguntas no EODA. A ilusão de objetividade começa a
dissolver-se quando se vê a formulação do que se está a pedir para
ser avaliado. Por exemplo, para classi car “uso
estereotipado/idiossincrático de palavras ou frases“, é dada uma
marca de 2 (indicando elevado grau de anormalidade) se o paciente
“usa frequentemente expressões estereotipadas ou palavras ou
frases estranhas, com alguma outra língua“. Uma marca de 1
(indicando algum nível de anormalidade) é “O uso de palavras ou
frases tende a ser mais repetitivo do que o da maioria dos indivíduos
no mesmo nível de linguagem expressiva, mas não obviamente
estranho“.
Para “Qualidade das atitudes sociais“, 1 é “Qualidade ligeiramente
incomum de algumas atitudes sociais. As atitudes podem ser
restritas a exigências pessoais ou relacionadas com os próprios
interesses da criança, mas com alguma tentativa de envolver o
avaliador“, 2 é “Minoria signi cativa (ou mais) de atitudes
inadequadas; muitas atitudes carecem de integração no contexto
e/ou qualidade social“. Note-se que palavras como “frequentemente”,
“invulgar”, “qualidade”, “algumas”, “signi cativas”, etc. Todos
requerem um examinador para interpretar – não se prestam a
estabelecer fatos objetivos. Todas as classi cações são assim.
Como é que o f**k está destinado a decidir como é uma “qualidade
incomum de algumas atitudes sociais”? Oh, espere um minuto, claro,
é um perito que sabe como ver isso. Excelente, então como é que se
torna um especialista? Aprendendo a administrar os EODA, estúpido.
A con ança no preconceito interpretativo do examinador foi
constantemente revelada. Por exemplo, numa avaliação vídeo que
observámos, vi a criança a sorrir regularmente, mas o facilitador do
curso disse que isto não era um sorriso, mas sim o sintoma de
“sorriso”. Mesmo que fosse “sorridente”, é difícil compreender porque
é que isso deveria ser considerado um “sintoma” médico.
Outros comportamentos classi cados incluídos: uso “inusual” de
palavras; qualidade da tentativa da criança de iniciar a interação; se a
criança pede coisas ao examinador; não devolver espontaneamente
brinquedos ou outros objetos ao examinador; não mostrar brinquedos
ou outros objetos (por exemplo, segurando-os) ao examinador; falta
de uso exível e criativo de objetos (por exemplo, um boneco) de uma
forma representativa; interesses sensoriais inusitados; e assim por
diante, todos abertos à variação interpretativa.
Todas as classi cações são desta natureza. Levantam questões
sobre quem tem a autoridade e como chegaram à conclusão sobre o
que deve ser considerado apropriado/inadequado, normal/normal,
saudável/sintomático, e assim por diante.
As minhas interpretações genuínas utilizando os sistemas de
pontuação EODA foram bastante diferentes das que o facilitador
explicou serem as pontuações corretas e “objetivas”, particularmente
para os dois pacientes mais jovens nos vídeos. De fato, quando o
primeiro vídeo foi mostrado, eu estava convencido de que isto estava
a ser mostrado para ilustrar uma avaliação de uma criança normal
para nos mostrar o contraste, mas a nal todos os vídeos mostravam
alguém a quem tinha sido feito um diagnóstico de TEA.
Achei alguns dos vídeos de avaliação muito penosos de ver. O
examinador passa rapidamente de uma atividade para outra, dando a
cada atividade alguns minutos. Nos dois vídeos de crianças com
cerca de 3 e 5 anos de idade, a objetivação dos seus
comportamentos teve mais a ver com poder e uma construção
privilegiada da verdade do que com a descoberta de qualquer coisa
intrínseca à criança. Ambas as crianças me pareceram
desconfortáveis e de diferentes formas pouco cooperantes devido,
pelo menos em parte, ao contexto e comportamento incomum do
examinador – um estranho que tinham acabado de conhecer.
Só podíamos comentar e depois codi car o comportamento do
paciente, mas não nos foi permitido interpretar os possíveis
sentimentos do paciente ou a natureza relacional/contextual das
interações. Parecia-me que este ” exame ” de comunicação social era
feito através da criação de um ambiente deliberadamente
provocatório e da expectativa de que estes jovens pacientes
acatassem as exigências invulgares dos examinadores.
Assim, nos vídeos, EODA parece mais um teste de conformidade
social com as exigências em constante mudança de um adulto
mandão. Num vídeo, no início da sessão, depois de o examinador
retirar alguns brinquedos com que o paciente de 5 anos estava a
brincar, o paciente ca de costas para o examinador e diz “Você não é
meu amigo“. O resto da sessão de avaliação mostra uma interação
complexa, uma parte hilariante da rebelião do jovem paciente, uma
parte de envolvimento e uma parte angustiante de se assistir: a
pressão e o desapego a frio por parte do examinador.
Para mim, o questionamento repetitivo, por vezes com sorrisos
exagerados e não naturais, e a voz infantil e estridente do examinador
parecia mais inusitado do que a reação da criança. No entanto,
utilizando o EODA, esta criança tinha TEA e era aparentemente a mais
“anormal” das duas.
Nos vídeos das avaliações para as crianças mais velhas, perguntei-
me sobre a adequação etária dos brinquedos, artigos, e perguntas
utilizadas. Não tenho a certeza de como teria respondido, quando era
mais novo (como as crianças de 12 e 17 anos nas avaliações de
vídeo tiveram de fazer), a perguntas como “O que signi ca para você
um amigo?” “Alguma vez pensa numa relação a longo prazo ou em se
casar?” “Toma conta do seu próprio dinheiro?” ” Você tem planos ou
sonhos para o futuro?”
De acordo com as nossas escalas de classi cação, existem formas
normais e patológicas de responder a estas questões. Cultura,
gênero, classe social, nenhuma destas coisas também importa. As
duas crianças mais velhas falaram de experiências de serem
intimidadas. Mesmo isto foi visto como mais uma prova de que são
incompetentes, com uma mensagem oculta de que o TEA foi a razão
pela qual foram intimidadas (ou seja, o seu “transtorno”) fez com que
outras pessoas as tratassem mal.
As avaliações criaram um funil apertado onde não houve fuga da sua
interpretação do que aconteceu como um potencial “sintoma”: se se
envolvem, como se envolvem, como falam, o que dizem, o que não
dizem, como olham, o que fazem, o que não fazem, e assim por
diante.
O EODA é uma armadilha. Uma enorme máquina de fazer dinheiro
para os seus criadores, formadores, e promotores. Uma avaliação
inventada, para um conjunto inventado de sintomas que é
inteiramente subjetivo e que carece de visão sobre o papel do
contexto e a natureza intersubjetiva das relações. Tenta identi car
“dé cits” relacionais ao mesmo tempo que demonstra a própria falta
de consciência do instrumento sobre a natureza das relações.
Procura incessantemente descobrir provas de “anomalias” e cria um
contexto em que o examinador pode prontamente encontrá-las.
É um sistema que captura muitos na sua rede, desde os mais jovens que não vão
fazer o que o examinador instrui e da forma como o examinador acredita que
devem fazer, até aos mais velhos que têm uma interessante reviravolta de
expressão. Constrói, em vez de descobrir, conhecimentos – com os criadores,
vendedores, e agora com os muitos examinadores que realizam avaliações EODAS
acreditando que sabem como a pessoa universal, neutra em termos de cultura,
gênero e sexualidade deve e não deve funcionar. É desavergonhadamente
promovido e vendido em todo o mundo, sujeitando cada vez mais crianças e
adultos à sua perversa agenda de normalização/patologização.
O autismo já tem esgotada a sua data de “utilização”
Acredito que o conceito de autismo e TEA, tal como o TDAH, não é
apenas um exemplo do cienti cismo desenfreado que colonizou os
campos da psiquiatria e da psicologia, mas, além disso, que devemos
deixar de os utilizar.
Estou satisfeito por um movimento ter crescido para recuperar algum
sentido da auto-estima que foi roubada pelo paradigma do
“transtorno” do autismo. No entanto, não acredito que o movimento
da neurodiversidade possa levar ao tipo de mudança em que estou a
pensar. Embora alguns possam a rmar que a criação das categorias
alternativas de “neurotípico” e “neurodiverso” é uma libertação lúdica
dos médicos patologistas, ainda perpetua a dinâmica “nós” e “eles” e
solidi ca ainda mais a individualização que alimenta a política
neoliberal. Substitui a mercantilização aberta pelo autismo como
transtorno por uma mercantilização na esfera da neuro-identidade.
Como já discuti, não há aqui nenhum bit “neuro” mensurável e
característico. Aqueles que acreditam que descobrimos que foi
vendida uma mentira. Todos nós, cada um de nós, somos únicos e,
por conseguinte, todos somos neurodiversos.
O autismo faz parte do paradigma de medicalização, patologização e
individualização que serve bem a política e economia neoliberal. Os
contextos opressivos e inseguros que as pessoas, famílias e
comunidades devem suportar na busca de ter as qualidades
empresariais ideais, competitivas, e cientes, emocionalmente
inteligentes (para se venderem a si próprios ou serviços, ou manipular
inteligentemente os outros) necessárias para serem considerados
“normais”, signi ca que quando os indivíduos não conseguem
acompanhar, as nossas construções sociais podem culpar a sua
interioridade por esta falha percebida.
O autismo é uma daquelas ” falhas” que podem ser marcadas, dadas
uma insígnia cientí ca (cienti ca), e comercializadas. O foco desloca-
se então para a pessoa falhada, que pode ser “apoiada/tratada”, e o
contexto social mais amplo é libertado de um exame mais profundo.
Políticos, burocratas, instituições de caridade e dirigentes políticos
podem parecer realmente preocupados quando falam
simpaticamente sobre aqueles que são prejudicados por esta
de ciência e sobre como estão a ajudar e a apoiar estas pessoas.
Mas a que custo continuamos a alargar e a alargar a rede TEA? Quem
já olhou para os dados do que acontece aos que são apanhados
nesta rede? Onde estão as provas de que um diagnóstico melhora os
resultados reais para as pessoas diagnosticadas? Por que não
estamos a investigar esta questão básica? Quantos são avisados
sobre os potenciais resultados negativos associados a um
diagnóstico?
Sei, por exemplo, que certas pro ssões não aceitarão ninguém que
tenha um diagnóstico de TEA, mas não sei até que ponto esta
questão poderá ser generalizada. Li recentemente que, a nível
nacional, “15% dos adultos com um transtorno do espectro do
autismo estão empregados a tempo inteiro“. Não sei o que isto
signi ca, mas isso parece-me uma estatística preocupante. Os
rótulos carregam associações e estereótipos que poucos de nós são
capazes de ver mais além. Quantos de nós deixam de ver e tentam
conhecer “Jane” (ou quem quer que seja) quando nos é dito que “ela
tem autismo”?
Compreendo que há muitos que acharam útil o ato de nomear. Os
pais podem ser capazes de ter uma nova simpatia pelos seus lhos e
os adultos podem agora sentir algo sobre a sua vida que faz sentido.
Mas a que preço? Quanto tempo duram estes sentimentos iniciais de
alívio? O que desaparece da narrativa dessa pessoa quando um
rótulo que não consegue explicar é usado para explicar?
Preocupo-me com estas questões e porque nunca as vejo a ser
colocadas na literatura dominante sobre o assunto. Preocupo-me
com o potencial para um tipo sutil de violência que pode ser in igido
a alguém assim rotulado e que pode limitar as suas próprias crenças,
as das suas famílias, e de toda uma série de crenças das pessoas
sobre o que podem e não podem fazer, do que precisam de proteção
e do que não precisam. Preocupa-me a forma como ter o rótulo de
autismo proporciona um tipo cruel de esperança. Os pais podem
sentir agora que algo é compreendido, os especialistas saberão o que
fazer para ajudar. Como os dias, meses e anos acumulam-se com
assuntos que não melhoram, o que é que isso faz aos sentimentos
dos pais sobre o seu lho ” perturbado “? Estes são os tipos de
dilemas que eu vejo regularmente no meu consultório.
Na minha prática encontro frequentemente famílias que tiveram um
lho diagnosticado com autismo, onde as coisas não melhoraram, ou
pioraram após um período de melhoria, onde os pais se sentem sem
poder porque acreditam que não podem ter a perícia para saber o que
fazer e parecem não conseguir encontrar os peritos que sabem.
Encontro regularmente jovens cujos próprios dilemas não são
ouvidos, onde a suposição é que acham que o que fazem é “porque
são autistas”.
Para algumas pessoas, o TEA é um bilhete que lhes dá acesso a
apoios de aprendizagem (por exemplo) que podem ser úteis para
outras crianças a quem é negado este apoio porque não têm
“autismo”. Mas também vejo exemplos regulares em que uma
rotulagem de autismo exclui crianças que poderiam achar o input útil.
Por exemplo, a sua ansiedade social é construída como sendo
“porque têm autismo” e por isso é-lhes dito que não há nada que
possamos fazer quanto a isso.
O autismo tornou-se a nova armadilha para os pacientes jovens que
não seguem os limites cada vez mais estreitos dos comportamentos
esperados, e a tal ponto que ignoramos histórias que obviamente
teriam um impacto nas suas apresentações. O autismo continua
agora a surgir como uma sugestão de “talvez tenham autismo” em
reuniões e revisões clínicas, como se isso fosse fornecer uma
explicação para comportamentos que nos preocupam, frustram ou
enfurecem.
Um diagnóstico de TEA pode enfraquecer pais e professores
acidentalmente, porque existe uma suposição de que eles não têm a
experiência para saber como intervir e saber qual é a maneira certa
de apoiar seu lho. Coisas comuns podem voar pela janela, então eu
vi famílias onde a dinâmica do poder mudou por causa da
preocupação dos pais de que se eles intervirem de alguma forma na
vida de seus jovens, eles podem piorar as coisas. Eles acabam
pisando em ovos ao redor do jovem ao mesmo tempo em que entram
em pânico com seu futuro, tornando a família muito tensa. Essa
suposição pode paralisar os pais e outras pessoas, deixando-os
desquali cados e esperando que pro ssionais mais “quali cados” os
aconselhem ou, melhor ainda, forneçam a “terapia especializada
certa” para chegar ao lho.
O autismo, como qualquer outro diagnóstico psiquiátrico, não é um
diagnóstico. Não tem poder explicativo e, portanto, não pode dizer o
que será útil ou não para qualquer indivíduo, família ou comunidade
em particular. Melhor ignorar sua relevância.
Reference sources:
Al-Jawahiri, R., Milne, E. (2017) Resources available for autism
research in the big data era: a systematic review. PeerJ, 5, e2880.
American Psychiatric Association (APA). (2013) Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM 5). APA.
Baudrillard, J. (1981) Simulacra and Simulation. Semiotext(e).
Chen, J.A., Peñagarikano, O., Belgard, T.G., Swarup, V., Geschwind, D.H.
(2015) The emerging picture of autism spectrum disorder: genetics
and pathology. Annual Review of Pathology, 10, 111-144.
Czech, H. (2018) Hans Asperger, National Socialism, and “race
hygiene” in Nazi-era Vienna. Molecular Autism, 9, 29.
Ecker, C., Bookheimer, S.Y., Murphy, D.G. (2015) Neuroimaging in
autism spectrum disorder: brain structure and function across the
lifespan. Lancet Neurology, 14, 1121-1134.
Fakhoury, M. (2015) Autistic spectrum disorders: A review of clinical
features, theories and diagnosis. International Journal of
Developmental Neuroscience, 43, 70-77.
Hughes, V. (2012) Epidemiology: Complex disorder. Nature, 491, S2-
S3.
Lord, C., Risi. S., Lambrecht, L., et al. (2000) The Autism Diagnostic
Observation Schedule-Generic: A Standard Measure of Social and
Communication De cits Associated with the Spectrum of
Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 205-223.
Lord, C., Rutter, M., Goode, S., et al. (1989) Autism Diagnostic
Observation Schedule: A standardized observation of communicative
and social behavior. Journal of Autism and Developmental
Disorders, 19, 185-212.
Lotter, V. (1966) Epidemiology of autistic conditions in young children:
I. prevalence. Social Psychiatry, 1, 124-137.
Nadesan, M. (2005) Constructing Autism: Unravelling the ‘Truth’ and
Understanding the Social. Routledge.
Runswick-Cole, K., Mallet, R., Timimi, S. (eds.) (2016) Re-thinking
Autism: Diagnosis, Identity, and Equality. Jessica-Kingsley.
Rutter, M. (1978) Diagnosis and De nition of Childhood
Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 8, 139-161.
Rylaarsdam, L., Guemez-Gamboa, A. (2019) Genetic Causes and
Modi ers of Autism Spectrum Disorder. Frontiers Cellular
Neuroscience, 13, 385.
Sheffer, E. (2018) Asperger’s Children: The Origins of Autism in Nazi
Vienna. W.W. Norton & Company.
Timimi, S., McCabe, B., Gardner, N. (2010) The Myth of Autism:
Medicalising Boys’ and Men’s Social and Emotional
Competence. Palgrave MacMillan.
Timimi, S., Milton, D. (2016) Debate: Does autism have an essential
nature? Available at:
http://blogs.exeter.ac.uk/exploringdiagnosis/debates/debate-1/
Timimi, S., Milton, D., Bovell, V., Kapp, S., Russell, G. (2019)
Deconstructing diagnosis: multi-disciplinary perspectives on a
diagnostic tool. Autonomy 1(6).
Waterhouse, L., London, E., Gillberg, C. (2016) ASD Validity. Review
Journal of Autism and Developmental Disorders, 3, 302-329.
Wing, L. (1981) Asperger’s Syndrome: A Clinical
Account. Psychological Medicine, 11, 115-129.
World Health Organization. (1992) The ICD-10 Classi cation of Mental
and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic
Guidelines. WHO.
[Trad. e edição por Fernando Freitas]
Artigo anterior
Você também pode gostar
- Introduçaõ Ao AutismoDocumento42 páginasIntroduçaõ Ao AutismoTatianne Rocha100% (2)
- Psicanálise e NeurociênciaDocumento8 páginasPsicanálise e NeurociênciaBruno Santana100% (1)
- Lembranças de Outras Vidas - Michael Newton PDFDocumento312 páginasLembranças de Outras Vidas - Michael Newton PDFGustavo Henrique100% (2)
- Referencial Teorico - TeaDocumento10 páginasReferencial Teorico - Teahilton100% (1)
- Apostila - Disciplina 1 PDFDocumento42 páginasApostila - Disciplina 1 PDFlarissa Franchi RodriguesAinda não há avaliações
- Modelo de Relatório Individual para Educação InfantilDocumento7 páginasModelo de Relatório Individual para Educação InfantilAnonymous QNz5rGj100% (1)
- A Ameaça Azul - ComentadoDocumento47 páginasA Ameaça Azul - ComentadocheilaAinda não há avaliações
- Alan Watts - A Sabedoria Da InsegurançaDocumento100 páginasAlan Watts - A Sabedoria Da InsegurançaCleber Ferreira100% (14)
- Spinoza e As Ciências Sociais - A Proposta de Frederic Lordon PDFDocumento15 páginasSpinoza e As Ciências Sociais - A Proposta de Frederic Lordon PDFDLAinda não há avaliações
- Frases Albert EinsteinDocumento13 páginasFrases Albert EinsteinRobmixAinda não há avaliações
- Escon - Escola de Cursos Online CNPJ: 11.362.429/0001-45 Av. Antônio Junqueira de Souza, 260 - Centro São Lourenço - MG - CEP: 37470-000Documento6 páginasEscon - Escola de Cursos Online CNPJ: 11.362.429/0001-45 Av. Antônio Junqueira de Souza, 260 - Centro São Lourenço - MG - CEP: 37470-000Roseneide TavaresAinda não há avaliações
- AutismoDocumento26 páginasAutismopauloan84Ainda não há avaliações
- O Que É AutismoDocumento17 páginasO Que É AutismoSuzane FantatoAinda não há avaliações
- O QUE É AUTISMO - TextoDocumento19 páginasO QUE É AUTISMO - Textobiancars100% (1)
- Autism oDocumento5 páginasAutism oCristina MeloAinda não há avaliações
- Autismo DiagramadaDocumento42 páginasAutismo DiagramadaNathalya Cristin100% (2)
- Autismo - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento11 páginasAutismo - Wikipédia, A Enciclopédia LivreRitaMariagomesAinda não há avaliações
- ARTIGO 2016 - O Enigma Do Autismo - Contribuições Sobre A Etiologia Do Transtorno - GISELLADocumento14 páginasARTIGO 2016 - O Enigma Do Autismo - Contribuições Sobre A Etiologia Do Transtorno - GISELLAGTGT100% (1)
- Cenira - NovembroDocumento4 páginasCenira - Novembrocenira almeidaAinda não há avaliações
- Diagnostico de Autismo em MeninasDocumento10 páginasDiagnostico de Autismo em Meninassdeyze211Ainda não há avaliações
- Neurociência NeuropsicobiologiaDocumento326 páginasNeurociência NeuropsicobiologiainespeccebrAinda não há avaliações
- AUTISMO Seminário.Documento6 páginasAUTISMO Seminário.Lia Lucena100% (1)
- Autismo Kupfer PDFDocumento12 páginasAutismo Kupfer PDFAbenon MenegassiAinda não há avaliações
- Autism oDocumento21 páginasAutism oValéria UrquizaAinda não há avaliações
- Autismo em MeninasDocumento2 páginasAutismo em MeninasBrunoPietrobonAinda não há avaliações
- Autismo em MeninasDocumento2 páginasAutismo em MeninasMarina FerreiraAinda não há avaliações
- AutismoDocumento4 páginasAutismoCristina MeloAinda não há avaliações
- 10 Mitos e Verdades Sobre o Autismo Neuroconecta 1 PDFDocumento13 páginas10 Mitos e Verdades Sobre o Autismo Neuroconecta 1 PDFfabcardososAinda não há avaliações
- 10 Mitos e Verdades Sobre o Autismo NeuroconectaDocumento13 páginas10 Mitos e Verdades Sobre o Autismo NeuroconectaHosttacia FerreiraAinda não há avaliações
- Psicose e Autismo Na Infância PDFDocumento12 páginasPsicose e Autismo Na Infância PDFmillamiAinda não há avaliações
- AutismoDocumento13 páginasAutismoAndreia SimonAinda não há avaliações
- Artigo Os Benefícios Da Psicomotricidade - Nikaelly Fernandes SaraivaDocumento9 páginasArtigo Os Benefícios Da Psicomotricidade - Nikaelly Fernandes SaraivaNikaelly LagesAinda não há avaliações
- Artigo - Aba e Autismo - Um Estudo Da Análise Do Comportamento Aplicada e Sua Eficácia No Transtorno Do Espectro AutistaDocumento15 páginasArtigo - Aba e Autismo - Um Estudo Da Análise Do Comportamento Aplicada e Sua Eficácia No Transtorno Do Espectro AutistaJuliana Dias RodriguesAinda não há avaliações
- Autismo o Misterio Da DoençaDocumento8 páginasAutismo o Misterio Da DoençaSandra RoosAinda não há avaliações
- Medicina Insana, Capítulo 4 - A Fabricação de Transtornos Do Espectro Do Autismo (Parte 1) - Modo LeitorDocumento1 páginaMedicina Insana, Capítulo 4 - A Fabricação de Transtornos Do Espectro Do Autismo (Parte 1) - Modo LeitorDiniz Com ZAinda não há avaliações
- Teoria ABADocumento11 páginasTeoria ABAjuliana silveiraAinda não há avaliações
- Autismo Treinamentopais InsDocumento76 páginasAutismo Treinamentopais InsBruna Crema100% (3)
- Autismo HistoriaDocumento1 páginaAutismo HistoriaThiago ArrudaAinda não há avaliações
- Transtorno Do Espectro Autista: Descobertas, Perspectivas e Autism PlusDocumento6 páginasTranstorno Do Espectro Autista: Descobertas, Perspectivas e Autism PlusTessa MacKonAinda não há avaliações
- 850-Texto Do Artigo-2021-1-10-20220830Documento8 páginas850-Texto Do Artigo-2021-1-10-20220830Vitória PadãoAinda não há avaliações
- Artigo Testesgeneticos 0 PDFDocumento7 páginasArtigo Testesgeneticos 0 PDFMariaClaradeFreitasAinda não há avaliações
- Autismo EpidemologiaDocumento11 páginasAutismo EpidemologiaThiago ArrudaAinda não há avaliações
- Documento de Wagner Caldeira PDFDocumento3 páginasDocumento de Wagner Caldeira PDFThais Aguiar SouzaAinda não há avaliações
- Autismo, Neurodiversidade e Estigma - Perspectivas Políticas e deDocumento8 páginasAutismo, Neurodiversidade e Estigma - Perspectivas Políticas e deSimone A. SilvaAinda não há avaliações
- Fala Fer 1° de AbrilDocumento2 páginasFala Fer 1° de AbrilBiatriz EduardaAinda não há avaliações
- Autismo Barbosa AneximandoDocumento7 páginasAutismo Barbosa AneximandoArmando luis FernandoAinda não há avaliações
- História Do Autismo e Sua DefiniçãoDocumento11 páginasHistória Do Autismo e Sua DefiniçãorkvasneAinda não há avaliações
- Sobre Behaviorismo 05Documento5 páginasSobre Behaviorismo 05Filipe LopesAinda não há avaliações
- Aula 1 - O Que É AutismoDocumento31 páginasAula 1 - O Que É AutismoAndréya RosemberguerAinda não há avaliações
- Apostila - Excertos Do Livro "Transtorno Do Espectro Autista Uma Brevíssima Introdução"ArquivoDocumento47 páginasApostila - Excertos Do Livro "Transtorno Do Espectro Autista Uma Brevíssima Introdução"ArquivoGeovana CarolineAinda não há avaliações
- Comportamento Estereotipado No TranstornDocumento13 páginasComportamento Estereotipado No Transtorninfochel-1Ainda não há avaliações
- Por Que o Cérebro É Tão Importante (Recuperação Automática)Documento10 páginasPor Que o Cérebro É Tão Importante (Recuperação Automática)GobbiCaAinda não há avaliações
- TCC AbrilDocumento12 páginasTCC AbrilLizoka MoraesAinda não há avaliações
- Apostila - Nutrição No AutismoDocumento27 páginasApostila - Nutrição No AutismoSamara BottantuitAinda não há avaliações
- O Que É AutismoDocumento22 páginasO Que É AutismoValdirene SilvaAinda não há avaliações
- O Que É Autismo Ou Transtorno Do Espectro Do Autismo (TEA) - TismooDocumento1 páginaO Que É Autismo Ou Transtorno Do Espectro Do Autismo (TEA) - TismooAmanda VieiraAinda não há avaliações
- DESENVOLVIMENTO-INFANTIl DOS AUTISTASDocumento29 páginasDESENVOLVIMENTO-INFANTIl DOS AUTISTASKarine de Freitas100% (1)
- FICHAMENTO - O CÉREBRO AUTISTA (Temple Grandin)Documento12 páginasFICHAMENTO - O CÉREBRO AUTISTA (Temple Grandin)Asiole BarreirosAinda não há avaliações
- Autismoaula 2Documento12 páginasAutismoaula 2Aline Batista de CarvalhoAinda não há avaliações
- Autismo, Breve Comentário Sob Prisma Kardeciano: Início (/) (/NODE)Documento5 páginasAutismo, Breve Comentário Sob Prisma Kardeciano: Início (/) (/NODE)acsAinda não há avaliações
- Autismo Módulo 2Documento4 páginasAutismo Módulo 2Renata MoreiraAinda não há avaliações
- Anais 2022Documento14 páginasAnais 2022Valquiria OliveiraAinda não há avaliações
- AlfredoDocumento3 páginasAlfredoNathaly KaritasAinda não há avaliações
- Medicina Insana, Capítulo 4 - A Fabricação de Transtornos Do Espectro Do Autismo (Parte 1) - Modo LeitorDocumento1 páginaMedicina Insana, Capítulo 4 - A Fabricação de Transtornos Do Espectro Do Autismo (Parte 1) - Modo LeitorDiniz Com ZAinda não há avaliações
- Mapa Mental Psicologia Ciencia e ProfissãoDocumento1 páginaMapa Mental Psicologia Ciencia e ProfissãoDiniz Com ZAinda não há avaliações
- Psicologia: Educacion ALDocumento13 páginasPsicologia: Educacion ALDiniz Com ZAinda não há avaliações
- Atuação Do Profissional de Psicologia No Contexto Do SUSDocumento5 páginasAtuação Do Profissional de Psicologia No Contexto Do SUSDiniz Com ZAinda não há avaliações
- Processo de ConscienciaDocumento40 páginasProcesso de ConscienciaRavel ConceiçãoAinda não há avaliações
- Uma Falsa EpidemiaDocumento12 páginasUma Falsa EpidemiaDiniz Com ZAinda não há avaliações
- Camylla GraboskiDocumento125 páginasCamylla GraboskiNicolas ReisAinda não há avaliações
- Esqueleto Axial e Esqueleto ApendicularDocumento17 páginasEsqueleto Axial e Esqueleto ApendicularDiniz Com ZAinda não há avaliações
- PDFDocumento195 páginasPDFRenato Nunes CirinoAinda não há avaliações
- Redacao 2021 2fDocumento1 páginaRedacao 2021 2fPaulo Vitor PinheiroAinda não há avaliações
- Atividades Pre HistoriaDocumento5 páginasAtividades Pre HistoriaBianca Rosa100% (1)
- Yatharth Geeta PDFDocumento502 páginasYatharth Geeta PDFIsmael CavadaAinda não há avaliações
- Ética e Moral Marilena ChauíDocumento16 páginasÉtica e Moral Marilena ChauíRoberto AguiarAinda não há avaliações
- Corpo Genero e Sexualidade Apresentação Power PointDocumento34 páginasCorpo Genero e Sexualidade Apresentação Power PointAdriano Martins R PassosAinda não há avaliações
- Apostila Aspectos-SocioantropologicosDocumento37 páginasApostila Aspectos-SocioantropologicosJuliana AraujoAinda não há avaliações
- Resumo Filosofia V1Documento4 páginasResumo Filosofia V1ricardo marlonAinda não há avaliações
- O Papel Da Escola Na Orientação ProfissionalDocumento184 páginasO Papel Da Escola Na Orientação Profissionalbernardi.psiAinda não há avaliações
- TCC-Willames de Moura CavalcanteDocumento54 páginasTCC-Willames de Moura CavalcantemakotoeducacaodigitalAinda não há avaliações
- Ética ProfissionalDocumento15 páginasÉtica ProfissionalAnildaAinda não há avaliações
- Livro Ebook Perversao Sexual PDFDocumento23 páginasLivro Ebook Perversao Sexual PDFLuiz CurcioAinda não há avaliações
- 347 - Luz No Caminho - (Chico Xavier - Emmanuel)Documento29 páginas347 - Luz No Caminho - (Chico Xavier - Emmanuel)patriciaterumi2325Ainda não há avaliações
- Cinesiologia e Biomecanica PDFDocumento246 páginasCinesiologia e Biomecanica PDFdrik_flor0% (1)
- Gerenciamento Costeiro IntegradoDocumento51 páginasGerenciamento Costeiro IntegradovitorvasconcelosAinda não há avaliações
- O Jogo Dos Direitos Humanos e Cultura de Paz - Jogos CircularesDocumento2 páginasO Jogo Dos Direitos Humanos e Cultura de Paz - Jogos CircularesFabricio LeomarAinda não há avaliações
- Ludicidade - Capítulo 2Documento47 páginasLudicidade - Capítulo 2NertanSilvaAinda não há avaliações
- Resumo - Ética e EducaÇÃoDocumento22 páginasResumo - Ética e EducaÇÃomotasousaantonio100% (21)
- A Instrução Programada Proposta Por SkinnerDocumento11 páginasA Instrução Programada Proposta Por SkinnerKeila MeloAinda não há avaliações
- Orientações Complementares - PROJETO MULTIDISCIPLINAR DE RECURSOS HUMANOS IIDocumento14 páginasOrientações Complementares - PROJETO MULTIDISCIPLINAR DE RECURSOS HUMANOS IIricael rochaAinda não há avaliações
- Tema 3 Meu Ser MulherDocumento7 páginasTema 3 Meu Ser MulherRose LopesAinda não há avaliações
- O Mínimo Que Você Precisa Saber para Ser SalvoDocumento13 páginasO Mínimo Que Você Precisa Saber para Ser SalvoFernandoAinda não há avaliações
- Resenha Comportamento OrganizacionalDocumento5 páginasResenha Comportamento OrganizacionaldeniseemanueleAinda não há avaliações
- O Segredo Da Sorte Na VidaDocumento2 páginasO Segredo Da Sorte Na VidaIolanda CostaAinda não há avaliações