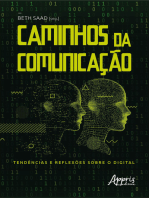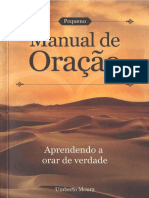Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Vinho Velho em Pipas Novas
Enviado por
scully.xa51Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Vinho Velho em Pipas Novas
Enviado por
scully.xa51Direitos autorais:
Formatos disponíveis
VINHO VELHO EM PIPAS NOVAS:
ANOTAÇÕES SOBRE RUPTURAS
NA HISTÓRIA DOS MIDIA
Jochen Dietrich*
RESUMO
Este ensaio está baseado numa conferência dada durante um workshop de Fotografia Digital, realizado na Es-
cola Superior de Educação de Coimbra, em 2002. Quando eu e os meus colegas planejamos o workshop, des-
cobrimos que tivemos atitudes, idéias e interesses bastante divergentes sobre o tema em questão. As formas
como falamos sobre as “novas” imagens eram diferentes, assim como as nossas categorias de pensar, de ca-
tegorizar e de julgar a imagem digital. Resolvemos, portanto, que a melhor forma de abrirmos um diálogo se-
ria apresentando não somente uma, mas três introduções. Elas enfocariam as abordagens de cada um de
nós, ressaltando, ao mesmo tempo, alguns dos aspectos mais importantes do imaginário digital. Falamos, en-
tão, sobre: a fotografia digital na fotografia aplicada e no mercado, a fotografia digital na educação/no ensino
e a fotografia digital nas artes plásticas. O presente texto insere-se na última destas áreas temáticas.
Pretende ser uma reflexão sobre o fato curioso de que, por enquanto, não verificamos nada de novo no reino
das imagens.
Palavras-chave: rupturas na história da mídia, fotografia (digital), arte.
“Vejo que, por volta de 2050, mais ou menos, vamos ouvir um grito de agonia, quando os
historiadores, universitários e sábios de todas as áreas de repente vão descobrir que grande parte
das imagens produzidas ao longo da primeira metade do século XXI desapareceu no chamado
Great Hard Drive Crash de 2049. Nenhuma imagem do presidente. Nenhuma imagem do Kentucky
Derby. Nenhuma imagem do jantar comemorativo do Rotary Club. Toda a historia água abaixo. O
tempo para resolver este problema é agora.”
Jim Colburn1
INTRODUÇÃO
Entre as inúmeras perspectivas que uma pessoa possa ter sobre os mais recentes desenvolvi-
mentos no campo das imagens técnicas escolhi para este texto, de acordo com os meus interesses pes-
soais e com a minha principal formação, só um aspecto: a fotografia digital na sua relação com as
Artes Plásticas. Talvez até seja melhor nomear a temática: A fotografia digital como meio em proces-
sos artísticos. Ou: O digital como dispositivo ou ferramenta, na busca de novas soluções para proble-
mas estéticos. Seja como for, vamos falar sobre a relação entre “o digital” e “a arte”. Como isto é uma
temática para várias teses de doutoramento, dada a sua amplitude, vamos simplificar as coisas um
pouco mais, enfocando, sobretudo, a questão central: o digital traz vantagens, quando se quer traba-
lhar no contexto das artes? É melhor que a fotografia clássica? Mais atual e apto para dar respostas
*
Doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Siegen, Alemanha. Fotógrafo. Professor da Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal e do Curso Internacional de Doutoramento em Ciências de
Educação da Universidade de Siegen, Alemanha.
1
Jim Colburn at: The Digital Journalist, 2002 http://digitaljournalist.org . Tradução Jochen Dietrich (J.D.)
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 1
contemporâneas? E, visto de outra forma: será que o surgimento da imagem digital tornou obsoleta a
fotografia de prata?2
Minha resposta a este problema complexo pretende ser entendida como provocação. Nesse
sentido, parto das seguintes premissas: Primeiramente, a de que não há novidade no reino das ima-
gens, pois o digital não trouxe nada de novo. Todos os problemas em questão são os mesmos de sem-
pre: composição, chiaroscuro, luz, cor/escala de cinzas, definição, profundidade de campo, etc. Há
também o fato de as questões do “momento decisivo”, do ângulo certo e até mesmo as relacionadas à
ética não se haverem colocado de uma forma categoricamente nova: documentar, acusar, lutar, mani-
pular – tudo já era possível antes, só talvez um pouco menos rápido e fácil, mas possível.
É certo a existência de mudanças no suporte, mas o suporte é só suporte, e o que nos inte-
ressa é a imagem, e não a questão de ela aparecer num papel, numa folha de acetato, num écran,
numa interface ou projetada na parede da sala. Nesta perspectiva, o bom fotógrafo analógico é o
bom fotógrafo digital. O que distingue uma imagem genial de uma péssima são os mesmos crité-
rios, o mesmo domínio da aparelhagem, das técnicas e dos materiais. Mais importante ainda: o pa-
râmetro para a fotografia digital é, e continua sendo, a imagem foto-química clássica. Até hoje, sua
qualidade e resolução não foram atingidas pelo digital. Há ainda, o termo de comparação, na medi-
da em que o critério decisivo de qualidade de uma imagem digital é a imagem clássica.
Mesmo as máquinas seguem as linhas e formas clássicas. A sua manipulação fica
praticamente igual, até para não afastar o possível comprador, que não quer recomeçar a aprender a
fotografar novamente. Os fabricantes das máquinas, para dar um exemplo disto, colocam nas
câmeras informações “incorretas” sobre a distância focal das objetivas. Em vez de colocar a
distância focal atual da lente, que, pela dimensão reduzida do chip fotossensível e pela conseqüente
redução das distâncias na construção do corpo, são inferiores em relação às medidas que o usuário
conhece, colocam as indicações correspondentes às antigas máquinas de 35mm, nas quais uma
objetiva “normal” tinha 50mm.
Apresentadas estas premissas, uma possível leitura destes fatos pode ser a seguinte: a ima-
gem digital não conseguiu, até agora, criar e estabelecer parâmetros próprios, seja em relação à qua-
lidade técnica ou no que diz respeito a qualidades estéticas. Ela sempre andou nos trilhos da foto-
grafia clássica e continua andando. Roland Barthes, (parece-me), sinalizou a necessidade de criar-
mos uma teoria para a imagem técnica mais relevante do seu tempo – a fotografia. Não podemos
fazer essa reivindicação para a imagem digital: ela é fotografia de uma outra forma, mas continua a
ser fotografia. Mais uma vez: o digital não traz nada de novo.
Mas atenção! Isto, por enquanto, é somente uma tese. Pronunciar teses é a forma mais ci-
entificamente correta de dizer que não dispomos, por enquanto, de nenhuma idéia concreta e prova-
da sobre o assunto em causa (sem ver-nos obrigados a admitir essa ignorância muito abertamente).
Quando falamos em teses, o que está em jogo são, na verdade, perguntas: Há, portanto, algo novo
na imagem digital? E, caso haja, onde é que esse novo está? Nas próprias imagens? Disto duvida-
mos, pelas razões que acabamos de esboçar. Na forma como estas mesmas imagens são obtidas? Ou
2
O que parece uma questão meramente retórica, pode não ser. Quem será suficientemente estúpido para dizer que sim,
senhor, a fotografia analógica está obsoleta? Basta lembrar o fato de que, ao longo dos últimos anos, a maioria das
cátedras dedicadas à fotografia nas universidades e academias alemãs foram alteradas para “Imagem Digital”, como se
já não se trabalhasse com imagens em prata e, conseqüentemente, fosse inútil formar mais pessoas para esta mídia
“morta”.
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 2
seja, na captura delas, nos dispositivos utilizados, nas máquinas fotográficas? Ali, talvez. Na essên-
cia destas imagens, na sua qualidade ontológica? Aqui, precisamos de idéias mais elaboradas sobre
a imagem técnica. Na sua distribuição? Aqui, com certeza. Mas não vamos tomar decisões sobre
“como colocar a pergunta de forma correta”, logo no início. Nesse sentido, meus textos geralmente
têm uma característica em comum, de que no fim deles não há muitas respostas. Vamos exprimir,
portanto, a nossa esperança de que, no fim desta reflexão, fiquemos, pelo menos, com algumas boas
idéias para podermos melhorar as nossas perguntas.
SOBRE RUPTURAS
Antes de falar sobre a fotografia propriamente dita, precisamos esclarecer um pouco mais o
conceito de rupturas na área dos mídias. Temos muitos exemplos para abordar tais rupturas, o que
permite apresentar uma lista (não completa) delas, organizadas obedecendo as revoluções na área da
escrita destacadas daquelas vividas pela área da imagem.
No universo da escrita podemos destacar a escrita alfabética (dos gregos), ou escrita
3
linear , e a impressão com letras, por Gutenberg no século XV. Falou-se na “Galáxia Gutenberg”
(McLuhann e outros) para denominar a mudança radical de paradigmas em relação tanto ao antes,
como ao depois da época do livro: a transição de uma cultura oral e do manuscrito para o texto
impresso marca o início desta Galáxia; a cultura da imagem e do computador marca o seu fim.
Destacam-se, ainda, o telegrama (Morse), o telefone (Bell) e o xerox/fax.
No universo das imagens podemos destacar as pinturas al fresco (Giotto e outros); as
pinturas a óleo (Van Eyck e outros) / pinturas sobre tábua; a invenção do quadro; a perspectiva
central de ponto de fuga (Brunelleschi, entre outros), a fotografia / imagem técnica imóvel
(Daguerre e Talbot, entre outros); o cinema / imagem técnica em movimento (Sladanowsky, Edison,
irmãos Lumiere, entre outros); o cinema sonoro etc.
Ainda podemos criar uma subdivisão da área da fotografia. Neste caso, as rupturas – mui-
tas vezes menos importantes que estas que alteraram o mundo, como a invenção da escrita alfabéti-
ca ou da tipografia – são as seguintes: o processo de colódio húmido (F. Scott Archer); as chapas
secas, de colódio ou gelatina (Norris e outros); o negativo 35 mm (Oscar Barnack, Leica); materiais
de cor (Lumiére e AGFA); a Polaroid (Land); a Fotografia Digital etc.
É obvio que juntamos, nesta lista, tipologias de mudanças bastante diversas. Sem qualquer
dúvida, a invenção da escrita linear de símbolos alfabéticos e a invenção da tipografia e da imagem
técnica são os mais importantes e mais radicais. Mas todas estas mudanças “técnicas” mostram que
o “técnico” como fenômeno isolado não existe: na seqüência de qualquer uma destas mudanças
tornou-se possível dizer coisas que antes não eram possíveisl dizer. Alguns exemplos:
Com o processo do colódio húmido, inaugura-se uma revolução que consiste numa redução
significativa do tempo de exposição. Na seqüência, a fotografia se torna instantânea, sendo possível
fotografar pessoas e registrar objetos em movimento. Já a invenção das chamadas chapas secas traz uma
radical redução de complexidade do processo e do equipamento. De repente, o mundo fora do ateliê
torna-se acessível ao fotógrafo, na medida em que o tamanho das máquinas é reduzido e o material de
3
Segundo Flusser (1996), havia somente duas grandes rupturas: aquela aqui referenciada – a invenção da escrita
linear, na antiguidade – e a invenção da imagem técnica a partir do séc. XIX.
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 3
apoio (tendas, estandes, químicos, etc.) fica dispensável. O filme de 35 mm, por sua vez, possibilita que,
com o surgimento dos rolos de película, o fotógrafo ganhe muito mais mobilidade. Nascem, com isso, a
reportagem fotográfica e a fotografia documental. A câmara fotográfica passa a ser pequena e leve; pas-
sando despercebida e conseguindo estabelecer uma outra relação com e com o corpo e o movimento do
fotógrafo, no próprio momento em que o tripé torna-se dispensável. Os materiais de cor significam mais
um triunfo na conquista da verossimilhança da representação, pois trazem a perfeição da ilusão da ima-
gem fotográfica. Por fim, a fotografia instantânea do tipo Polaroid traz uma alteração profunda da rela-
ção entre o real e a representação: a partir dela existe uma simultaneidade quase perfeita entre o real e a
sua representação, enquanto antes a foto sempre mostrava um passado mais ou menos remoto. Torna-se
possível, por conseguinte, uma re-inserção imediata da representação no real, porque a foto está acessí-
vel, enquanto a situação fotografada ainda continua a existir.
Podemos, portanto, chegar a uma primeira conclusão, que significa já uma primeira retifica-
ção da nossa tese inicial: os meios de comunicação não se aplicam simplesmente à realidade à sua
volta, mas eles próprios criam realidades. Cada um cria o universo daquilo que lhe é possível dizer.
Quando se fala em mídia e meios de comunicação, é problemático distinguir dito daquilo
que diz (e do que transmite ou processa aquilo que é dito). Modelos simples de transmissão de
informação não vão muito longe, e não vale mais falar em emissores, receptores, meio e mensagem
desde que Marshall McLuhan nos ensinou que meio e mensagem eram idênticos: “The medium is
the message”. Para ilustrar as complicações, vamos citar um exemplo “simples”: o livro.
O que é, no caso do livro, o meio em causa: é o texto, ou seja, a escrita? Uma vez que a
escrita se remete à fala, o meio em causa é a linguagem falada ou a língua em geral (e em diferença
às imagens, por exemplo?) Ou podemos falar do próprio livro como um meio de comunicação sui
generis? Um pouco como no reino das imagens, onde também não pegamos a forma de significação
para critério de diferença, mas os suportes, os materiais e técnicas: pintura, desenho, litografia, as
sub-categorias de pintura (sobre tábuas, sobre tela, murais, al fresco, etc.). Aqui nós lembramos do
suporte, do tamanho, da técnica de aplicação de tinta e de outras características para nos servirem
como critérios de diferença. No livro, portanto, podemos tentar atuar da mesma forma. O resultado
seria a seguinte definição: “O livro é um meio que utiliza como método de significação a escrita
alfabética, e é feito, hoje em dia, de folhas de papel juntas num dos cantos. É produzido em número
superior a 1, dividindo o texto em páginas, que se viram para a esquerda, etc.”
Em 1999, Stephen King, pela primeira vez, publicou um novo romance seu
exclusivamente na internet, numa forma vulgarmente chamada E-book. Quem comprou o livro
não comprou aquele bloco de papel que acabamos de definir como “livro”, mas comprou o quê?
O direito de o lê-lo? Ou o acesso a um servidor que tinha o texto armazenado, para poder fazer
um download? E depois? As pessoas liam aquele “livro” sentadas ao computador, ou imprimiam-
no, para fazer dele uma versão inferior daquilo que nos bons e velhos tempos era um livro como
deve ser? O fato de ter como suporte, ora umas páginas de papel, ora o écran do computador,
afeta o texto ou não? A “mensagem” é outra? É só a informação que conta e esta não está sendo
alterada? Quando dizemos que ler é uma coisa para se fazer na cama, com uma xícara de chá ao
lado, que gostamos do cheiro de livros novos recém impressos tanto quanto do perfume de mofo
de um romance policial, comprado à tarde na nossa banca preferida, estamos sendo
desesperadamente nostálgicos, ou será que temos razão? É diferente, é outra coisa. E como ler um
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 4
e-book não funciona assim, a nossa leitura, necessariamente, sempre será diferente de um livro
tradicional que nos apresente exatamente o mesmo texto.4
Concluímos, portanto, que o suporte não é neutro. Um texto ainda funcionando quando
escrito está sujeito a se tornar um fracasso quando apoiado no digital. O que está em questão nunca
são os conteúdos, – aliás, conteúdo não existe isoladamente – mas a relação entre meio e
“mensagem”, a entidade inseparável entre comunicação e comunicado. Visto dessa forma, a
fotografia digital, inevitavelmente, vai trazer algo novo, pelo simples fato de o suporte ser diferente
do papel e pela participação necessária que este fato sempre terá na construção do significado de
cada imagem.
É essencial, no entanto, entendermos que não podemos esperar a novidade olhando
somente para a imagem, ou seja, para o “conteúdo”. Ali, verificamos que, até agora, não há grande
coisa: umas montagens aqui, uns retoques ali, umas fotos tratadas em photoshop, muito brilhantes,
mas nada de essencialmente novo. Podemos achar isto simplesmente triste. Pessoalmente, concordo
não valer a pena investirmos sentimentos para além disto, sobretudo quando estamos olhando para
fotografia “aplicada”. Na publicidade, o digital é prático porque consegue, muitas vezes, fazer as
mesmas coisas que o analógico permitiu, só que de modo bem mais barato e mais rapidamente. É
isso, nem mais, nem menos.
Quando se trata de fotografia digital no contexto de arte, ou seja, quando uma foto digital
aparece com a pretensão de ser uma obra de arte, a questão é diferente. No contexto da arte, uma
limitação ao comunicado, ao conteúdo, enfim, àquilo que acontece dentro da imagem, no écran ou
no print, é impossível. “A arte”, diz Fichtner, “fala das coisas e, ao mesmo tempo, fala sobre como
falar das coisas”.5 Podemos traduzir: sem uma preocupação com as condições da sua comunicação,
não há arte. Ela tem um caráter reflexivo. Ela é comunicação e, também, meta-comunicação. Uma
reflexão da comunicação em imagens, nas condições do digital, porém, ainda está no seu início.
Estamos à espera de obras digitais que tenham essa meta qualidade, as quais conseguindo falar
sobre o mundo e, ao mesmo tempo, sobre as condições do falar no tempo do suporte eletrônico.
A MIDIOFAGIA EXISTE? 6
Quando, nos anos 90, o potencial da imagem digital começou a se tornar notável, não
faltaram vozes que pronunciaram, com pompa e circunstância, a morte da fotografia. Por que
continuar com algo dispendioso, pouco prático, sujo, mal cheiroso e produtor de lixo tóxico, ou, pelo
menos, problemático? Os produtos, as fotografias clássicas em suporte de papel, não eram estáveis.
Na verdade, a fotografia nunca tinha conseguido cumprir uma das suas mais atrativas promessas: a de
eternizar o momento, de nos dar imortalidade. Na altura de fazer 150 anos, em 1989, já estava mais do
4
O grande problema atual para qualquer tentativa de pensar sobre mídia está na complexidade do mais recente
dispositivo. A divisão entre escrita e imagem, por exemplo, deixa de ter sentido quando se fala do computador.
Multimídia não é uma simples mistura de um com o outro, mas promete ir muito além disto. O computador é uma
máquina de relações (Relationsmaschine), que torna tudo compatível com tudo. Quando música, texto, imagem, termo
matemático – tudo que o homem jamais pensou e fez – pode ser representado em sequências de 1 e O, de “sim” e
“não”, a forma de descrever aquilo, ou seja, a teoria, também se vê obrigada a se tornar integral.
5
Ver: Dietrich, Jochen: Vom Ansehen der Dinge. Oberhausen, Athena 2001, p. 24.
6
Proponho aqui um neologismo baseado no conceito de “antropofagia”.
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 5
que óbvio: que o tempo de vida das fotos estava limitado , pois bolores, oxigênio e a própria luz
davam cabo delas num prazo de poucas décadas. Curiosamente, o processo de degradação era mais
rápido quanto mais recente a espécie. Ao abrir seu álbum da família, é possível deparar-se com fotos
de infância as quais já tinham desaparecido numa mancha cor-de-laranja pálida, enquanto os carte-
visites dos seus bisavós ainda estavam – mais ou menos – em condições. O digital representou, frente
a esse panorama, a solução para vários destes problemas: limpo, barato e estável, o digital marcou um
passo decisivo para o futuro de uma fotografia sem prata.
Estávamos, portanto, enfrentando uma ruptura decisiva, pois um meio que serviu durante
muito tempo às necessidades da nossa sociedade viu-se confrontado com outro, capaz de servir
melhor a estes mesmos objetivos. Dentro de uma lógica simples de progresso, era fácil prever as
conseqüências disso, já que o menos adaptado desaparecerá, dentro em breve, para ceder espaço ao
novo, ao mais prático, ao mais adaptável, ao melhor.
Essa maneira quase darwinista de olhar para os meios de expressão e de comunicação não
era, porém, nada nova. Curiosamente, havia acontecido algo muito parecido há 150 anos: um pintor
francês, Paul Delaroche, que conheceu algumas das primeiras fotografias da sua época e integrou a
comissão científica formada por Aragó para analisar o novo processo apresentado por Daguerre, a
pedido da Academia Francesa (Stelzer, 1966), publicou um artigo onde construiu uma frase célebre:
“A partir de hoje, a pintura é morta”. Tal frase revelou-se tanto profética como errada: algo morreu
de fato, mas não a pintura. O que foi extinto, num prazo de pouquíssimos anos, foi o mercado para
retratos pintados, fornecendo a base de sobrevivência, se não para o autor da nossa frase, com
certeza para seus inúmeros colegas de profissão. A pintura como mercadoria específica morreu, isso
é verdade. E ainda bem! Porque precisava morrer, para depois se erguer de suas cinzas,
transformada e renovada. O meio, liberado das necessidades do mercado, abriu-se para uma re-
descoberta profunda daquilo que ela era, da sua linguagem, do seu funcionamento, da sua fisiologia,
da sua essência, da sua lógica intrínseca, das suas leis, da sua ontologia. A pintura, depois de seu
fim, era o impressionismo. Nunca antes os artistas se tinham dedicado a uma pesquisa tão radical do
seu meio: era só a tinta, a tela, a luz.
Tal e qual 150 anos depois, a proclamação da morte da fotografia ainda ecoava no ar,
quando o curador alemão von Amelunxen compilou uma exposição intitulada A fotografia depois
da fotografia. Ele havia percebido uma coisa: quando surge um novo dispositivo, este nunca
substitui o de antes. O que acontece é criar-se uma nova configuração dos meios disponíveis.
Anteriormente havia apenas texto, desenho, pintura, foto, etc. A partir de agora, haverá estes
todos e mais um novo, neste caso, a imagem digital. Isso transforma a situação, alterando o
contexto no qual está inserida toda a comunicação. Assim, transformando o contexto, também
esta mesma comunicação e os meios nela utilizados, se transformam, ou seja, quando surge um
novo meio, não é nele próprio que observamos algo novo; é nos meios antigos à sua volta, nos
quais reparamos mudanças e alterações.
Há quem diga que não podemos escrever a história da mídia como se isso fosse uma
evolução ou algo orgânico e ininterrupto, um processo uniforme de acumulação de experiências e
conhecimentos. Quando surge um novo meio, a configuração sofre transformações profundas. Isso
significa um salto qualitativo, ou seja, fala-se, por isso, em rupturas.
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 6
Vamos então modificar nossa tese: mídia não morre. Não existe progresso nas artes,
tampouco na filosofia, ou melhor, não existe progresso linear. É obvio que não podemos,
simplesmente, continuar a fazer exatamente as mesmas coisas, séculos após séculos7. Mas a filosofia
de Marx não tornou dispensável o pensamento de Hegel, assim como Hegel não ultrapassou Spinoza.
O que muda são as respostas e não as perguntas. E nenhuma resposta é superior a uma anterior, mas
pode ser mais atual, tanto como pode ser desatualizada, ou seja, ela pode estar atenta às alterações do
contexto ou não. Pode refletir a situação da comunicação contemporânea ou não. E como parece,
raramente se consegue dar respostas contemporâneas utilizando o meio mais recente, mas é
trabalhando com os antigos que podemos entender novamente, graças à experiência daquilo que é
novo. Curiosamente, as primeiras tentativas de se exprimir usando uma nova mídia, geralmente,
resultam em coisas horrorosas, tecnicamente avançadas, sem dúvida, mas muito ultrapassadas, tanto
esteticamente como filosófica ou artisticamente.
Como ilustrar este fenômeno? Vamos olhar mais uma vez para uma dessas rupturas
históricas: a invenção da fotografia. Ela resultou, como já afirmamos, na morte da pintura, lançou
toda uma geração de retratistas ao desemprego. Provocou, também, a ressurreição da pintura, a qual
se emancipou dos laços e vínculos que a tinham acorrentado ao mercado, para se tornar uma arte
capaz de tudo. Mas, se a fotografia abriu espaço para um salto qualitativo artístico, isto aconteceu
dentro de uma outra expressão artística, que não ela mesma. Se olharmos para a fotografia enquanto
nova mídia – a fotografia das primeiras décadas da sua existência -, só com muita dificuldade ela
vai nos mostrar soluções originais, novas, diferentes, soluções dignas de uma nova mídia,
consistentes e convincentes. O que encontramos são, em maioria esmagadora, repetições de formas
e gêneros tradicionais: a continuação da pintura com outros meios8.
A fotografia, nos seus primórdios, limitou-se simplesmente a copiar a pintura: as mesmas
formas e temáticas, as mesmas iluminações, o mesmo chiaro-escuro, os mesmos mis-en-scenes. Ela
copiou exatamente a pintura que, posteriormente, iria assassinar. Rolf H. Krauss, nas suas “10 teses
sobre fotografia convencional e conceitual” (1979/95) pesquisou tal fenômeno. Afirmando o poder
orientador do meio antigo para o meio novo e a tendência deste último de seguir, durante muito
tempo, o caminho pré-estabelecido por seu precursor, Krauss verifica uma defasagem que varia
entre alguns poucos anos e algumas décadas. O autor afirma que, enquanto na primeira metade do
século XIX a fotografia estava décadas atrás dos parâmetros e conceitos da pintura do seu tempo,
no fim do século, estava apenas 10 anos na retaguarda. Nas duas décadas, a seguir, a defasagem
voltou a crescer. Até que nos anos trinta as novas tendências da fotografia conseguiram, pela
primeira vez em 90 anos de vida da nova mídia, ficar à altura dos acontecimentos e até “ultrapassar”
a pintura. Em Bauhaus, straight photography e Neues Sehen (Nova Visão), fotografia não
referencial, fotografia sem câmara e outros campos de experimentação – todas estas correntes
permitiram à fotografia sair do convencional e se tornar, finalmente, uma linguagem própria e
7
Quer dizer: nós, no panorama ocidental, estamos convencidos disso; falamos tanto tempo em avantgardes, que se
tornou difícil pensar numa arte na qual a novidade não é o critério mais importante de qualidade. Na Ásia, na pintura
influenciada pela filosofia zen, o conceito é, pelo visto, diferente. Geração após geração, os artistas não procuram o
radicalmente novo, mas a atualização de um ideal já existente, já antigo: o da concentração e da simplificação total,
da experiência da natureza na sua essência formal.
8
Como sempre, há excepções à regra. Barthes (1985), em A Câmara Clara, faz lembrar os retratos de Adamson e Hill,
cujo realismo e efeito de autenticidade estabelecem uma nova relação com o real específico da fotografia.
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 7
conceitual. Na geração de Moholy-Nagy, os fotógrafos conseguem, provavelmente pela primeira
vez na história deste meio e dezenas de anos depois da sua invenção, criar um imaginário original e
totalmente contemporâneo, um imaginário “fotográfico” propriamente dito, que se dá conta das
possibilidades, condições etc, inerentes ao próprio meio.
Por que a fotografia conseguiu isso neste exato momento? Talvez – e é esta a minha
suposição – por haver ocorrido mais uma ruptura, que ajudava a libertar o Novo na nova mídia:
assim havia nascido o cinema.
Quem pode ajudar-nos a entender a defasagem é Karl Marx (apesar do funeral oficial de
suas idéias, pessoalmente, nunca deixei de pensar que ele pode ajudar a entender muitas coisas). Ele
disse que as fases históricas de transição rápida (enfim: de rupturas) têm como característica comum
ver-se nelas o homem confrontado com algo que lhe parece novo, alheio e desconhecido, mas que,
no entanto, foi produzido pelo próprio homem9. Ali podemos observar uma característica de toda a
nossa interação com o mundo, tanto material como social. Essa acontece no trabalho humano, visto
que nunca determinamos por completo aquilo que produzimos. Isso que o conceito de alienação
tenta captar: qualquer produto nosso nunca é só nosso; nada nasce só da nossa cabeça, como a filha
de Zeus. Sempre nasce no contato, no diálogo, na relação entre a mente humana e o mundo. Por
isso, e com necessidade, contém partes alheias a nós próprios. E precisamos de tempo para
descobrir, nos nossos produtos, aquilo que antes não podíamos pré-ver.
Quem vai às páginas dos museus e das instituições de alguma reputação no campo – o
MIT, o ZKM de Karlsruhe, a Documenta de Kassel, o Prix Ars Electronica Festival de Linz (AU)
etc., será confrontado com uma avalanche de textos de produção teórica, e com muito poucas ima-
gens. Também isso parece característico destas fases, quando algo novo emerge: os teóricos ficam
aflitos, e quando estão estressados, começam a produzir, seguindo a velha estratégia de que a “me-
lhor defesa está no ataque”. O novo, nas novas imagens, fica, por enquanto, invisível.
Expressão disso, é aliás, a dificuldade de encontrar imagens para acompanhar meu
raciocínio; mostrar as fotos chapadas que estão entupindo a internet não valeria a pena. Todas elas,
com suas piadas baratas, seus efeitos estandardizados, seu surrealismo adolescente, suas cores e brilho
exagerados, provam que, de fato, não há nada de novo no reino das imagens. Quase não encontro
exemplos bons. Quem vai à internet, encontra milhares de páginas que provam minha tese: foto-
reporters fazem tanto fotografia digital quanto analógica e nas websites não há a menor diferença
visível entre um e outro. Encontrei a página de uma revista virtual (net-based) sobre Fotografia
Digital, que publicou, numa edição de 2001, um portfólio sobre boxe com imagens de Muhammad
Ali dos anos 60 (obviamente analógicas). Os cursos sobre Digital Imaging que lá aparecem, são
idênticos aos cursos de Fotografia desde os anos 70; pior, até: podemos voltar aos anos 30 do século
XX e sempre vamos encontrar as mesmas receitas, as mesmas instruções para fotografias “boas”, as
mesmas dicas, as mesmas idéias sobre qualidade e como obtê-la, com a única diferença de que os
filtros não são mais de vidro colorido e o efeito blur já não se faz aplicando vaselina à objetiva, mas
se carrega no botão do Fotoshop e o resultado, prometem eles, será o mesmo.
9
Cit. após Fichtner, em Dietrich 2001, p. 231.
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 8
CONCLUSÕES: HÁ OU NÃO ALGO NOVO NA IMAGEM DIGITAL?
A imagem digital vai libertar a fotografia o que, aliás, já está acontecendo. Em conseqüên-
cia, o novo vai aparecer primeiro no meio antigo. Encontramos sinais desse movimento, por
exemplo, no interesse cada vez mais crescente na fotografia pinhole, na fotografia sem câmara
(fotograma, raiograma, luminograma, quimograma), na fotografia experimental e nos processos
fotográficos históricos. São estas as áreas de trabalho nas quais fotógrafos e artistas plásticos
pesquisam ao pormenor a linguagem da imagem técnica, sua gramática e significação. Podemos
esperar algo de novo dessa pesquisa, que aborda uma mídia/um meio antigo, mas o aborda de uma
forma mais radical do que nunca. Para chegar a essa radicalidade, ela precisava da experiência da
diferença: precisava do digital.
Podemos sim esperar algo novo da imagem digital. Mas, por enquanto, não em relação às
imagens em si. A tendência será de continuar as tentativas de copiar a mídia anterior. Uma hipótese
para algo verdadeiramente novo acontecer está, na relação temporal que a fotografia digital estabe-
lece. Ela é mais imediata, mais instantânea até que a Polaroid. Não apenas fecha o abismo (antes era
tão decisivo para a fotografia, que nunca conseguiu mostrar um fenômeno presente) mas inevita-
velmente fecha algo passado (o “assim aconteceu” é, segundo Barthes, o gesto da fotografia, no
imperfeito). A fotografia digital chega a ultrapassar o presente. No verso do seu corpo, o mundo
aparece como se já houvessesido fotografado, enquadrado num ecran eletrônico, antes que a gente
tivesse apertado o botão. Isso, de fato, é diferente. Deve haver mais diferenças que, por enquanto,
não foram descobertas ou exploradas. Provavelmente teremos de esperar até à próxima ruptura, até
ao aparecimento de uma outra imagem e de um outro imaginário, para descobrirmos o novo dentro
do imaginário digital.
Até lá, encontraremos o novo, sobretudo, no manejo dessas imagens, na sua distribuição,
naquilo que se consegue fazer com elas, enfim na forma (e nas novas formas) de os inserir nas
atividades individuais e/ou sociais de comunicação. O novo aparece primeiro aqui, na pragmática
da imagem técnica, e não na sua estética.
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 9
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AMELUNXEN, Hubertus von. Fotografie nach der Fotografie. Verlag der Kunst G+B Fine Arts, 1996.
BARTHES, Roland. Die helle Kammer. Frankfurt: Suhrkamp, 1985.
DIETRICH, Jochen. Vom Ansehen der Dinge. Oberhausen: Athena, 2001.
FLUSSER, Villèn. Pour une philosophie de la photographie. Paris: Circé, 1996.
KRAUSS, Rolf H. Photographie als Medium – 10 Thesen zur konventionellen und konzeptuellen Photographie. Stuttgart:
Cantz, 1995.
MCLUHAN, Marshall. Das Medium ist die Botschaft. The Medium is the Message. ED. Verlag der Kunst G+B Fine Arts,
2001.
STELZER, Otto. Kunst und Fotografie. Ed. Piper, 1966.
SITES RELACIONADOS AO ARTIGO:
http://www.JochenDietrich.kulturserver.de
http://www.siwikultur.de/khb/3/1/46
http://www.artist-info.com/artist/Jochen-Dietrich
ABSTRACT
This essay is based on a speech delivered to participants of a workshop on digital photography at the ESEC –
Escola Superior de Educação de Coimbra, in 2002. When me and my collegues made plans for the workshop
we realized that our interests, attitudes and ideas on the subject of digital image were quite different from
one another. We did not even speak the same language when talking about them, our categories were oth-
ers. Thus we decided that the best way of dealing with that problem, and on the same time providing oppor-
tunity for an open dialogue, was not to give just one, but three diferent introductions. So we talked about the
digital photography and the market, the digital photography and education and the digital photography and
the arts. The present text clearly focusses on the last of these areas. It intends an inquiry of the strange ob-
servation that in spite of all that new media there are very few new images.
Keywords: photography, arts, media revolutions.
TEIAS: Rio de Janeiro, ano 4, nº 7-8, jan/dez 2003 ELOS 10
Você também pode gostar
- A Fotografia Como Objetoe Recurso de MemoriaDocumento16 páginasA Fotografia Como Objetoe Recurso de MemoriaJuan ManuelAinda não há avaliações
- Nicholasandueza, DOSSI à - Divis úo Digital - Claire BishopDocumento9 páginasNicholasandueza, DOSSI à - Divis úo Digital - Claire BishopCamila MachadoAinda não há avaliações
- Manual de Fotografia Digital PDFDocumento294 páginasManual de Fotografia Digital PDFSociologiaMexico100% (1)
- Silveirinha Patricia Arte VideoDocumento31 páginasSilveirinha Patricia Arte VideomariosapereiraAinda não há avaliações
- Artigo Passages de Paris - 2009 PDFDocumento11 páginasArtigo Passages de Paris - 2009 PDFDaniel MeirinhoAinda não há avaliações
- Arte e Tecnologia MonografiaDocumento158 páginasArte e Tecnologia MonografiafatimanaderAinda não há avaliações
- Pós Fotografico PDFDocumento15 páginasPós Fotografico PDFRafaela CelanoAinda não há avaliações
- REf KodacDocumento77 páginasREf Kodackatiele.costanAinda não há avaliações
- Andresa Salazar - Ensaio CríticoDocumento10 páginasAndresa Salazar - Ensaio Críticoandresaflor2Ainda não há avaliações
- Fotografia e Psicologia: Experiências em intervenções FotográficasNo EverandFotografia e Psicologia: Experiências em intervenções FotográficasAinda não há avaliações
- Plano Ensino Jornalismo 1 2021Documento813 páginasPlano Ensino Jornalismo 1 2021Daniela GomideAinda não há avaliações
- The Second Digital Turn - Design Beyond IntelligenceDocumento54 páginasThe Second Digital Turn - Design Beyond Intelligenceka74rossanaAinda não há avaliações
- 27.03.23 - AtividadeDocumento6 páginas27.03.23 - AtividadeEuany AlexsandraAinda não há avaliações
- Fotogra A e JornalismoDocumento10 páginasFotogra A e JornalismoAlvaro PoueyAinda não há avaliações
- Da Kodak Ao InstagramDocumento14 páginasDa Kodak Ao InstagramgaabrielfontesdantasAinda não há avaliações
- Video, Filme e Fotografias Como Documentos de PesquisaDocumento19 páginasVideo, Filme e Fotografias Como Documentos de PesquisaÁlvaro BotelhoAinda não há avaliações
- Fotografia Documental Imprensa NacionalDocumento46 páginasFotografia Documental Imprensa NacionalAndré LestreAinda não há avaliações
- Imagem Analógica e A Imagem DigitalDocumento12 páginasImagem Analógica e A Imagem DigitalBombo Admar Domingos100% (3)
- SILVA Rubens Fotografia e Representacao Na Constituicao Da MemoriaDocumento9 páginasSILVA Rubens Fotografia e Representacao Na Constituicao Da MemoriaSimone Cristina VálioAinda não há avaliações
- Design, Arte e Tecnologia Projetos Fotográficos (Jofre Silva)Documento10 páginasDesign, Arte e Tecnologia Projetos Fotográficos (Jofre Silva)api-3780464100% (1)
- Reciclagem em Comunicação: Transtextualidade Na Produção PublicitáriaDocumento83 páginasReciclagem em Comunicação: Transtextualidade Na Produção PublicitáriaLetícia GuimarãesAinda não há avaliações
- A Fotografia Na Era Da Volatização Digital Um Estudo Sobre Uso e ImpermanênciaDocumento74 páginasA Fotografia Na Era Da Volatização Digital Um Estudo Sobre Uso e ImpermanênciaJosiele SilvaAinda não há avaliações
- Eder Chiodetto, Dissertação MestradoDocumento201 páginasEder Chiodetto, Dissertação MestradoGilson BoschieroAinda não há avaliações
- UNIFAMMA - U1 - Linguagem FotográficaDocumento23 páginasUNIFAMMA - U1 - Linguagem FotográficaGustavo ArraisAinda não há avaliações
- A Invenc A o Da Fotografia Repercursso Es Sociais Annateresa FabrisDocumento27 páginasA Invenc A o Da Fotografia Repercursso Es Sociais Annateresa FabrisLeticiaAinda não há avaliações
- Cruz Paula Desenho Animado Computacao GraficaDocumento150 páginasCruz Paula Desenho Animado Computacao GraficaJulio Sant'anna Do RosárioAinda não há avaliações
- ARTIGO - Design Digital Uma Gráfica IntangívelDocumento8 páginasARTIGO - Design Digital Uma Gráfica IntangívelArlindo CardosoAinda não há avaliações
- Relatório Sobre Visita Ao CCBB (EXPOSIÇÃO DE QUADROS DO PERÍODO IMPRESSIONISTA)Documento3 páginasRelatório Sobre Visita Ao CCBB (EXPOSIÇÃO DE QUADROS DO PERÍODO IMPRESSIONISTA)Caco MachadoAinda não há avaliações
- Fotografia A Questão EletrônicaDocumento11 páginasFotografia A Questão EletrônicaAline FortunaAinda não há avaliações
- Design, Cultura Material e o Fetichismo Dos ObjetosDocumento26 páginasDesign, Cultura Material e o Fetichismo Dos ObjetosJeff ErsonAinda não há avaliações
- Do Analógico ao Digital: A Evolução das Técnicas de Documentação do Ambiente ConstruídoNo EverandDo Analógico ao Digital: A Evolução das Técnicas de Documentação do Ambiente ConstruídoAinda não há avaliações
- Freeman Olho Do FotografoDocumento21 páginasFreeman Olho Do FotografoDi Melo0% (1)
- UFCD 9826 - Historia Imagem - Teste1Documento2 páginasUFCD 9826 - Historia Imagem - Teste1Rui Dário100% (3)
- Fotografia Fotojornalismo e FotodocumentosDocumento75 páginasFotografia Fotojornalismo e Fotodocumentosfrancisco_f_ribeiro_3Ainda não há avaliações
- Relatorio Anteprojeto TCC - Maria EduardaDocumento23 páginasRelatorio Anteprojeto TCC - Maria EduardaMaria EduardaAinda não há avaliações
- História Da FotografiaDocumento48 páginasHistória Da FotografiaTHIAGO ELIAS STASKOVIAK DOS SANTOSAinda não há avaliações
- DFDFDocumento28 páginasDFDFMarina CostaAinda não há avaliações
- II Manipulação Foto CinemaDocumento3 páginasII Manipulação Foto CinemaZelloffAinda não há avaliações
- Discussão Metodológica AulaDocumento8 páginasDiscussão Metodológica AulaCarlos Augusto Lara SilvaAinda não há avaliações
- A Manipulação Fotográfica Como Processo de Representação Do Real: A Reconstrução Da RealidadeDocumento11 páginasA Manipulação Fotográfica Como Processo de Representação Do Real: A Reconstrução Da RealidadeDaniel MeirinhoAinda não há avaliações
- Pós-Fotografia - Que Nada - Hiperfotografia - ZUM - ZUMDocumento10 páginasPós-Fotografia - Que Nada - Hiperfotografia - ZUM - ZUMtheloniousarielAinda não há avaliações
- A Imagem NuaDocumento90 páginasA Imagem NuaSergio RabassaAinda não há avaliações
- 5 BELTING Hans. O Fim Da Historia Da Arte 74 87Documento14 páginas5 BELTING Hans. O Fim Da Historia Da Arte 74 87Thais OliveiraAinda não há avaliações
- CIANOTIPIA Uma Saida Alternativa para FoDocumento54 páginasCIANOTIPIA Uma Saida Alternativa para FoDouglas FagnerAinda não há avaliações
- Ensaios em Design Producao DiversidadeDocumento31 páginasEnsaios em Design Producao DiversidadeCauex PascoaAinda não há avaliações
- A Fotografia Sob o Impacto Da EletronicaDocumento8 páginasA Fotografia Sob o Impacto Da EletronicaJoão NakacimaAinda não há avaliações
- Imagem Analogica e Imagem DigitalDocumento28 páginasImagem Analogica e Imagem DigitalBombo Admar Domingos83% (6)
- Ref Atas IIIEncontroAnualAIM 29Documento12 páginasRef Atas IIIEncontroAnualAIM 29katiele.costanAinda não há avaliações
- Manipulação de Imagens Os Excessos - MirandaDocumento16 páginasManipulação de Imagens Os Excessos - MirandaMário Lamenha100% (1)
- O Que (Não) Veem Os Nossos Olhos - Fotojornalismo Na Imprensa Portuguesa PDFDocumento143 páginasO Que (Não) Veem Os Nossos Olhos - Fotojornalismo Na Imprensa Portuguesa PDFpoueyAinda não há avaliações
- Catalogo GGDocumento30 páginasCatalogo GGAlexandre VieiraAinda não há avaliações
- Loizos, Peter Video, Imagem e SomDocumento19 páginasLoizos, Peter Video, Imagem e SomIsa BéuAinda não há avaliações
- Ficha Nº3 m1Documento4 páginasFicha Nº3 m1Teresa RodriguesAinda não há avaliações
- Caminhos da Comunicação: Tendências e Reflexões sobre o DigitalNo EverandCaminhos da Comunicação: Tendências e Reflexões sobre o DigitalAinda não há avaliações
- 12395-Texto Do Artigo-23205-1-10-20191211Documento22 páginas12395-Texto Do Artigo-23205-1-10-20191211Dandara FerreiraAinda não há avaliações
- Tendências e Contornos da Sociedade de Consumo: Primeiro Livro da Trilogia Mídia, Mediações e ConsumoNo EverandTendências e Contornos da Sociedade de Consumo: Primeiro Livro da Trilogia Mídia, Mediações e ConsumoAinda não há avaliações
- Plano de Negócios para Lavandaria Self-Service PDF - A Minha PriDocumento9 páginasPlano de Negócios para Lavandaria Self-Service PDF - A Minha PriBlack BoxAinda não há avaliações
- Sociologia EspontâneaDocumento2 páginasSociologia EspontâneaMarcos Bezerra da CostaAinda não há avaliações
- PET 4 - 1º ANO - BIOlOGIADocumento21 páginasPET 4 - 1º ANO - BIOlOGIAKENIA RAMOSAinda não há avaliações
- Melo - 2008 - O Que Ganhamos - Confundindo - Riqueza de Espécies e Equabilidade em Um Índice de Diversidade-CopiarDocumento8 páginasMelo - 2008 - O Que Ganhamos - Confundindo - Riqueza de Espécies e Equabilidade em Um Índice de Diversidade-CopiarLilian GiongoAinda não há avaliações
- Desafios Da Educação Ambiental No Período Pandemia eDocumento31 páginasDesafios Da Educação Ambiental No Período Pandemia eLuciano GandinAinda não há avaliações
- Anais X CBLA-2013-FormatadoDocumento12 páginasAnais X CBLA-2013-FormatadoEvaldo MelloAinda não há avaliações
- Apostila de Aulas PráticasDocumento70 páginasApostila de Aulas Práticasklesiane LimaAinda não há avaliações
- Kras 230419-DS-03 - Rev. 00Documento15 páginasKras 230419-DS-03 - Rev. 00dionepsouzaAinda não há avaliações
- QJ241 Manual BRPT 171011Documento213 páginasQJ241 Manual BRPT 171011Guilherme Prust100% (1)
- EDP Exercícios Lista Original PDFDocumento10 páginasEDP Exercícios Lista Original PDFEwerton MazoniAinda não há avaliações
- Fundamentos em Clínica CirúrgicaDocumento731 páginasFundamentos em Clínica CirúrgicaIsabella Maria100% (1)
- Catálogo OffshoreDocumento24 páginasCatálogo OffshoreJosé Antônio CardosoAinda não há avaliações
- Apostila 1 MorfologiaDocumento149 páginasApostila 1 MorfologiaGlaubertoMaiaAinda não há avaliações
- O Fantasma Da MoralidadeDocumento34 páginasO Fantasma Da MoralidadeFREDERICO FONSECAAinda não há avaliações
- De Escravas À Empregada DomésticaDocumento10 páginasDe Escravas À Empregada DomésticaEmory FigueiroaAinda não há avaliações
- 1slide FGE3Documento17 páginas1slide FGE3Acassio Pacheco de SouzaAinda não há avaliações
- Revisão ADA 9 ANODocumento2 páginasRevisão ADA 9 ANODalilla CostaAinda não há avaliações
- Banco de Memória - WikipediaDocumento2 páginasBanco de Memória - WikipediaFernando DumboAinda não há avaliações
- Ae 3ceb chk7 vd10Documento2 páginasAe 3ceb chk7 vd10marta martinsAinda não há avaliações
- TJ SP - SEMANA DECISIVA - Marcelo LeiteDocumento76 páginasTJ SP - SEMANA DECISIVA - Marcelo Leitegustavo santosAinda não há avaliações
- Manual de OraçãoDocumento80 páginasManual de OraçãoAdriellyAinda não há avaliações
- 10 Professor Educacao Basica II Linguagens e CodigosDocumento10 páginas10 Professor Educacao Basica II Linguagens e CodigossofiaAinda não há avaliações
- Tn2 Is 4 2 G L - 1AA: 22mm Push Button SwitchesDocumento2 páginasTn2 Is 4 2 G L - 1AA: 22mm Push Button Switchesfabio coalaAinda não há avaliações
- Análise Do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana de Vitória Da ConquistaDocumento35 páginasAnálise Do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana de Vitória Da ConquistaLázaro BritoAinda não há avaliações
- Iluminismo 8Documento5 páginasIluminismo 8cleitonAinda não há avaliações
- Pesquisa - A Influência Dos Youtubers para o Mercado de Quadrinhos NacionalDocumento20 páginasPesquisa - A Influência Dos Youtubers para o Mercado de Quadrinhos NacionalAndré ChapettaAinda não há avaliações
- Ciencia Magia Religiao - Programa AtualizadoDocumento5 páginasCiencia Magia Religiao - Programa AtualizadoAna Beatriz Nogueira PereiraAinda não há avaliações
- Cálculo de Suporte para TubulaçãoDocumento42 páginasCálculo de Suporte para TubulaçãoAilton Missano Jr.Ainda não há avaliações
- Dnit049 - 2004 - Es Pavimento Rigido PDFDocumento15 páginasDnit049 - 2004 - Es Pavimento Rigido PDFSee Planejados100% (1)
- Tolerancia Chapa Laser Oxicorte PlasmaDocumento2 páginasTolerancia Chapa Laser Oxicorte Plasmadopcnc100% (1)