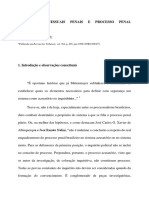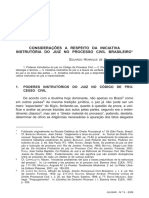Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Inquerito Policial Como Instrumento Terror
Enviado por
Marliane Baia0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações17 páginasTítulo original
Inquerito_Policial_como_instrumento_terror
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações17 páginasInquerito Policial Como Instrumento Terror
Enviado por
Marliane BaiaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 17
O Inquérito Policial como instrumento do direito penal do terror.
Para Dotti
Em outro local já disse (“Direito Alternativo – Teoria e Prática”, ed.
Lúmen Júris, 5ª. edição, 2004, p. 127-128):
"El derecho de policía, justamente por ser un
derecho inferior o incluso un no-derecho,
representa, en efecto, el setor más olvidado por los
estudios académicos. Aparece por doquier en esta
materia una especie de esquizofrenia de la ciencia
jurídica, tan atenta a los limites entre derecho penal
y derecho administrativo a propósito de las
contravenciones y de los ilícitos de bagatela - e
incluso virtuosistamente preocupada por la posible
desaparición de las garantias consiguientes a su
despenalización - como desatenta e irresponsable
frente al enorme universo de las medidas policiales
y administrativas restritivas de la libertad personal"
(Luigi Ferrajoli, “Derecho y Razón”, Ed. Trotta,
Madrid, 1995, p. 767).
e,
“Ferrajoli, no mesmo local, aponta três razões para
explicar a negligência intelectual: (a) há hierarquia de
nobreza estabelecida desde o direito romano entre os
ramos do jurídico: mais nobre o direito civil, após
público, penal e, por fim, o direito e as práticas policiais
- parece que quanto mais contaminado o direito pela
violência, mais difícil e incerta sua legitimação, e menor
interesse em seu estudo; (b) a polícia, por natureza,
atravessa as conquistas do estado de direito - princípio
da legalidade, divisão dos poderes e inviolabilidade dos
direitos fundamentais - e não se adapta a doutrinas
liberal-democráticas dos fundamentos do estado
moderno, ao contrário coloca em relevo suas cotas de
ineficácia; e, (c) inconscientemente mas
inconfundivelmente, razões de classe: as medidas
policiais estão destinadas prevalentemente "a las
capas más pobres y marginados - subproletariado,
prostitutas, vagabundos, ociosos, desempleados,
subempleados, imigrantes, etc. - de modo que su
estudio resulta, a sua vez, marginal con respecto a los
intereses académicos tradicionales" (p. 768)”.
“Isso talvez venha explicar porque os manuais tratam
do inquérito policial em poucas e formais linhas. O
mesmo fenômeno se dá na execução penal. Onde os
bons livros? Em verdade, quase nenhuma
intelectualidade sofisticada lá está - pretos, pobres e
prostitutas, quem se preocupa com eles? E são o alvo
preferencial policialesco.”
O inquérito policial – para além do debate em torno de sua
utilidade, se deve ou não existir e em quais circunstâncias – tem apresentado na
realidade processual brasileira efeitos nefastos, gerando danos à perspectiva
garantístico-constitucional de proteção ao cidadão-acusado.
Melhor dito: o mau uso que dele fazemos no momento
judicial.
Sabe-se que as investigações policiais têm por finalidade verificar
a existência do fato criminoso e sua autoria, possibilitando a propositura da ação
penal pelo legitimado: Ministério Público em caso de ação pública ou
condicionada à representação, ou querelante em ação penal privada. É o sentido
que vem do artigo 4º, da Lei Processual.
O inquérito se caracteriza por ser eminentemente inquisitorial.
Cuida-se de atividade meramente informativa cujos efeitos não podem alcançar o
cidadão enquanto acusado, mas só como indiciado. Investigações que podem –
ou não – levar à propositura da ação penal. Suas conclusões são sempre
provisórias – mínimo lastro probatório a autorizar a demanda penal.
Assim, por marcadamente arbitrário, sua importância é bem
definida pelo Código de Processo Penal, ou seja, responder as seguintes
indagações: houve infração penal? Se sim, quem é presumivelmente seu autor?
Sua importância é tão diminuta no momento judicial que a
jurisprudência pacificou entendimento: a nulidade emergente do inquérito não
macula a ação penal que lhe sucedeu: não é árvore, logo não pode gerar frutos
envenenados!
Mas o alarma surge pelo valor ilegal que tem se dado à “prova”
coletada – basicamente a oral – nesta fase. Em outras palavras, pelo seu mau
uso no momento que importa: o judicial.
Que se passa? É espetacular o número de condenações que
emergem daquilo que se produziu no momento do inquérito.
A retórica que se estabelece, para valorar aquilo que lá se
coletou, é marcadamente arbitrária:
a) tem importância porque foi colhido “ainda no calor dos fatos”
(como se o distanciamento não fosse clarificador da realidade, um alerta da razão
sobre a emoção; Boaventura Souza Santos já dizia magistralmente que não se
pode teorizar quando ainda se está no centro do conflito).
b) o acusado não destruiu os elementos vindos com o inquérito
(como se o acusado tivesse algum ônus probatório – a carga sempre, e
unicamente, alcança aquele que persegue e não ao que se defende, àquele que
ambiciona destruir o primado do estado constitucional de inocência).
c) as alegações de tortura – afinal todos os “delinqüentes” dizem
ter sido violados – não foram provadas (como se tortura não acontecesse, ou
mesmo pressões psicológicas – outra forma de tortura -, ou fosse possível provar
violações). O juiz paulista Luis Fernando Camargo de Barros Vidal bem apanhou
a questão: “Ouvi de um colega que muito prezo, a propósito do tema da tortura, a
seguinte observação: que novidade há no fato de o réu alegar que foi torturado?
Todos falam a mesma coisa! Pensei então se mentiras reiteradas se tornam
verdades, ou se verdades reiteradas podem tornar-se mentiras” (“Nós, os
Quelementes”, em Juízes Para a Democracia, ano 5, no. 18, 1999, p. 3).
d) há se confiar nos funcionários encarregados do inquisitório
(ora, se existe “confiança” tamanha qual a razão do princípio do contraditório, por
exemplo? E não se cuida de “confiar” ou não, mas de fazer presente as garantias
mínimas do cidadão).
e) o acusado “confessou” o crime detalhadamente (como se
fosse possível “confissão” sem garantias, ou seja, extraída a qualquer preço?).
f) ante o princípio da livre convicção, tudo que veio aos autos
pode ser valorado (como se a livre convicção não tivesse limites, como se não
devesse ser controlada - a função das garantias é exatamente o controle do
poder).
g) a “busca da verdade real” assim o exige (como se fosse
possível encontrá-la, como adiante se verá).
Enfim, o discurso da irracionalidade persecutória não tem limites.
Meu olhar tem direção diametralmente oposta: a prova oral
coletada na fase inquisitorial, no momento judicante – aquele que define a
responsabilidade do cidadão - tem valor igual a zero: nada, absolutamente nada,
vale!
Entendo que só é prova aquela coletada com as garantias do
devido processo legal. Se assim não for cuida-se de qualquer coisa, menos de
prova.
A prova está a exigir, para ter acolhida no sistema, requisitos que
lhe indispensáveis – condições de validade:
um – deve ser coletada perante autoridade eqüidistante – no
modelo vigente, o juiz. Ou seja, sujeito imparcial – aquele que não tem interesse
pessoal na produção probatória.
Não se pode admitir seja condutor da prova a autoridade que tem
interesse pessoal – pela própria natureza da função – na solução da causa, de
legitimar seus atos, de responder perante seus superiores por dados estatísticos,
de dar contas à opinião pública.
Aliás, é primário: há confusa relação psicológica entre perseguidor
e perseguido, entre “policial” e “bandido”. A atuação daquele é marcadamente
comprometida com resposta positiva à pendenga.
Não se vê como, então, dar suporte garantístico ao que foi
produzido pelo interessado – muitas vezes o é mais que a própria vítima!
Desde meu ponto de vista, e pelas razões antes apontadas,
sequer se pode dar valor ao “testemunho” dos policiais que participaram das
investigações – repete-se: marcadamente interessados no pleito.
dois – deve ser coletada com a preservação dos princípios da
ampla defesa e do contraditório – garantias constitucionais.
A estrutura inquisitorial, até mesmo por definição, atrita com tais
princípios. E deve mesmo conflitar (não se pode imaginar uma busca e apreensão
de instrumentos de crime, por exemplo, com ciência ao indiciado e seu advogado)
tanto que o Código, em seu artigo 20, estabelece a possibilidade do sigilo
necessário à investigação ou assim ditado pelo interesse da sociedade.
A seguinte hipótese bem demonstra o teratóide gerado pela
valoração da prova policial: imagine-se, na instrução judicial, a inquirição de
testemunha sem a presença defensiva; a solução é por demais simples (e por
todos aceita): o ato é nulo; no entanto, dá-se valor a inquirição celebrada em
Delegacia de Polícia sem o advogado do indiciado. Como justificar isso
racionalmente? E o princípio da racionalidade está na base do labor judicante.
três – aqui reside, talvez, o requisito mais importante da coleta da
prova oral: produção no espaço público.
É da essência da democracia que os atos que visem aplicação da
lei penal ao cidadão sejam coletados publicamente. Neste momento da história
não se pode admitir que a perseguição efetivada, via denúncia, se dê sob o
império do segredo: todos, absolutamente todos, tem o direito de fiscalizar a
atuação punitiva – note-se, como já se viu, que o segredo, o escondido, o
inquisitório, é previsto apenas para aquela fase onde acusação ainda não há, por
incerta a materialidade e a autoria: a do inquérito.
Ante a importância da publicidade dos atos do poder, Ferrajoli
(loc. cit. p. 617), coleta as seguintes citações:
Beccaria: “sean públicos los juicios y públicas las
pruebas del delito, para que la opinión, que acaso es el
solo cimiento de la sociedad, imponga un freno a la
fuerza y a las pasiones, para que el pueblo diga:
nosotros no somos esclavos, sino defendidos”;
Voltaire: “de verdade el secreto conviene a la justicia?
No debiera ser solo próprio del delito el esconderse?”
Pagano: “todo el proceso es desde el princípio conocido
para todos los reos, excepto para los pobres. Los
abogados, el ministério público y todo el mondo forense
no lo ignora. Hágase, entonces, por ley y para benefício
público lo que hoy se hace por corrupción y con
opressión solo del pobre”;
Bentham: “la publicidad es el alma de la justicia”,
“cuanto mas secretos han sido los tribunales, más
odiosos han resultado”.
Por outro lado, o pensador colombiano Fábian Acosta
(“Democracia, Procedimiento y Multitud: La Imaginación de las Necesidades”,
Bogotá, Pedagogia para lo Superior, 1997), ensina que
“la democracia siempre quiso ser un procedimiento
basado en la publicidad y absoluta claridad tanto de sus
postulados como de su ejercicio... En contra del
absolutismo feudal, la democracia moderna queria
constituir un forma de gobierno donde las decisiones no
fueran tomadas em los gabinetes secretos lejos de las
miradas indiscretas del público, sino en espacios visibles
de deliberación donde la transparência fuese el princípio
rector”.
Mas, o perturbador maior – ao meu sentir - é o discurso da busca
“verdade real” como justificador de atuação arbitrária.
Acontece que a verdade, como sendo o todo (Hegel), não é
alcançável pelo humano (texto de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, no
particular, é esclarecedor: Glossas ao “Verdade, Dúvida e Certeza”, de Francesco
Carnelutti, in “Anuário Ibero-Americano de Direitos Humanos” (2001-2002),
Lumen Juris, Rio, 2002).
Para Ferrajoli, a dita verdade real é “una ingenuidad
epistemológica” e mais “si una justicia penal completamente ‘con verdad’
constituye una utopia, una justicia penal completamente ‘sin verdad’ equivale a un
sistema de arbitrariedad”). A “verdade”, para ele, dá-se por aproximação e o é
histórica e relativa.
Adauto Suannes, a sua vez, diz que “A descuidada afirmação de
que o processo penal deve perseguir intransigentemente a verdade real tem sido
responsável por inúmeras deformações do processo, com afirmações e decisões
descabidas, que desconsideram o longo caminhar do due process” (“Os
Fundamentos Éticos do Devido Processo Penal”, p. 146).
A verdade, por inalcançável, é uma mentira, justificadora do
inquisitório, a ponto de “legitimar”, para sua extração, inclusive a tortura – a Idade
Média, porões de algumas Delegacias de Polícia, a guerra do Iraque, estão bem a
demonstrar.
E se está a repetir em sentenças, em acórdãos, na doutrina, que
uma das finalidades da instrução processual é busca da verdade, quando se
sabe, a partir de Adauto Suannes, que a finalidade do processo é assegurar um
julgamento justo - logo, humano – ao acusado.
Em definitivo: no processo penal não se está interessado em
estabelecer se o cidadão praticou determinado crime, mas se há prova
legalmente apurada e verificável de que ele o tenha praticado.
O repúdio, então, à prova oral policial é total.
E rejeitada deve ser venha de que lado vier. De outra maneira:
seja para condenar, seja para absolver. Desvalorar para uma parte e não para
outra, além de agredir o princípio da igualdade, gera incoerência lógica
insustentável: beira o irracional.
Diferentemente, por certo, é a aceitação das provas técnico-
periciais. Estas por irrepetíveis e inadiáveis podem ser realizadas ainda na fase
do inquisitório, submetendo-se ao contraditório postergado – momento da ação
penal. No entanto, o sistema, sabiamente, como se vê da redação do artigo 159
do Código está a deslocá-las para fora do âmbito da autoridade policial, tanto que
deve ser celebrada por dois peritos oficiais ou por duas pessoas “idôneas,
portadores de diploma de curso superior”.
Em tal contexto, policiais não podem atuar como peritos: isentos
não são. Veja-se a seguinte ementa:
PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA.
PERÍCIA CELEBRADA POR POLICIAIS. NULIDADE.
Nos crimes de porte ilegal de arma, necessária perícia
comprobatória da potencialidade ofensiva.
Policiais civis não podem atuar como peritos: falta-lhes
isenção ao exercício do cargo.
Perícia, então, nula. Conseqüência: inexistência de
prova da materialidade.
Deram provimento ao apelo defensivo para absolver o
denunciado, prejudicado o apelo acusatório (unânime).
(Apelação criminal 70008560179, de 25-08-2004, 5ª.
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RGS).
Em verdade, como o inquérito serve unicamente de instrumental
para oferecimento da inicial de acusação, não deveria sequer ser juntado aos
autos após o recebimento da peça ovo.
Todavia, como ainda o sistema não disciplina isso expressamente
(o artigo 12 do Código apenas ordena que o inquérito acompanhe a denúncia ou
queixa, cuja razão de ser é a verificação da presença da justa causa à propositura
da ação penal) – o que não impede ao juiz que assim o faça – entendemos que o
julgador deve simplesmente recusar a leitura das peças do inquérito no momento
decisional para que tais não invadam seu imaginário e a prova “sadia” reste
contaminada, ainda que inconscientemente, por aquela que repudia as garantias
de um processo penal minimante democrático.
Algumas ementas de acórdãos que abordam a matéria, entendo
mereçam ser transcritas:
1. - Receptação. Prova policial – desvalor.
Palavra de Policiais – valor relativo.
A prova oral coletada na fase policial valor
algum tem porquanto ausentes as garantias
mínimas do processo penal democrático – nem
mesmo a presença de advogado legitima o
ilegítimo.
A palavra de policiais que atuaram no inquérito
tem valor reduzido: falece isenção necessária
para testemunhar.
Possível a coleta de testemunhos isentos, não
se admite condenação com base na versão dos
policiais que atuaram no inquérito – falha
acusatória.
Condenação não compactua com prova frágil.
Deram provimento aos apelos para absolver os
acusados (5ª. C. Criminal do TJRS, ap.
70005968151, de 30.6.2004).
2. - Apelação-crime. Roubo majorado. Prova
oral policial. Desvalor.
A única prova hábil a gerar certeza é aquela
coletada perante autoridade eqüidistante, sob o
crivo do contraditório, com sóbria fiscalização
das partes, no espaço público. O inverso, onde
vigora o segredo e a busca da verdade máxima
a qualquer preço, se situa no sistema
inquisitorial vigorante na idade média. “La
publicidad es la alma de la justicia...cuanto más
secretos han sido los tribunales, más odiosos
han resultado” (Ferrajoli, Luigi, Derecho y
Razón. Madrid: Trotta, 1995, p. 616/617.
...
Alegação de tortura do acusado. Presunção
de inconsistência?
Proclamar a inveracidade, em absoluto, de toda
e qualquer alegação de tortura significa apostar
na ingênua tese de que não há tortura em nosso
país. Mentiras reiteradas se tornam verdades ou
verdades reiteradas se tornam mentiras?
À unanimidade, prejudicadas as preliminares,
deram provimento aos apelos (5ª. C. Criminal do
TJRS, ap. 70006457733, de 13.8.2004).
3. - Processo Penal. Prova Policial. Chamada
do Co-réu. Álibi.
A prova oral coletada na fase policial não serve
para condenar cidadão algum, pena de
recuperar o medieval inquisitório desde muito
superado pela modernidade.
A chamada do co-réu, máxime quando
exculpativa, não autoriza decreto de
condenação.
Réu não tem ônus probatório algum, nem de
álibi. A carga probatória alcança apenas o
Estado-Acusação.
Deram provimento para absolver o apelante
(unânime) (5ª. C. Criminal do TJRS, ap.
70008700098, de 23.6.2004).
Da positivação processual penal codificada, porém, dois aspectos
que gostaria de abordar:
Primeiro – o artigo quinto, prevê que o inquérito policial será
iniciado, entre outras hipóteses, “II – mediante requisição da autoridade judiciária”.
Ora, se optamos pelo modelo acusatório – aquele em que há
rígida separação entre acusador e julgador, onde a este se reserva atuação
eqüidistante – entendemos que o juiz (o terceiro distante da pendenga) não pode
requisitar a abertura de atos persecutórios. Aí residiria uma relação incestuosa
entre o que persegue e o que julga.
Requisitar abertura de inquérito é ter, embora mínima, ciência
extra-autos da existência de um delito. E tão importante é este conhecer que ele é
impelido a chamar a autoridade policial para tudo resolver.
Este juiz, por certo, neste momento, tem sua isenção abalada: até
em nível inconsciente atuará no sentido de justificar a sua requisição.
Não, não se está dizendo que o cidadão-juiz, ao ter conhecimento
de um crime, deva permanecer inerte. Mas se requisitar a abertura de
investigações estará impedido de atuar como juiz do caso concreto.
Exige-se do Poder Judiciário o possível distanciamento da
atividade policial-investigativa. E tudo para garantia do débil – diria Ferrajoli – o
que sofre a perseguição do Estado.
Segundo - o artigo 10, saudavelmente, estabelece o tempo de
duração do inquérito policial quando o cidadão estiver preso – seja em razão de
flagrante, seja por decreto de prisão preventiva – sempre a contar da respectiva
prisão: “o inquérito deverá terminar no prazo de 10 (dez) dias”.
A única exceção, para dilação do prazo, está prevista no
parágrafo terceiro, mas somente “quando o fato for de difícil elucidação, e o
indiciado estiver solto”.
Todavia, mediante variada retórica – às vezes sem nenhuma – o
prazo para conclusão do inquérito é alargado, espetacularmente alargado.
Que fazer?
Aqui um dos locais apropriados para atuação no nível da
positividade combativa: espécie de guerrilha a ser travada no espaço judicial para
que as normas que protegem o cidadão se “façam carne”, ante a tendência
hipócrita de não serem cumpridos dispositivos legais que asseguram direitos dos
excluídos.
Não se deve transigir jamais – estratégias são negociáveis,
princípios não, diria o inesquecível Roberto Lyra Filho.
O juiz comprometido com os direitos humanos, por certo, de
ofício, determinará a soltura do indiciado – não pode ser conivente com a
ilegalidade agressora dos direitos do cidadão: seja ele quem for, seja qual o delito
cometido.
O Estado, enquanto reserva ética, não pode postergar, em
prejuízo do cidadão, a legalidade que ele mesmo impôs como limite ao seu
arbítrio: lei é limite a todo o poder desmesurado, inclusive daquele que faz a lei!
Mas se o juiz não libertar o cidadão, descumprindo com seu
mister de guardião dos direitos do cidadão, o caminho é a propositura de hábeas
corpus por excesso de prazo. Eis uma ementa nesta direção:
“HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO.
PREVENTIVA. Se se prende cidadão antes do tempo
correto – sentença trânsita em julgado (exceção
espetacular) – que se cumpram os prazos com
seriedade, pena de gerar teratóide ético-jurídico.
Concederam a ordem” (“Garantismo Penal Aplicado”,
ed. Lúmen Júris, 2003, p.253).
Ainda assim, vezes muitas, o problema persistirá porque alguns
integrantes dos Tribunais tendem, com freqüência, dar elasticidade aos prazos
em prejuízo ao cidadão, no caminho inverso da razão da sua existência: operam
com a lógica do Estado e não dos direitos humanos.
O “que fazer?” ainda persistirá, mas esse é um ônus da
democracia: conviver com alguma injustiça.
Talvez a única forma de luta a persistir será denúncia pública
como maneira de chamar a atenção e buscar uma nova racionalidade no espaço
judicial.
É verdade, por outro lado, que situações podem ocorrer que o
prazo deva ser dilatado – inúmeros delitos praticados por inúmeros indiciados, por
exemplo. Mas aí se estará no excepcional, em momento de caos da democracia
processual, ocasião em que se pode pensar em temperar o prazo, mas por tempo
mínimo, espetacularmente mínimo: o absolutamente necessário à conclusão do
inquérito.
Mas realidade está a gritar: não são esses os casos onde
comumente a ilegalidade pela inobservância dos prazos se dá. Tudo acontece
com indiciados pobres ou quando a sede de vingança da sociedade neurotizada
se faz presente.
Estou convencido – ao menos por agora: toda “certeza” é datada
– de que a neurose que explode na sociedade civil neste momento histórico em
buscar segurança a qualquer preço – pode-se pensar em segurança sem justiça?
– tem alcançado os operadores jurídicos.
E a conseqüência é uma: tornamo-nos frágeis em relação à
garantias da cidadania.
Logo, o inquérito se transforma em instrumento irracional na
perseguição desenfreada dos réus, principalmente aqueles que não são os iguais
a nós, pequenos burgueses perfumados, ou seja, “o outro”, “las capas más
pobres y marginados”.
Mas a pergunta não cala: é este o papel do jurista?
Amilton Bueno de Carvalho – outono de 2005.
Você também pode gostar
- Sistema de Nulidades 'A La Carte' Precisa Ser Superado No Processo Penal. Aury Lopes Jr.Documento7 páginasSistema de Nulidades 'A La Carte' Precisa Ser Superado No Processo Penal. Aury Lopes Jr.Lara HemerlyAinda não há avaliações
- Me Ne Frego: A Presunção de Inocência Apunhalada Pelo STFDocumento5 páginasMe Ne Frego: A Presunção de Inocência Apunhalada Pelo STFSalah H. Khaled Jr.Ainda não há avaliações
- BASTOS, João José Caldeira - Ensino Crítico de Direito Penal PDFDocumento13 páginasBASTOS, João José Caldeira - Ensino Crítico de Direito Penal PDFJhonatas MeloAinda não há avaliações
- Debate sobre Teoria Geral do Processo e suas limitações para o Processo PenalDocumento13 páginasDebate sobre Teoria Geral do Processo e suas limitações para o Processo PenalArthur Bastos RodriguesAinda não há avaliações
- Flexibilização Da Prova Ilícita PDFDocumento28 páginasFlexibilização Da Prova Ilícita PDFIgnácioNunesFernandesAinda não há avaliações
- Contornos Constitucionais Da Investigação Criminal No Contexto Do CiberespaçoDocumento18 páginasContornos Constitucionais Da Investigação Criminal No Contexto Do CiberespaçoAdriel Santos SantanaAinda não há avaliações
- Os sistemas processuais penais ao longo da história: inquisitório, acusatório e mistoDocumento4 páginasOs sistemas processuais penais ao longo da história: inquisitório, acusatório e mistoRodrigo ZinkAinda não há avaliações
- Artigo Científico - Larissa FláviaDocumento6 páginasArtigo Científico - Larissa FláviaLarissa Flavia Oliveira da SilvaAinda não há avaliações
- O Absurdo Das Denúncias Genéricas (Ou, o Mágico de Oz e o Estado-Leviatã, Uma Simbiose Sinistra) - Por Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Edward Rocha de Carvalho - Empório Do DireitoDocumento12 páginasO Absurdo Das Denúncias Genéricas (Ou, o Mágico de Oz e o Estado-Leviatã, Uma Simbiose Sinistra) - Por Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Edward Rocha de Carvalho - Empório Do DireitoCaioAinda não há avaliações
- Unid 04.2 - Princípio Da Insignificância Delegado Polícia - Roteiro LMMDocumento4 páginasUnid 04.2 - Princípio Da Insignificância Delegado Polícia - Roteiro LMMLFMM EducaçãoAinda não há avaliações
- Mandado de Busca e Apreensão - Artigo InteressanteDocumento9 páginasMandado de Busca e Apreensão - Artigo InteressantetreadbrAinda não há avaliações
- Entrevista com Sergio MocciaDocumento11 páginasEntrevista com Sergio MocciaEduardo Pitrez A. CorrêaAinda não há avaliações
- Da Inexistência de Injúria No Exercício Da Crítica Política - Fernando Nogueira Martins JúniorDocumento5 páginasDa Inexistência de Injúria No Exercício Da Crítica Política - Fernando Nogueira Martins JúniorFernando NogueiraAinda não há avaliações
- Direito Penal do Inimigo e o TerrorismoNo EverandDireito Penal do Inimigo e o TerrorismoAinda não há avaliações
- L 02 Tira Gosto Teoria Dos Crimes Omissivos Juarez Tavares2Documento47 páginasL 02 Tira Gosto Teoria Dos Crimes Omissivos Juarez Tavares2UkkanAinda não há avaliações
- A flexibilização da prova ilícita e os riscos à democraciaDocumento30 páginasA flexibilização da prova ilícita e os riscos à democraciaIgnácioNunesFernandesAinda não há avaliações
- Mídia, julgamento político e Estado de Direito na Ação Penal 470Documento3 páginasMídia, julgamento político e Estado de Direito na Ação Penal 470Carmono EstulanoAinda não há avaliações
- Cargo 08 Perito BrancoDocumento12 páginasCargo 08 Perito BrancoAntenor TimoAinda não há avaliações
- Falsos Bens Juri769dicosDocumento24 páginasFalsos Bens Juri769dicosBrendo GomesAinda não há avaliações
- Flexibilização Da Prova Ilícita PDFDocumento31 páginasFlexibilização Da Prova Ilícita PDFIgnácioNunesFernandesAinda não há avaliações
- A perpetuação indevida dos antecedentes criminais: uma violação à dignidade do acusadoNo EverandA perpetuação indevida dos antecedentes criminais: uma violação à dignidade do acusadoAinda não há avaliações
- Seletividade Policial, Processo de Criminalização, Encarceramento: Considerações Sobre A Catástrofe Penal BrasileiraDocumento14 páginasSeletividade Policial, Processo de Criminalização, Encarceramento: Considerações Sobre A Catástrofe Penal BrasileiraLuciana MirandaAinda não há avaliações
- Busca e apreensão ilegaisDocumento2 páginasBusca e apreensão ilegaisdaniel del cid100% (1)
- Sistemas Processuais PenaisDocumento23 páginasSistemas Processuais PenaisArsenio Augusto MachaiaAinda não há avaliações
- Fabio Direito Penal e Direito SancionadorDocumento32 páginasFabio Direito Penal e Direito SancionadorTamara SilvaAinda não há avaliações
- 00 Ap ImprensaDocumento65 páginas00 Ap ImprensaDébora OliveiraAinda não há avaliações
- Decisões de consciência em Direito PenalDocumento36 páginasDecisões de consciência em Direito PenalMariana Magalhães RapoulaAinda não há avaliações
- Trabalho PenalDocumento10 páginasTrabalho Penalfernando maiaAinda não há avaliações
- Discursos de Direito Penal de EmergênciaDocumento8 páginasDiscursos de Direito Penal de EmergênciaSimone SilvaAinda não há avaliações
- Furto famélico, estado de necessidade e princípio da insignificânciaDocumento5 páginasFurto famélico, estado de necessidade e princípio da insignificânciaEdu790Ainda não há avaliações
- Teoria Geral Do Processo É Danosa para A Boa Saúde Do Processo Penal - Aury Lopes JRDocumento7 páginasTeoria Geral Do Processo É Danosa para A Boa Saúde Do Processo Penal - Aury Lopes JRjobeenAinda não há avaliações
- PrincipioinsignificanciaDocumento12 páginasPrincipioinsignificanciaJunior RodriguesAinda não há avaliações
- O Juiz No P Civil BrasileiroDocumento26 páginasO Juiz No P Civil BrasileiroFernando Galvao AndreaAinda não há avaliações
- RHC158580Documento56 páginasRHC158580LEANDRO DE PAULA CARLOSAinda não há avaliações
- Jobim Do Amaral Augusto. Gloeckner Ricardo Jacobsen. A Delação Nos Sistemas Punitivos ContemporâneosDocumento18 páginasJobim Do Amaral Augusto. Gloeckner Ricardo Jacobsen. A Delação Nos Sistemas Punitivos ContemporâneosMarcos MeloAinda não há avaliações
- Deveres Eticos Do Ministerio PublicoDocumento8 páginasDeveres Eticos Do Ministerio PublicoHILDAAinda não há avaliações
- Cópia de Artigo - InqueritoFNDocumento5 páginasCópia de Artigo - InqueritoFNLeonardo ChagasAinda não há avaliações
- 11 temas importantes da Lei de Abuso de AutoridadeDocumento20 páginas11 temas importantes da Lei de Abuso de AutoridadeFabiano Luis LopesAinda não há avaliações
- A Impossibilidade Ideológica, Teórica e PráticaDocumento12 páginasA Impossibilidade Ideológica, Teórica e PráticaPaula RochaAinda não há avaliações
- Decisionismo Judicial Brasileiro: o escandaloso caso Lula-TríplexNo EverandDecisionismo Judicial Brasileiro: o escandaloso caso Lula-TríplexNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Fabioalves, Resenha - As MisériasDocumento6 páginasFabioalves, Resenha - As MisériasRubens MagalhãesAinda não há avaliações
- Teoria da Ação Penal: conceito, condições e espéciesDocumento39 páginasTeoria da Ação Penal: conceito, condições e espéciesValéria RodriguesAinda não há avaliações
- Resolução Das Questões Sobre A Pane de FRIEDRICH DÜRRENMATTDocumento3 páginasResolução Das Questões Sobre A Pane de FRIEDRICH DÜRRENMATTMarilenAinda não há avaliações
- Lições de Dogmática Crítica: direitos fundamentais dos identificados como suspeitos na atividade policial – Volume 1No EverandLições de Dogmática Crítica: direitos fundamentais dos identificados como suspeitos na atividade policial – Volume 1Ainda não há avaliações
- Simulado PMCE abrange direitos e legislaçãoDocumento45 páginasSimulado PMCE abrange direitos e legislaçãoAlisson Aguiar0% (1)
- Palestra Cirino USP - André MirandaDocumento64 páginasPalestra Cirino USP - André MirandaAndré R. de MirandaAinda não há avaliações
- SILVA, Adrian - Sobre A Criminologia e o Processo PenalDocumento3 páginasSILVA, Adrian - Sobre A Criminologia e o Processo PenalAdrian SilvaAinda não há avaliações
- APS 2a. Etapa 2.2020 Processo Penal IDocumento28 páginasAPS 2a. Etapa 2.2020 Processo Penal IThalyta VitóriaAinda não há avaliações
- A Polícia como Justiça Informal nas classes popularesDocumento31 páginasA Polícia como Justiça Informal nas classes popularesgilmarajoane100% (1)
- Direito Enquanto Modo de Vida 2019Documento3 páginasDireito Enquanto Modo de Vida 2019Fernanda Curcio SagazAinda não há avaliações
- Garantismo - Aury Lopes JRDocumento16 páginasGarantismo - Aury Lopes JRDouglastri100% (1)
- Slide 1 - Processo Penal 1Documento19 páginasSlide 1 - Processo Penal 1Felipe De Paula DiasAinda não há avaliações
- O Poder Punitivo e A Magistratura - Nilo BatistaDocumento22 páginasO Poder Punitivo e A Magistratura - Nilo BatistamtsAinda não há avaliações
- Caderno Direito Penal CPII 2020Documento51 páginasCaderno Direito Penal CPII 2020Larissa PradoAinda não há avaliações
- Semana 9 - O Ministério Público A Colaboração PremiadaDocumento48 páginasSemana 9 - O Ministério Público A Colaboração PremiadaLucas AlvesAinda não há avaliações
- Direito Penal do Inimigo e o TerrorismoDocumento3 páginasDireito Penal do Inimigo e o TerrorismoKuake HDAinda não há avaliações
- Os princípios democrático e da lealdade em processo penalDocumento8 páginasOs princípios democrático e da lealdade em processo penalPedro G SAinda não há avaliações
- Resumo - Livro PDFDocumento50 páginasResumo - Livro PDFMaria Aguiar0% (1)
- Biologia CelularDocumento238 páginasBiologia CelularJOSE RINALDO FAGUNDES BATISTA100% (1)
- Manual Básico de Cuidados Com Animais de Companhia e Pets ExóticosDocumento35 páginasManual Básico de Cuidados Com Animais de Companhia e Pets ExóticosTaty CavalliniAinda não há avaliações
- Manual de Boas Praticas Na Criacao de Animais de Estimacao Modulo Caes e GatosDocumento98 páginasManual de Boas Praticas Na Criacao de Animais de Estimacao Modulo Caes e GatosvivianeargoloAinda não há avaliações
- Deambulação e posições no partoDocumento55 páginasDeambulação e posições no partoVanilda PortoAinda não há avaliações
- TCC Thays-Atualizado - FinalDocumento30 páginasTCC Thays-Atualizado - FinalMarliane BaiaAinda não há avaliações
- W Ewtr HFHGHDFVH WerweDocumento47 páginasW Ewtr HFHGHDFVH WerweMatheusKritliAinda não há avaliações
- Crimes Contra o Patrimonio Parte I E1684526498Documento89 páginasCrimes Contra o Patrimonio Parte I E1684526498Marco TangerinoAinda não há avaliações
- Word 365Documento80 páginasWord 365Marliane BaiaAinda não há avaliações
- Questões Conceitos de Internet e IntranetDocumento4 páginasQuestões Conceitos de Internet e IntranetMarliane BaiaAinda não há avaliações
- Lei 8112.90 - Mapa Mental CompletoDocumento29 páginasLei 8112.90 - Mapa Mental Completoeduque100093% (14)
- Questões Conceitos de Internet e IntranetDocumento4 páginasQuestões Conceitos de Internet e IntranetMarliane BaiaAinda não há avaliações
- Apostila de Matemática Básica Com 206 Exercícios PDFDocumento22 páginasApostila de Matemática Básica Com 206 Exercícios PDFIvaldir SantosAinda não há avaliações
- TGP Sli 2023Documento134 páginasTGP Sli 2023Alison BalbinoAinda não há avaliações
- Material Complementar CFSD 2022 Direitos HumanosDocumento97 páginasMaterial Complementar CFSD 2022 Direitos HumanosLúcio Junior VasconcelosAinda não há avaliações
- Pedro Saad - Licença para Construir e Garantia Constitucional Ao Direito Adquirido - Uma Revisão Da Jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal PDFDocumento21 páginasPedro Saad - Licença para Construir e Garantia Constitucional Ao Direito Adquirido - Uma Revisão Da Jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal PDFPedro SaadAinda não há avaliações
- Slides ProvaDocumento29 páginasSlides ProvaVanessa GeronimoAinda não há avaliações
- BR 204 I Serie 2022Documento10 páginasBR 204 I Serie 2022SheniL SAinda não há avaliações
- A Prova - TaruffoDocumento32 páginasA Prova - TaruffoLaura Camolesi TonioloAinda não há avaliações
- Origens da usucapio em RomaDocumento34 páginasOrigens da usucapio em RomaAntônio MelgaçoAinda não há avaliações
- Origens Da Justiça Restaurativa No Brasil PDFDocumento9 páginasOrigens Da Justiça Restaurativa No Brasil PDFDenise Elidia da SilvaAinda não há avaliações
- Trabalho LaapDocumento5 páginasTrabalho LaapBruno Lanna100% (1)
- Direito Econômico ApontamentosDocumento23 páginasDireito Econômico ApontamentosBadrudine Abdul NordineAinda não há avaliações
- Ponto 12 - NovoDocumento213 páginasPonto 12 - NovopedropauloAinda não há avaliações
- Direito de Superfície GabaritoDocumento3 páginasDireito de Superfície GabaritoPablo Domingues de MelloAinda não há avaliações
- O Oitavo MandamentoDocumento9 páginasO Oitavo MandamentoSonia BeteAinda não há avaliações
- Certifica DosDocumento13 páginasCertifica DosBernardo OliveiraAinda não há avaliações
- Cad - Aulas de DIDocumento42 páginasCad - Aulas de DIAlberto Cerqueira100% (1)
- Modelo EMBARGOS DE DECLARACAODocumento4 páginasModelo EMBARGOS DE DECLARACAOGilfredo MacarioAinda não há avaliações
- Vícios e virtudes do caráter humanoDocumento3 páginasVícios e virtudes do caráter humanoSigmar GamaAinda não há avaliações
- Modelo ContestaçãoDocumento23 páginasModelo ContestaçãoRob GiacAinda não há avaliações
- Tridimensionalismo Jurídico - As Três Partes Integrantes Do DireitoDocumento8 páginasTridimensionalismo Jurídico - As Três Partes Integrantes Do DireitoÍcaro EmanoelAinda não há avaliações
- Constitucional II - Módulo IIDocumento9 páginasConstitucional II - Módulo IInoventa grausAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito Processual Civil IDocumento15 páginasApontamentos de Direito Processual Civil IVerónicaSantos100% (11)
- Ação Popular IbamaDocumento11 páginasAção Popular IbamaMetropolesAinda não há avaliações
- Estrutura de petição para memoriais penaisDocumento4 páginasEstrutura de petição para memoriais penaisLucas Silva Lopes100% (1)
- Teoria constitucional do processo civilDocumento34 páginasTeoria constitucional do processo civilPaula BarrosAinda não há avaliações
- Ação de Averiguação de PaternidadeDocumento3 páginasAção de Averiguação de PaternidadeThiago BarrosAinda não há avaliações
- Estudos em Homenagem ao Juiz Conselheiro António Henriques Gaspar: A defesa do direito à assistência por advogadoDocumento58 páginasEstudos em Homenagem ao Juiz Conselheiro António Henriques Gaspar: A defesa do direito à assistência por advogadoPedro G SAinda não há avaliações
- Embargos DeclaraçãoDocumento4 páginasEmbargos DeclaraçãoRodrigo da CunhaAinda não há avaliações
- Prova OralDocumento385 páginasProva OralLucineia Pinho LopesAinda não há avaliações
- A teoria tridimensional do direito de Miguel Reale e a teoria discursiva de Robert AlexyDocumento5 páginasA teoria tridimensional do direito de Miguel Reale e a teoria discursiva de Robert AlexyRoberto AlfonAinda não há avaliações
- Curso de Processo Penal – Parte I: Procedimento Sumaríssimo (Lei 9.099/95Documento5 páginasCurso de Processo Penal – Parte I: Procedimento Sumaríssimo (Lei 9.099/95Cristiane Aparecida FreitasAinda não há avaliações