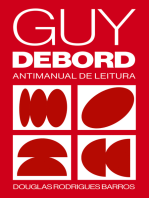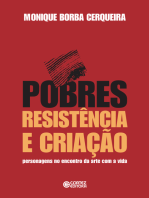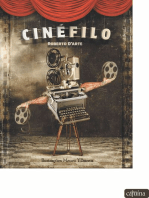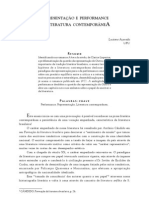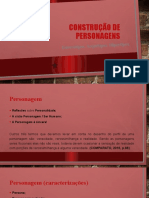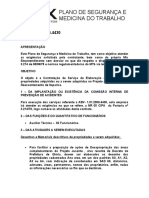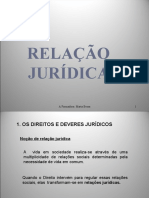Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Oito Entradas No Diário
Enviado por
Pablo NascimentoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Oito Entradas No Diário
Enviado por
Pablo NascimentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1. Outubro de 2021.
Em artigo escrito para o Jornal Rascunho, o escritor angolano
João Melo comenta sobre a tendência cada vez mais frequente de se cobrar
“literatura decolonial” dos autores e autoras que escrevem na África. Na opinião de
Melo, “a exigência em causa é uma redundância, pois a referida literatura nasceu,
pode dizer-se, da necessidade histórica de confrontar o colonialismo e a dominação.
Digo-o, sem receio de errar e sem qualquer arrogância: a maioria dos escritores
africanos, que sempre escreveu contra todos os podres poderes (coloniais e
pós-coloniais), não precisa de aprender o que é “literatura decolonial”, pois
exercita-a desde sempre.”
2. Agosto de 2020. Lanço meu terceiro longa, intitulado ‘Passou’, no Festival Ecrã, a
convite do curador Pedro Tavares. Como é frequente na minha obra até aqui. O filme
é uma meditação muito pausada e delicada sobre o amor, e o fim deste, e
acompanha um trio de personagens masculinos se enredando num triângulo
amoroso noite adentro, e anos afora, num apartamento no centro do Recife. Quando
do lançamento, o colega cineasta e pesquisador André Antônio fez um comentário
que pareceu me esclarecer muitos dos incômodos que eu tinha com a recepção da
minha obra. Entre outras coisas ele dizia: “O cinema de Felipe André Silva é um
caso particular no Brasil. Assim como em "Santa Monica", os personagens para os
quais o realizador volta sua câmera aqui são jovens artistas de classe média, ou que
querem ser artistas, ou que se interessam por literatura, teatro e cinema - ou que
poderiam ser descritos pejorativamente com o termo "hipsters". Há um
estranhamento na recepção desses filmes dentro de um circuito onde é a classe
média branca hipster que, num fetiche frequente sobre "filmar o outro", só volta sua
câmera para sujeitos em situação de fragilidade social e para os temas "urgentes e
necessários". Apenas por ter invertido esse eixo exatamente em 180º, os filmes de
Felipe André criam um nó digno de interesse na teia de obviedades do cinema
brasileiro contemporâneo.”
3. Fevereiro de 2019. Chega até mim o link de um curta chamado Mamata, datado de
2017 e dirigido pelo realizador pelo baiano Marcus Curvelo, que eu não havia
assistido ainda, apesar de termos compartilhado uma sessão num festival. O filme,
assim como boa parte da obra de Marcus, é uma sátira política que remete tanto à
comicidade física de Tati ou Étaix, quanto à urgência de Petri, ou Godard em seu
período mais obviamente ativista. Na trama, o fracassado Joder (interpretado pelo
cineasta e seu alter ego constante), se vê embrenhado no pântano da produção
audiovisual para campanhas políticas ao precisar de dinheiro urgente para sair do
país. Talvez o mais significativo exemplar da bela carreira de Curvelo, Mamata é
também um corpo estranho no que diz respeito à produção do dito ‘cinema político’
brasileiro, um dos poucos que abraçam o mote que diz “se não posso debochar, não
é minha revolução.” Me encanto em especial por uma imagem do protagonista
caindo e rolando uma escadaria em Brasília. É engraçado. Por vezes é o que resta e
isso basta.
4. Outubro de 2021. Os resultados do edital local de cultura começam a ser divulgados.
Tendo sido declinado já na primeira fase, solicito a súmula do meu projeto para
tentar entender os motivos. O projeto é uma adaptação musical em média metragem
de Macário, texto teatral escrito pelo autor ultra romântico Álvares de Azevedo. No
texto original, Macário é um jovem libertino e depravado que se embrenha em
debates filosóficos com seu colega Penseroso, e com o próprio diabo. Não
surpreendente para um material tão antigo e composto por uma pessoa que pouco
experimentou a vida antes de morrer, Macário não freia nos tons misóginos de seus
personagens, mas é curiosamente encharcado de sugestão homoerótica. Levando
em consideração o panorama rigorosamente realista e ávido por correção que o
cinema brasileiro vinha tomando, achei que seria interessante propor a manutenção
de boa parte dessas características como um jogo, trazer de volta a sátira, o
escárnio com tudo aquilo que é anacrônico, e por isso manteria Macário e
Penseroso com suas visões problemáticas, mas o Diabo seria agora um cupido, e
ensinaria a eles, através de uma paixão avassaladora entre os dois, o que havia de
errado em seu julgamento. Talvez seja desnecessário explicar que a recepção da
banca avaliadora para com o material seguiu aquela mesma veia corretiva, mas é
interessante notar que, dentro da justificativa, estavam listadas questões como, “não
celebra espaços de vivência queer” e “não tem conhecimento de pajubá”. Ponderei
por alguns instantes se eu estava apenas vivendo um episódio de artista tendo seu
ego ferido ou se era o sistema, que tanto bradava seu apoio à mim, à essa figura do
cineasta preto, gay e favelado, que tinha se perdido dentro de seus próprios
preceitos. Surge daí a questão fundamental: As atualizações e recortes raciais
estabelecidos dentro das leis de fomento nos últimos 10 anos servem para fortalecer
e celebrar a presença de criadores negros, trans, mulheres, etc, dentro de sua
potência criativa, ou servem somente como folheto propagandista de um suposto
interesse nesses corpos?
5. Novembro de 2019. Lanço um brevíssimo curta-metragem de nome “cinema
contemporâneo”, sem qualquer índice claro de que esse filme se tornaria meu
trabalho mais festejado até aqui. Projeto que me acompanhava a muito tempo,
“cinema” é um experimento onde viajo por uma de minhas fotos da infância e narro
meu lugar de vítima de abuso sexual e violência de classe, tudo isso blindado por
uma breve discussão sobre o lugar da curadoria no cinema brasileiro (essa também
uma ferramenta de poder). A carreira do filme me rendeu legitimações inesperadas
que iam desde uma carreira fortuita em festivais até comentários como ‘novo nome
para se prestar atenção’. Rendeu também algumas acusações anônimas de estar
fabricando um trauma com o único propósito de monetização.
6. Agosto de 2020. Na mesma semana em que o colega André Antônio teceu o já
citado comentário sobre meu longa, vivi a experiência inédita de ter uma fortuna
crítica sendo construída sobre ele, dado o fato de que nenhum dos filmes anteriores
alcançou esse nível de exposição. Vivi também a estranha experiência de estar na
posição de ler críticas negativas que propunham malabarismos sem fundamento na
realidade, como ‘a vida burguesa do realizador’, para criticar menos a obra e mais
quem a compôs. Nessa semana duas questões se cristalizaram: É possível ser um
diretor preto e favelado e não querer falar necessariamente da cor que tinge seu
corpo nem das problemáticas inerentes ao local onde você vive, mas unicamente
das questões que povoam seu coração? Valeu a pena usar o trauma como
disparador criativo e ter ele usado como moeda de troca?
7. Setembro de 2021. Ao começar o planejamento para o que agora se mostra um
longo planejamento de texto e aí reside seu interesse, experimentei um breve
episódio de autocensura. Valeria a pena me embrenhar numa discussão tão
delicada possuindo pouco ou nenhum aparato teórico? Recebi a resposta numa
indicação de leitura. Em seu livro ‘Armadilha da Identidade”, o filósofo Asaf Haider
questiona: “Dar sentido a essa história desconcertante requer traçar uma linha de
demarcação entre os movimentos de massa emancipatórios do passado, que
lutaram contra o racismo, e as ideologias identitárias contemporâneas, ligadas à elite
multirracial. A existência desse problema é amplamente reconhecida, mas discuti-lo
construtivamente tem se mostrado bastante difícil. Críticas à política identitária são
muitas vezes verbalizadas por homens brancos que permanecem ignorantes ou
desinteressados pela experiência dos outros. Às vezes elas também são usadas à
esquerda para se descartar qualquer demanda política que não esteja alinhada com
o que é considerado um programa puramente “econômico””.
8. Outubro de 2021. Medito um pouco sobre o ato da curadoria como exercício de
proposição mas também como um gesto de “contrariedade ativa”. Presenciei uma
discussão que ponderava os perigos e as potências contidas em assinar esse
trabalho como ‘curador’ ou ‘programador’, mas acabei deambulando em direção à
atividade, pura e simples. Acaba que, seja qual for o termo escolhido, a curadoria
me parece ter a obrigação de contrariar ativamente os preceitos, formas, regras e
regimentos que estejam aí colocados, seja por uma tendência criativa ou de
mercado. E não se trata de ignorar a forma que o universo criativo toma, mas propor
recortes dentro dele, reformatá-lo, ou quiçá entendê-lo como forma viva pela
primeira vez. Óbvio que este exercício não está dissociado de sua própria e
complexa reflexão de poder, gênero, classe e raça, mas penso aqui num universo
utópico onde estou eu nessa posição e posso escolher render uma olhar mais atento
a realizadora mulher que decide filmar homens ou ao realizador preto que decide
filmar brancos. O que isso significa? Chamemos ao debate.
Você também pode gostar
- Alcir Pécora - Impasses Da Literatura ContemporâneaDocumento3 páginasAlcir Pécora - Impasses Da Literatura ContemporâneadadacestmoiAinda não há avaliações
- 6º Caderno de IELDocumento12 páginas6º Caderno de IELCarlos Alberto Saucedo LeguizamonAinda não há avaliações
- Vazante, Uma Abjeção Atualizada (2017) - Por Heitor AugustoDocumento7 páginasVazante, Uma Abjeção Atualizada (2017) - Por Heitor AugustoViviane FreitasAinda não há avaliações
- T6 Jornalismo CulturalDocumento13 páginasT6 Jornalismo CulturalgeisyydiasAinda não há avaliações
- Admin,+artigo 3Documento10 páginasAdmin,+artigo 3Marcos Alande MenkesAinda não há avaliações
- Pier Paolo PasoliniDocumento12 páginasPier Paolo PasoliniMarlonAugustoAinda não há avaliações
- Bernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroNo EverandBernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 2019 Bacurau Durval MunizDocumento7 páginas2019 Bacurau Durval MunizValéria CazettaAinda não há avaliações
- Trabalho Cultura BrasileirasDocumento4 páginasTrabalho Cultura BrasileirasnandapimentaAinda não há avaliações
- Um certo cinema paulista: Entre o Cinema Novo e a indústria cultural (1958-1981)No EverandUm certo cinema paulista: Entre o Cinema Novo e a indústria cultural (1958-1981)Ainda não há avaliações
- 3a - Proposta de Redação - Racismo EstruturalDocumento2 páginas3a - Proposta de Redação - Racismo EstruturalAnna Laura BianchiniAinda não há avaliações
- XAVIER, Ismail Entrevista - Cinema Brasileiro Dos Anos 90Documento4 páginasXAVIER, Ismail Entrevista - Cinema Brasileiro Dos Anos 90Lucas ReisAinda não há avaliações
- Digestivo Impressões Do PantanoDocumento5 páginasDigestivo Impressões Do PantanoJardel Dias CavalcantiAinda não há avaliações
- PASTA Jose Volubilidade e Ideia FixaDocumento13 páginasPASTA Jose Volubilidade e Ideia FixaJoelton NascimentoAinda não há avaliações
- Morangosmofados PDFDocumento14 páginasMorangosmofados PDFCristiano Da Silveira PereiraAinda não há avaliações
- Oraes Subordinadas em Ao ExercciosDocumento3 páginasOraes Subordinadas em Ao ExercciosoiAinda não há avaliações
- Onde Vivem Os Bárbaros - Passeio Pela Origem e Criação - Por Wallyson MotaDocumento3 páginasOnde Vivem Os Bárbaros - Passeio Pela Origem e Criação - Por Wallyson MotawallymotaAinda não há avaliações
- O Negro Brasileiro e o Cinema: História, Militância e Arquétipos RaciaisDocumento6 páginasO Negro Brasileiro e o Cinema: História, Militância e Arquétipos RaciaisRafael CostaAinda não há avaliações
- Entrevista - Premissas IniciaisDocumento17 páginasEntrevista - Premissas IniciaisCristiane FlorekAinda não há avaliações
- Uma Situação Colonial (Paulo Emílio Sales Gomes) (Z-Library)Documento431 páginasUma Situação Colonial (Paulo Emílio Sales Gomes) (Z-Library)Gustavokw SantosAinda não há avaliações
- Notas para o Estudo Do Cinema Marginal BaianoDocumento9 páginasNotas para o Estudo Do Cinema Marginal BaianoQuerubasAinda não há avaliações
- Um Olhar Antropogeográfico Nosso De Cada Dia Nos Dai HojeNo EverandUm Olhar Antropogeográfico Nosso De Cada Dia Nos Dai HojeAinda não há avaliações
- Racismo: uma aproximação às bases materiaisNo EverandRacismo: uma aproximação às bases materiaisAinda não há avaliações
- O Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoNo EverandO Absurdo da Existência nos Contos de Murilo RubiãoAinda não há avaliações
- Limite - o Poema em FilmeDocumento125 páginasLimite - o Poema em FilmeGeorge ChristianAinda não há avaliações
- Glauco MatosoDocumento13 páginasGlauco MatosoMarcela B. TavaresAinda não há avaliações
- Dzi Croquetes, Asdrúbal Trouxe o Trombone e A Contracultura - Por Dimi CamorlingaDocumento7 páginasDzi Croquetes, Asdrúbal Trouxe o Trombone e A Contracultura - Por Dimi CamorlingaDimi CamorlingaAinda não há avaliações
- [Porno] Graphic Novel e outras assombrações de um andarilhoNo Everand[Porno] Graphic Novel e outras assombrações de um andarilhoAinda não há avaliações
- Uma Desfaçatez de ClasseDocumento9 páginasUma Desfaçatez de ClasseEvandroAinda não há avaliações
- Cine MonstroDocumento27 páginasCine MonstroamandamansurAinda não há avaliações
- Jean Claude BernardetDocumento2 páginasJean Claude BernardetFlavio BarolloAinda não há avaliações
- Notas Sobre A Atualidade Da Ferida ColonialDocumento18 páginasNotas Sobre A Atualidade Da Ferida ColonialJosé NatalAinda não há avaliações
- Estética e Raça: Ensaios sobre a Literatura NegraNo EverandEstética e Raça: Ensaios sobre a Literatura NegraAinda não há avaliações
- Pobres, resistência e criação: Personagens no encontro da arte com a vidaNo EverandPobres, resistência e criação: Personagens no encontro da arte com a vidaAinda não há avaliações
- Cinéfilo: entrelinhas filosóficas em obras cinematográficasNo EverandCinéfilo: entrelinhas filosóficas em obras cinematográficasAinda não há avaliações
- BacuraruDocumento7 páginasBacuraruJober Dias NunesAinda não há avaliações
- Os Comunistas em Busca de Uma Estética Brasileira - LavraPalavraDocumento11 páginasOs Comunistas em Busca de Uma Estética Brasileira - LavraPalavrapedrolemosgranjaAinda não há avaliações
- 3 Filmes Sobre Cuba Que Seu Professor de Esquerda Não Quer Que Você VejaDocumento2 páginas3 Filmes Sobre Cuba Que Seu Professor de Esquerda Não Quer Que Você VejaPaulo KeglevichAinda não há avaliações
- Artigo - O Inominável de Beckett (VISO)Documento30 páginasArtigo - O Inominável de Beckett (VISO)lucianogattiAinda não há avaliações
- 06-Luciene-Azevedo REPRESENTAÇÃO E PERFORMANCEDocumento14 páginas06-Luciene-Azevedo REPRESENTAÇÃO E PERFORMANCEProfealevalerAinda não há avaliações
- 3a.arte Egípcia - AntiguidadeDocumento17 páginas3a.arte Egípcia - AntiguidadePablo NascimentoAinda não há avaliações
- BIETTE, Jean-Claude - A Borboleta de Griffith 1986Documento6 páginasBIETTE, Jean-Claude - A Borboleta de Griffith 1986Pablo NascimentoAinda não há avaliações
- Memórias de Um Sargento de MilíciasDocumento20 páginasMemórias de Um Sargento de MilíciasPablo NascimentoAinda não há avaliações
- NietzscheDocumento14 páginasNietzschePablo NascimentoAinda não há avaliações
- Aulas Mayombe 2016Documento32 páginasAulas Mayombe 2016Pablo NascimentoAinda não há avaliações
- MesopotâmiaDocumento53 páginasMesopotâmiaPablo NascimentoAinda não há avaliações
- Vera Cruz e Inspiração EuropéiaDocumento18 páginasVera Cruz e Inspiração Européiasimpla-1Ainda não há avaliações
- Resumo 7-Como Redigir A EscaletaDocumento1 páginaResumo 7-Como Redigir A EscaletaPablo NascimentoAinda não há avaliações
- Construção de PersonagensDocumento21 páginasConstrução de PersonagensPablo NascimentoAinda não há avaliações
- HISTORIA O Genio Do SistemaDocumento21 páginasHISTORIA O Genio Do SistemaPablo NascimentoAinda não há avaliações
- Construção de PersonagensDocumento21 páginasConstrução de PersonagensPablo NascimentoAinda não há avaliações
- ADRIANO, Carlos - Cinco Mandamentos para A Crítica de CinemaDocumento6 páginasADRIANO, Carlos - Cinco Mandamentos para A Crítica de CinemaPablo NascimentoAinda não há avaliações
- Resumo 8 - Como Escrever Uma Cena (Orientacao)Documento3 páginasResumo 8 - Como Escrever Uma Cena (Orientacao)Pablo NascimentoAinda não há avaliações
- Construção de PersonagensDocumento21 páginasConstrução de PersonagensPablo NascimentoAinda não há avaliações
- (Aula7) Revisão N1Documento52 páginas(Aula7) Revisão N1Pablo NascimentoAinda não há avaliações
- Etapas de ProduçãoDocumento48 páginasEtapas de ProduçãoPablo NascimentoAinda não há avaliações
- Histórico Da CiênciaDocumento2 páginasHistórico Da CiênciaPablo NascimentoAinda não há avaliações
- (Aula3) História Da Trilha Sonora No Cinema (Parte II)Documento41 páginas(Aula3) História Da Trilha Sonora No Cinema (Parte II)Pablo NascimentoAinda não há avaliações
- Bibliografia Cinema NacionalDocumento24 páginasBibliografia Cinema NacionalfrancinenunesAinda não há avaliações
- Aula 6 - Crítica e Análise FílmicaDocumento22 páginasAula 6 - Crítica e Análise FílmicaPablo NascimentoAinda não há avaliações
- Mecanicismo - DescartesDocumento15 páginasMecanicismo - DescartesPablo NascimentoAinda não há avaliações
- (Aula4) Conceitos Básicos Som No AVDocumento26 páginas(Aula4) Conceitos Básicos Som No AVPablo NascimentoAinda não há avaliações
- A Industria Cinematografica Brasileira Uma AnaliseDocumento20 páginasA Industria Cinematografica Brasileira Uma AnalisePablo NascimentoAinda não há avaliações
- Historia Do Cinema Brasileiro 2013 Os Ciclos de Producao Mais Proximos Ao MercadoDocumento28 páginasHistoria Do Cinema Brasileiro 2013 Os Ciclos de Producao Mais Proximos Ao MercadoAlfredo Luiz SuppiaAinda não há avaliações
- (Aula6) DAW - MIDI - Edição de AúdioDocumento95 páginas(Aula6) DAW - MIDI - Edição de AúdioPablo NascimentoAinda não há avaliações
- Bibliografia Cinema NacionalDocumento24 páginasBibliografia Cinema NacionalfrancinenunesAinda não há avaliações
- 04 - O Cinema Brasileiro Dos Anos 1930 e o Cinema FaladoDocumento45 páginas04 - O Cinema Brasileiro Dos Anos 1930 e o Cinema FaladoPablo NascimentoAinda não há avaliações
- 02 - Cinema Brasileiro Dos Anos 1920, Humberto Mauro e Mário PeixotoDocumento153 páginas02 - Cinema Brasileiro Dos Anos 1920, Humberto Mauro e Mário PeixotoPablo NascimentoAinda não há avaliações
- 48940Documento33 páginas48940dantascinthia1Ainda não há avaliações
- Contrato BV-1-1Documento3 páginasContrato BV-1-1Departamento Pessoal Bocchi100% (1)
- WW Rede ContratadaDocumento96 páginasWW Rede ContratadaDanilo FerreiraAinda não há avaliações
- Aborto Induzido Como Problema de Saúde No Huambo e Uma Estratégia para Sua ReduçãoDocumento141 páginasAborto Induzido Como Problema de Saúde No Huambo e Uma Estratégia para Sua ReduçãoDiogo DiogoAinda não há avaliações
- Nota Técnica #15 Ses Subpas Sras Dahue CGH 2020Documento7 páginasNota Técnica #15 Ses Subpas Sras Dahue CGH 2020Crystal VinsonAinda não há avaliações
- BARROS (1995) Dispositivos em Ação-O GrupoDocumento11 páginasBARROS (1995) Dispositivos em Ação-O GrupoDayse Andrade100% (1)
- Fatores Determinantes Do ConsumoDocumento14 páginasFatores Determinantes Do ConsumoRAIMUNDO PAULO LANGAAinda não há avaliações
- 67952-Texto Do Artigo-89384-1-10-20131125Documento39 páginas67952-Texto Do Artigo-89384-1-10-20131125Amnesio P. LangaAinda não há avaliações
- Restrição de CréditoDocumento4 páginasRestrição de CréditoGraziele de Souza MedeirosAinda não há avaliações
- Dissertacao - EdSilvaDocumento97 páginasDissertacao - EdSilvaeugenio310Ainda não há avaliações
- Jurisprudencia Desfrute Do Bem Pela Meeira e HerdeiroDocumento11 páginasJurisprudencia Desfrute Do Bem Pela Meeira e HerdeiroMARIO FORTEAinda não há avaliações
- 3 - CONTRATO - COBERTURA DE EVENTO - Clube Dos RetratosDocumento4 páginas3 - CONTRATO - COBERTURA DE EVENTO - Clube Dos RetratosRicardo L. JesusAinda não há avaliações
- DECRETO #9.191, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017 - Regula Redacao de Leis e DocumentosDocumento16 páginasDECRETO #9.191, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017 - Regula Redacao de Leis e DocumentosLarryAinda não há avaliações
- 200 Questoes Lingua PortuguesaDocumento234 páginas200 Questoes Lingua Portuguesasuziane100% (1)
- Abv Mix EmpreendimentoDocumento5 páginasAbv Mix EmpreendimentoSAECON CONSENGAinda não há avaliações
- Camila Rodrigues Evangelista: Prezado ClienteDocumento1 páginaCamila Rodrigues Evangelista: Prezado ClienteNéftis RodriguesAinda não há avaliações
- Unidade 6696 - Ordem Jurídica, Fontes de Direito, Sujeitos e Relação JurídicaDocumento27 páginasUnidade 6696 - Ordem Jurídica, Fontes de Direito, Sujeitos e Relação JurídicaruisilvamarquesAinda não há avaliações
- Caderno Do Aluno Prevenção Contra o Assédio Sexual No Transporte Público PDFDocumento42 páginasCaderno Do Aluno Prevenção Contra o Assédio Sexual No Transporte Público PDFBruno P. CostaAinda não há avaliações
- Petição 21 2Documento2 páginasPetição 21 2garcianetoAinda não há avaliações
- Processo CivilDocumento7 páginasProcesso CivilLeticia ReisAinda não há avaliações
- Regimento InternoDocumento5 páginasRegimento Internogiovana alvaradoAinda não há avaliações
- Marketing em Unidades de InformaçãoDocumento33 páginasMarketing em Unidades de Informaçãoosmar weyhAinda não há avaliações
- Apostila PCCE EstratégiaDocumento760 páginasApostila PCCE Estratégiafrancsi12659193Ainda não há avaliações
- O Tortuoso e Difícil Caminho Da Roça PDFDocumento14 páginasO Tortuoso e Difícil Caminho Da Roça PDFMárcio CominAinda não há avaliações
- Modelo de Contrato de Aluguel Simples Word para Preencher AtualizadoDocumento2 páginasModelo de Contrato de Aluguel Simples Word para Preencher AtualizadoMaxxii GulaAinda não há avaliações
- 03 Seges Modelo Edital 14 133 Rev 1Documento26 páginas03 Seges Modelo Edital 14 133 Rev 1Rafael RochaAinda não há avaliações
- Decr 9765-19 - Política Nacional de AlfabetizaçãoDocumento4 páginasDecr 9765-19 - Política Nacional de AlfabetizaçãojoelbissoliAinda não há avaliações
- Limites Dos Organismos InternacionaisDocumento21 páginasLimites Dos Organismos InternacionaiskwnrgrAinda não há avaliações
- Das Das D Wad 4554115Documento881 páginasDas Das D Wad 4554115Vitor Daniel VerliAinda não há avaliações




















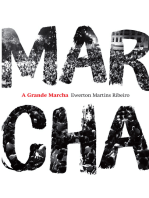



















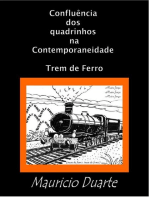




![[Porno] Graphic Novel e outras assombrações de um andarilho](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/616791298/149x198/63a6f33c66/1701023296?v=1)