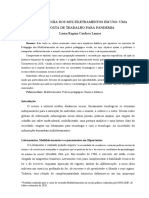Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Metamorfose Do Aprender Hugo Assmann
A Metamorfose Do Aprender Hugo Assmann
Enviado por
Rodrigues ManuelTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Metamorfose Do Aprender Hugo Assmann
A Metamorfose Do Aprender Hugo Assmann
Enviado por
Rodrigues ManuelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ARTIGOS
A metamorfose do aprender na sociedade da informao
Hugo Assmann
Dr. em teologia; ps-doutor em sociologia; professor titular da Faculdade de Educao da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba, SP), na ps-graduao em educao (mestrado e doutorado) Endereo postal: Unimep, Ps-graguao em Educao - Caixa Postal 68 CEP 13400-901 - Piracicaba, SP. E-mail: hugo.assmann@merconet.com.br
INTRODUO Este artigo uma introduo sumamente compacta s transformaes do aprender e s reconfiguraes do conhecimento ensejadas pelas novas tecnologias da informao e da comunicao. A espcie humana alcanou hoje uma fase evolutiva indita na qual os aspectos cognitivo e relacional da convivialidade humana se metamorfoseiam com rapidez nunca antes experimentada. Isso se deve em parte funo mediadora, quase onipresente, dessas novas tecnologias. Junto s oportunidades enormes de incremento da sociabilidade humana, surgem tambm novos riscos de discriminao e desumanizao. No tocante aprendizagem e ao conhecimento, chegamos a uma transformao sem precedentes das ecologias cognitivas, tanto das internas da escola, como das que lhe so externas, mas que interferem profundamente nela. As novas tecnologias no substituiro o/a professor/a, nem diminuiro o esforo disciplinado do estudo. Elas, porm, ajudam a intensificar o pensamento complexo, interativo e transversal, criando novas chances para a sensibilidade solidria no interior das prprias formas do conhecimento. O tema especfico deste artigo e os muitos temas conexos
Resumo
A sociedade da informao precisa tornar-se uma sociedade aprendente. As novas tecnologias da informao e da comunicao assumem, cada vez mais, um papel ativo na configurao das ecologias cognitivas. Elas facilitam experincias de aprendizagem complexas e cooperativas. O hipertexto no uma simples tcnica. uma espcie de metfora epistemolgica para a interatividade. As redes e a conectividade podem abrir nossas mentes para a sensibilidade solidria. A sociedade da informao requer um pensamento reansversal e projetos transdisciplinares de pesquisa e aprendizagem. Palavras-chave Sociedade da informao; Sociedade aprendente; Hipertexto; Pensamento transversal; Transdisciplinaridade.
The metamorphosis of learningin the information society Abstract
The Information Society must become a Learning Society. The new technologies of information and communication play, more and more, an active role in the configuration of cognitive ecologies. They facilitate complex and cooperative learning experiences. Hypertext is not just a technique. Its a kind of epistemological metaphor of interactivity. Networking and connectivity may open our minds for solidary sensitivity. The Information Society requires transversal thinking and transdisciplinary research and learning projects. Keywords Information society; Learning society; Hypertext; Transversal thinking; Transdisciplinarity.
O propsito deste artigo bastante circunscrito e especfico: limita-se a alguns aspectos da profunda transformao das formas do aprender na era das redes ou na assim chamada sociedade da informao. Sendo este o tema escolhido, importante ressaltar que existe um enorme leque de outros temas importantes relacionados com a sociedade da informao que no sero abordados neste texto. Vrios deles so to relevantes, que interferem, enquanto parmetros analticos indispensveis, na prpria validao do tema especfico que escolhemos abordar. Supomos, por isso, perspiccia crtica para tpicos como os seguintes: A era das redes tornou evidente que razo instrumental e razo crtico-reflexiva no so alternativas contrapostas, mas racionalidades conjugveis e complementares. A expanso incrvel das linguagens
7
Ci. Inf., Braslia, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000
Hugo Assmann
digitais levou ao aparecimento explcito de sua incompletude. Os algoritmos recursivos e genticos se tornaram indispensveis na computao evolucionria. Os falsos dilemas do velho sonho da linguagem perfeita ficaram mais perceptveis. Evidenciou-se tambm a insuficincia operativa da pura reflexo crtica1 . preciso distanciar-se tanto dos escolhos do tecnootimismo ingnuo (tecnointegrados) como do rechao medroso da tcnica (tecnoapocalpticos). Em muitos ambientes escolares, persiste o receio preconceituoso de que a mdia despersonaliza, anestesia as conscincias e uma ameaa subjetividade. A resistncia de muitos(as) professores(as) a usar soltamente as novas tecnologias na pesquisa pessoal e na sala de aula tem muito a ver com a insegurana derivada do falso receio de estar sendo superado/a, no plano cognitivo, pelos recursos instrumentais da informtica. Neste sentido, o mero treinamento para o manejo de aparelhos, por mais importante que seja, no resolve o problema. Por isso, sumamente importante mostrar que a funo do/a professor/a competente no s no est ameaada, mas aumenta em importncia. Seu novo papel j no ser o da transmisso de saberes supostamente prontos, mas o de mentores e instigadores ativos de uma nova dinmica de pesquisa-aprendizagem. A expresso sociedade da informao deve ser entendida como abreviao (discutvel!) de um aspecto da sociedade: o da presena cada vez mais acentuada das novas tecnologias da informao e da comunicao. Serve para chamar a ateno a este aspecto importante. No serve para caracterizar a sociedade em seus aspectos relacionais mais fundamentais. Do conceito de sociedade da informao, passou-se, por vezes sem as convenientes cautelas tericas, ao de Knowledge Society (Sociedade do Conhecimento) e Learning Society (Sociedade Aprendente). Em francs alguns falam em Societ Cognitive . Parece haver alguma convenincia para admitir, em portugus, a expresso sociedade aprendente2 .
Nas teorias de gerenciamento empresarial, alastra-se o discurso sobre learning organisations (organizaes aprendentes - cf. Peter Senge3 e outros). A incrvel abundncia e variedade de linguagens acerca desse processo tecnolgico e, ao mesmo tempo, ideolgicopoltico um fenmeno deveras impressionante. Supomos igualmente que, diante de acontecimentos to complexos, entenda-se como de bom alvitre munir-se de algumas cautelas crticas, sem deixar de insinuar pistas de opo. Para esse efeito _ e por amor brevidade _ servimosnos de algumas breves citaes da vasta produo da Unio Europia acerca do tema, que j se estende do incio da dcada de 90 at hoje. Ficamos em alguns poucos exemplos4 . O conceito de informao admite muitos significados5 . O passo da informao ao conhecimento um processo relacional humano, e no mera operao tecnolgica. Em primeiro lugar, fundamental estabelecer uma distino clara entre dados, informao e conhecimento. Do nosso ponto de vista, a produo de dados no estruturados no conduz automaticamente criao de informao, da mesma forma que nem toda a informao sinnimo de conhecimento. Toda a informao pode ser classificada, analisada, estudada e processada de qualquer outra forma a fim de gerar saber. Nesta acepo, tanto os dados como a informao so comparveis s matrias-primas que a indstria transforma em bens. Como definir a sociedade da informao? A sociedade da informao a sociedade que est actualmente a constituir-se, na qual so amplamente utilizadas tecnologias de armazenamento e transmisso de dados e informao de baixo custo. Esta generalizao da utilizao da informao e dos dados acompanhada por inovaes organizacionais, comerciais, sociais e
SENGE, Peter M. A quinta disciplina. Arte e Prtica da organizao que aprende. So Paulo: Best Seller. 1994; A Quinta Disciplina - Caderno de Campo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1995; A Dana das Mudanas. Rio de Janeiro: Campus, 1999, 680 p.
3
ECO, Umberto. La ricerca della lengua perfetta. Roma - Bari: Laterza, 1993 ASSMANN, Hugo. Reencantar a Educao - Rumo Sociedade Aprendente. Petrpolis, RJ: Vozes, 1998, 4 ed. 2000.
2
Est disponvel online um grande nmero de documentos e informaes sobre as atividades da Comisso Europia relativas Sociedade da Informao atravs do ISPO, Gabinete do Projeto Sociedade da Informao da Comisso (http://www.ispo.cec.be; ou no portal geral da CE: http://europa.eu.int/en/comm/ ). Para comentrios, boletins informativos e banco de dados tambm muito til o servidor do Centro de Informtica da Universidade do Minho.
4
FLCKIGER, Daniel Federico. Contributions Towards a Unified Concept of Information (tese de doutorado disponvel online, Fac. of Science,at the Univ. of Berne, Suia, 1995).
5
Ci. Inf., Braslia, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000
A metamorfose do aprender na sociedade da informao
jurdicas que alteraro profundamente o modo de vida tanto no mundo do trabalho como na sociedade em geral. No futuro, podero existir modelos diferentes de sociedades da informao, tal como hoje existem diferentes modelos de sociedades industrializadas. Esses modelos podem divergir na medida em que evitam a excluso social e criam novas oportunidades para os desfavorecidos. A importncia da dimenso social caracteriza o modelo europeu. Este modelo dever tambm estar imbudo de uma forte tica de solidariedade. A mera disponibilizao crescente da informao no basta para caracterizar uma sociedade da informao. O mais importante o desencadeamento de um vasto e continuado processo de aprendizagem. ...sublinhamos que fundamental considerar a sociedade da informao como uma sociedade da aprendizagem. O processo de aprendizagem j no se limita ao perodo de escolaridade tradicional. Como referido no Livro Branco da Comisso sobre a educao, Rumo Sociedade Cognitiva (1995), e no relatrio da OCDE Aprendizagem ao Longo da Vida (1996), trata-se de um processo que dura toda a vida, com incio antes da idade da escolaridade obrigatria, e que decorre no trabalho e em casa. No acesso sociedade da informao as polticas pblicas podem fazer a diferena. Para que sejam aproveitadas todas as vantagens econmicas e sociais do progresso tecnolgico e melhorada a qualidade de vida dos cidados, a sociedade da informao deve assentar nos princpios da igualdade de oportunidades, participao e integrao de todos, o que s ser possvel se todos tiverem acesso a uma quota parte mnima dos novos servios e aplicaes oferecidos pela sociedade da informao. Nas discusses da Unio Europia sobre a sociedade da informao houve um evoluo politicamente crucial: ...a idia inicialmente preconizada no relatrio Bangemann (1994) e posteriormente desenvolvida em vrios relatrios oficiais da UE constitui, na nossa opinio, uma abordagem excessivamente minimalista do papel das autoridades pblicas nesse processo.(...)
Para ir ao encontro destas preocupaes, so necessrias polticas pblicas que possam ajudar-nos a beneficiar das vantagens do progresso tecnolgico, assegurando a igualdade de acesso sociedade da informao e uma distribuio eqitativa do potencial de prosperidade6 . O famoso Livro Verde sobre a Sociedade da Informao em Portugal muito explcito acerca dos riscos que corre a democraticidade na era das redes: O caracter democrtico da sociedade da informao deve ser reforado. Por isso, no legtimo abandonar os mais desprotegidos e deixar criar uma classe de info-excludos. imprescindvel promover o acesso universal infoalfabetizao e info-competncia7 . TECNOLOGIAS VERSTEIS FACILITAM APRENDIZAGENS COMPLEXAS E COOPERATIVAS8 As novas tecnologias da informao e da comunicao j no so meros instrumentos no sentido tcnico tradicional, mas feixes de propriedades ativas. So algo tecnologicamente novo e diferente. As tecnologias tradicionais serviam como instrumentos para aumentar o alcance dos sentidos (brao, viso, movimento etc.). As novas tecnologias ampliam o potencial cognitivo do ser humano (seu crebro/mente) e possibilitam mixagens cognitivas complexas e cooperativas. Uma quantidade imensa de insumos informativos est disposio nas redes (entre as quais ainda sobressai a Internet). Um grande nmero de agentes cognitivos humanos pode interligar-se em um mesmo processo de construo de conhecimentos. E os prprios sistemas interagentes artificiais se transformaram em mquinas cooperativas, com as quais podemos estabelecer parcerias na pesquisa e no aviamento de experincias de aprendizagem.
6 Todas as citaes precedentes so do documento da EU Construir a Sociedade Europia da Informao para todos - Relatrio Final do Grupo de Peritos de Alto Nvel - Abril 1997, disponvel em vrios idiomas na Internet
Do Livro Verde para a Sociedade da Informao em Portugal (Maio/ 1997, 125 p.), disponvel na Internet; pode ser solicitado pelo e-mail: secretariado@missao-si.mct.pt
7
No que segue retomamos idias do captulo 9, O impacto sciocognitivo das novas tecnologias, do livro: ASSMANN, Hugo & MO SUNG, Jung. Competncia e Sensibilidade Solidria - Educar [ara a Esperana. Petrpolis, RJ: Vozes, 2000.
8
Ci. Inf., Braslia, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000
Hugo Assmann
Para evitar mal-entendidos, importante prevenir: a crtica razo instrumental continua sendo um desafio permanente. Nada de reduo do Lgos Techn. Mas, doravante, j no haver instituio do Lgos sem a cooperao da Techn . As duas coisas se tornaram inseparveis em muitas das instncias no em todas, claro __ do que chamamos aprender e conhecer. Estamos desafiados a assumir um novo enfoque do fenmeno tcnico. Na medida em que este se tornou co-estruturador de nossos modos de organizar e configurar linguagens, penetrou tambm nas formas do nosso conhecimento. Isto significa que as tecnologias da informao e da comunicao se transformaram em elemento constituinte (e at instituinte) das nossas formas de ver e organizar o mundo. Alis, as tcnicas criadas pelos homens sempre passaram a ser parte das suas vises de mundo. Isto no novo. O que h de novo e indito com as tecnologias da informao e da comunicao a parceria cognitiva que elas esto comeando a exercer na relao que o aprendente estabelece com elas. Termos como usurio j no expressam bem essa relao cooperativa entre ser humano e as mquinas inteligentes. O papel delas j no se limita simples configurao e formatao, ou, se quiserem, ao enquadramento de conjuntos complexos de informao. Elas participam ativamente do passo da informao para o conhecimento. Est acontecendo um ingresso ativo do fenmeno tcnico na construo cognitiva da realidade. Doravante, nossas formas de saber tero um ingrediente um entre muitos outros, bom frisar __ derivado da nossa parceria cognitiva com as mquinas que possibilitam modos de conhecer anteriormente inexistentes. Em resumo, as novas tecnologias tm um papel ativo e co-estruturante das formas do aprender e do conhecer. H nisso, por um lado, uma incrvel multiplicao de chances cognitivas, que convm no desperdiar, mas aproveitar ao mximo. Por outro lado, surgem srias implicaes antropolgicas e epistemolgicas nessa parceria ativa do ser humano com mquinas inteligentes. O que muda no prprio sujeito do processo criativo do aprender, quando a aprendizagem acontece em uma parceria co-instituinte e co-estruturante na qual a mquina representa um novo patamar tcnico definvel como feixe de propriedades cognitivas? Como se entrelaam o papel ativo do ser humano e as funes no puramente passivas ou comandadas, mas parcialmente ativas e geradas autonomamente pela mquina? Tudo indica que chegou a hora de colocar em novas bases a
10
prpria questo do sujeito epistmico. Ou ser que isso nos parece to novo s porque nunca havamos levado a srio a evoluo, nunca havamos pensado de forma conseqente, o que implica aceitar que somos fruto dos nichos vitais que nos acolheram, ou que construmos para nossa espcie, ao longo de toda a evoluo? Essas coisas devem parecer bastante estranhas, ou no ter nenhum sentido, para quem usa o computador apenas como uma espcie de mquina de escrever incrementada com alguns recursos a mais. Talvez j comecem, porm, a fazer sentido para quem redige textos com abundante manejo de mixagem redacional que inclui deslocamentos de pores de texto, recurso constante a muitos arquivos, abertura de multitelas, uso simultneo da Internet etc. Creio que aumentar de sentido para quem cibernauta, isto , navegante mais ou menos assduo da Internet, pesquisando com os robs de busca (AltaVista, HotBot e tantos outros) no ciberespao transformado em imensa biblioteca virtual escancarada, incrivelmente verstil e cada vez mais ilimitada. E to fcil aprender meia dzia de truques para incrementar a busca, por exemplo, interligando verbetes compostos de vrias palavras ou at frases inteiras com um simples sinal de +, ou colocandoos entre aspas etc. Mas o conceito de interatividade e parceria ativa com mquinas versteis e inteligentes adquire um sentido experimental muito mais forte para quem trabalha com sistemas multiagentes, nos quais se tornam manifestos a relativa autonomia e os nveis cognitivos emergentes propiciados pelo uso de algoritmos genticos (ou seja, programas que se auto-organizam e auto-reprogramam). HIPERTEXTUALIDADE: A CHANCE DO ESTUDO CRIATIVO No vamos deter-nos longamente neste tpico, por se tratar de um assunto conhecido para qualquer navegador/a da Internet. Do ponto de vista tcnico, o hipertexto foi a passagem da linearidade da escrita para a sensibilizao de espaos dinmicos. Como conceito de conectividade relacional mediada pela tecnologia, podemos definir a hipertextualidade como um vasto conjunto de interfaces comunicativas, disponibilizadas nas redes telemticas. No interior de cada hipertexto, deparamo-nos com um conjunto de ns interligados por conexes, nas quais os pontos de entrada podem ser palavras, imagens, cones e tramaes de contatos multidirecionais ( links). importante destacar que o hipertexto contm geralmente suficientes garantias de retorno para que os sujeitos interagentes no se percam e se sintam seguros em sua navegao.
Ci. Inf., Braslia, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000
A metamorfose do aprender na sociedade da informao
Do ponto de vista diretamente cognitivo, o hipertexto no uma simples metfora de novas atitudes aprendentes, que buscam criativamente novas maneiras de conhecer. , tambm e sobretudo, um desafio epistemolgico, ou seja, o processo do conhecimento se transforma intrinsecamente em uma versatilidade de iniciativas, escolhas, opes seletivas e constataes de caminhos equivocados ou propcios. Isso permite estabelecer analogias diretas com a maneira como as coisas __ segundo o que nos foram mostrando as pesquisas neurofisiolgicas __ em nosso crebro/mente, capacitado para apostas enactantes (usando a linguagem de Francisco Varela), isto , ativamente incursionantes em mundos diversificados do sentido. Mas, da mesma maneira como se pode seguir em uma utilizao, meramente instrumental e pouco criativa das novas tecnologias, tambm sinistramente plausvel que, por resistncia de muitas escolas a ingressar decididamente na era das redes, o potencial dos aprendentes continue submetido a um verdadeiro apartheid neuronal. O uso (ou no uso) verstil das novas tecnologias tem conseqncias j constatadas no desenvolvimento do potencial cognitivo dos aprendentes. Em sntese, a tecnologia do hipertexto e a sucessiva incrementao de sua dinmica interna criaram uma enorme facilidade para a pesquisa criativa, porque transformaram os modos de tratar, acessar e construir o conhecimento. Dessa forma, tambm possibilitam um novo entendimento da prpria realidade enquanto realidade discursiva, construda mediante nossas maneiras de enact-la, isto , de apostar ativamente em mundos do sentido, ingressando neles atravs de nossos processos do conhecimento9 . A PASSAGEM A UM PARADIGMA COOPERATIVO DO CONHECIMENTO Um dos aspectos mais fascinantes da era das redes a transformao profunda do papel da memria ativa dos aprendentes na construo do conhecimento. Mediante o uso de memrias eletrnicas hipertextuais, que podem ser consideradas como uma espcie de prtese externa do agente cognitivo humano, os aprendentes se vem confrontados com uma situao profundamente desafiadora: o recurso livre e criativo a essa ampla memria externa pode liberar energias para o cultivo de uma memria vivencial autnoma e personalizada, que sabe escolher o que lhe interessa; por outra parte, os que forem
Para maior bibliografia e abordagem pedaggica do tema, ver GONALVES DE SOUZA, C.R. As implicaes pedaggicas de uma viso hipertextual da realidade . Piracicaba, Unimep. dissertao de mestrado, 2000. (Orientador: Hugo Assmann)
9
preguiosos e pouco criativos correm o risco de absorver passivamente nada mais que fragmentos dispersos de um universo informativo no qual h de tudo. No oceano da conectividade, subsiste o risco de virar concha presa a um ou poucos fragmentos de pedra. As redes funcionam como estruturas cognitivas interativas pelo fato de terem caractersticas hipertextuais e pela interferncia possvel do conhecimento que outras pessoas construram ou esto construindo. Com isso, o/a aprendente pode assumir o papel de verdadeiro gestor dos seus processos de aprendizagem. Precisamos visualizar conjuntamente os agentes humanos e a tecnologia verstil de modo a superar uma concepo em demasiado maqunica da interao entre seres humanos e ambientes cognitivos artificiais. Trata-se de entender que, embora preservando uma srie de aspectos tpicos das racionalidades instrumentais e das linguagens reducionistas, as tecnologias adquiriram tamanha versatilidade e disponibilidade cooperativa que podemos cham-las sistemas cooperativos ou interfaces de parceria entre o homem e a tcnica. Marvin Minsky no duvida em atribuir aos sistemas multiagentes artificiais uma forte caracterstica criativa: ...o surpreendente surgimento, a partir de um sistema complexo, de um fenmeno que no parecia inerente s diferentes partes desse sistema. Esses fenmenos emergentes ou coletivos mostram que um todo pode ser superior soma das partes10 . Aprendentes humanos podem, agora, situar-se no interior de ecologias cognitivas nas quais a morfognese do conhecimento passa a acontecer sob a forma daquilo que Pierre Lvy denomina inteligncia coletiva11 . A construo do conhecimento j no mais produto unilateral de seres humanos isolados, mas de uma vasta cooperao cognitiva distribuda, da qual participam aprendentes humanos e sistemas cognitivos artificiais. Isso implica modificaes profundas na forma criativa das atividades intelectuais. Doravante precisamos incluir a cooperao da tcnica em nossos modos de pensar12 . Segundo alguns
10
Apud. LINK-PEZET, Jo. De la reprsentation la coopration: volution des approches thoriques du traitement de linformation. Disponvel na internet, cf. Solaris, Sommaire du dossier no. 5.
11
LVY, P . A inteligncia coletiva. So Paulo: Loyola, 1998; do mesmo autor: As tecnologias da Inteligncia. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999. Lopes Guimares Jr., M J. A cibercultura e o surgimento de novas formas de sociabilidade . Disponvel na Internet, junho/2000.
12
Ci. Inf., Braslia, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000
11
Hugo Assmann
autores, j comeou a acontecer uma experincia aprendente profundamente inovadora, na qual j no se trata de uma relao de dependncia recproca entre o sujeito cognoscente e seus instrumentos tcnicos, mas de uma autoconstituio ontolgica de um novo sujeito a partir dos seus objetos13 que so agora versteis e cooperantes. A criao de memrias eletrnicas coletivas obedece ainda normalmente a um esquema estrito de linguagens formais. Mas a co-presena de agentes cognitivos humanos e artificiais na ativao das interfaces comunicativas entre os agentes humanos e aquilo que est disponibilizado ativvel nas mquinas cooperantes j constitui uma ecologia cognitiva surpreendentemente criativa. J no cabem dvidas de que, nesse processo cognitivo, surgem fenmenos de descobertas imprevistas, cujas caractersticas no estavam pr-programadas daquele jeito nas mquinas, nem previstas na expectativa dos agentes humanos. a essa versatilidade criativa que muitos autores se referem quando usam conceitos como auto-organizao e emergncia14 para referir-se s inovaes criativas do conhecimento, que se tornaram possveis mediante a cooperao humana com organizaes hipercognitivas hipertextuais nas mquinas inteligentes. O AGENCIAMENTO COOPERATIVO DOS CAMPOS DO SENTIDO J vimos que o hipertexto enseja uma libertao e exploso do pensamento criativo. Vimos depois como acontece uma presena ativa de outros agentes cognitivos __ humanos e mquinas cooperantes __ em um mesmo processo de construo cooperativa do conhecimento. Apontamos que essa dinmica cooperativa do conhecimento apresenta fenmenos de auto-organizao e nveis criativos emergentes. Passemos agora explicitamente da questo das formas sintaticamente complexas e cooperantes, na constituio dos campos semnticos, para a questo mais de fundo, que a do carter igualmente cooperativo dos mundos do sentido que emergem e do papel solidrio dos agentes que interferem em campos do sentido.
Comecemos com uma citao de Jo Link-Pezet: Para Piaget, o conhecimento acontece no momento em que o pensamento lgico do racionalismo e a experincia sensorial se encontram em um processo dialtico e dinmico do pensamento, no qual essa dualidade coexiste. Essas duas vises se co-especificam uma a outra em um movimento de vaivm, superando a rigidez do pensamento cartesiano e pondo em evidncia a relao constitutiva que existe entre o homem e o seu ambiente, entre o sujeito (que conhece) e aquilo que conhecido (objeto do conhecimento), entre o homem, seu corpo e sua experincia15 . Esta uma descrio que julgamos bastante fiel do ponto no qual se estagnou o construtivismo de Piaget. Ele ainda est marcado por uma viso da racionalidade fortemente intelectualista, ou, se quiserem, pela razo formalizante, preocupada prioritariamente com os nveis de explicitao consciente das formas do conhecimento. Dentro de uma certa continuidade, mas tambm com alguns lances de ruptura com o pensamento construtivista piagetiano, surgiram vrias propostas inovadoras acerca da morfognese do conhecimento. em relao a essa questo que, a nosso modo de ver, a relevante contribuio de Humberto Maturana & Francisco Varela16 , que supomos relativamente conhecida, situa-nos em um patamar novo. Gostaramos de enfatizar que eles nos propiciaram a viso de entrelaamentos fecundos entre as redes neuronais, a teia da vida em geral e as redes telemticas. Cabe mencionar agora, de passagem, a direo para a qual se orientam as contribuies do assim chamado pensamento ps-formal. Ele busca abordar certos aspectos que rompem com as concepes racionalistas de construo do conhecimento. A nfase posta, agora, nos aspectos aleatrios, nas turbulncias neuronais, nas perturbaes imprevistas da ateno, nos elementos de indeterminao, enfim, na dinmica de constante mudana propiciada por novelos de retroalimentao, que
15 16
LINK-PEZET, Jo. loc. cit.
13
LINK-PEZET, Jo., Loc cit.; ALLIEZ, E. La signature du monde. Paris: Ed. Du Cerf, 1993. (Trad. port. pela Editora 34). Para uma anlise mais detida do tema e ampla bibliografia conf. SKIRKE, Ulf. Technologie und Selbstorganisation , Disponvel na internet, junho/2000. Para uma histria dos usos do conceito de emergncia ver STEPHAN, A. Emergenz - Von der Unvorhersagbarkeit zur Selbstorganisation (Emergncia. Da impredictibilidade autoorganizao), Dresden-Mnchen: Dresden University Press, 1999.
14
MATURANA, H., VARELA, F. A rvore do conhecimento. Campinas: Editorial Psy, 1995; Para aprofundar o conceito de enao, ver o longo prefcio de Francisco Varela segunda edio de MATURANA, H. VARELA, F. De mquinas e Seres Vivos. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1997; VARELA, F. et al. The Embodied Mind. Massachessetts: The MIT Press, 1991; VARELA. F. et al. A mente inclusiva: cincia cognitiva e a experincia humana. Porto Alegre: Artes Mdicas Sul, 2000. De MATURANA, H. A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1997; Emoes e linguagem na educao e na poltica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. Os dois autores tm sites na Internet.
12
Ci. Inf., Braslia, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000
A metamorfose do aprender na sociedade da informao
acontecem efetivamente em nosso sistema neuronal e que j podem ser simulados parcialmente por mquinas inteligentes. Muito prximo a esse tipo de problematizao est o pensamento de Michel Polanyi17 , que distingue entre os nveis tcitos e os nveis explcitos na construo tanto dos campos semnticos, quanto, sobretudo, dos mundos do sentido. J Merleau-Ponty ponderava que os nveis implcitos e explcitos do conhecimento so complementares e, portanto, to intimamente ligados experincia e corporeidade que no possvel separlos. A novidade do pensamento de Michel Polanyi nos parece consistir na relevncia que ele atribui quilo que denomina nveis tcitos. Torna-se, assim, evidente que, doravante, recomendvel alinhar-se com a apreciao positiva daquilo que Michel Maffesoli18 denomina razo sensvel. Demos ainda um pequeno passo adiante. Queremos tornar perceptvel que o agenciamento cognitivo e experiencial dos mundos do sentido um processo marcado por uma dimenso solidria ativa de vrios agentes cognitivos cooperantes. Para expressar isso, nada melhor que o conceito de enao (enaction) de Varela. Na esteira de Merleau-Ponty, Varela nos convida a considerarnos como estruturas internas e externas, biolgicas e fenomenolgicas, e a considerar a corporeidade da nossa experincia como nosso verdadeiro contexto cognitivo. A enao uma ao encarnada que se situa nesse contexto (experiencial e corporal). Ela se refere ao fenmeno da interpretao, entendida como um fazer-emergir da significao sobre o pano de fundo da compreenso. (...) A emergncia das significaes acontece atravs de agenciamentos coletivos 19 . A EXPERINCIA DA SUPERAO DA ESCASSEZ A experincia da abundncia e da liberdade de escolha no que se refere msica, televiso e que aos poucos se estende tambm a outras tecnologias informacionais passou a fazer parte do cotidiano de muitssima gente. Trata-se de um tipo de experincia de superao da escassez. As pessoas com razoveis ingressos esto expandindo rapidamente esta experincia a vrios outros campos.
certamente aconselhvel proceder com certa cautela nesse assunto, porque, antes de fazer afirmaes contundentes acerca do carter indito daquilo que as novas tecnologias propiciam, convm refazer, talvez de maneira nova, algumas perguntas antigas. Por exemplo: ser que as nossas linguagens e nossas formas de conhecimentos foram alguma vez inteiramente nossas ou estiveram desde sempre em estado de parceria, sofrendo variadas intervenes internalizadas em sua prpria gnese e constituio? Que trazem, ento, de efetivamente novo as novas mquinas cognitivamente cooperantes? Por acaso os mitos, os tabus, os campos do sentido embutidos em nossas linguagens e as formas da cultura no exerceram, desde milnios atrs, uma ativa parceria psicogentica com os seres simbolizadores que somos? No acontecia j isso mesmo desde quando, h milnios, a nossa espcie conseguiu criar meios para inventar e simular mundos, vivenciados como reais, embora apenas virtuais, como o caso dos mitos, dos dogmas, dos campos semnticos de nossas linguagens, do dinheiro etc.? Estamos presenciando algo realmente novo? H certamente continuidades, como si acontecer (p. ex. a janelizao continua ainda tecnicamente imprescindvel para estabelecer conexes ( links ) telemticos). O prprio fim da escassez uma caracterstica aplicvel apenas a alguns aspectos da cibercultura. Os mitos tambm fingiam uma certa superao da escassez (p. ex. o mito da redeno). Mas as novas tecnologias nos oferecem acessos no mediatizados por terceiros (sacerdotes, mestres etc.) superabundncia da informao. Queremos explicitar um alerta crtico em relao a um tecnootimismo desvairado, que geralmente recai em vises gnsticas ou platnicas de um mundo soberanamente auto-organizativo, com escassa previso de interferncia ativa dos sujeitos humanos, alentados por uma sensibilidade social conscientemente cultivada20 . Uma certa experincia do fim da escassez - ainda to distante em tantos outros aspectos da vida em sociedade tornou-se possvel e repetvel como experincia pessoal do aprendente no mundo da informao e dos acessos cultura. Palavras meio esdrxulas como hipertextualidade, conectividade, transversa(ti)lidade aludem sobretudo a esse carter experiencial que o fim da escassez est adquirindo. Ser que h, finalmente, um tpos, um lugar experiencial, no qual a excluso est desaparecendo?
Entre a vrias obras de M. POLANYI destacaramos A dimenso tcita (The Tacit Dimension). Em francs, Paris: PUF, 1966.
17 18 19
MICHEL, M. Elogio da Razo Sensvel. Petrpolis/RJ: Vozes, 1998. LINK-PEZET, Jo. loc cit.
a impresso que nos d o pensamento, alis no isento de contradies, de Delfim Soares, em seu Glossrio de Sociociberntica e vrios outros textos seus disponveis na internet, stembro/2000.
20
Ci. Inf., Braslia, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000
13
Hugo Assmann
PARCERIAS EPISTEMOLGICAS DE ALTO NVEL Passemos a um exemplo de parceria transdisciplinar de alto nvel entre pesquisadores da rea das cincias sociais e peritos das cincias computacionais. O exemplo que se aduz presta-se para deixar bastante claro que o problema de fundo no juntar esforos no plano do uso de mquinas cognitivas sofisticadas (sistemas multiagentes com forte recursividade algortmica). Trata-se disso tambm, porque o pessoal da rea de humanas e sociais geralmente subutiliza os recursos computacionais disponveis. O problema de fundo, no entanto, de ndole epistemolgica e tica. Trata-se do problema do controle humano (e neste sentido, racional) das decises e julgamentos que como j o velho Kant sabia muito bem aparecem no interior da prpria constituio das formas (da morfognese) do conhecimento. De que podemos abrir mo, e que no deveramos delegar jamais, parceria ativa com mquinas cognitivas? Em 1988, nos EUA, um grupo de socilogos e peritos da informtica mais avanada (Inteligncia Artificial Distribuda) publicou uma srie de ensaios com o estranho ttulo The Unnamable (Aquilo que no tem nome ou O [ainda] Inominvel). Os estudos versavam sobre a regio teoricamente fronteiria ou, se quiserem: a interface epistemolgica entre os pressupostos filosficos e os modelos explicativos das cincias sociais e das cincias computacionais. A partir do momento em que se comea a usar conceitos como inteligncia artificial, vida artificial, sistemas multiagentes, algoritmos aenticos, sistemas complexos e adaptativos, e por a afora, estamos confrontados com implicaes filosficas muito srias. Dez anos depois, na Alemanha, essa regio sem nome passou a ter um nome, oficializado (precariamente) em 1998 pela DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft algo parecido ao nosso CNPq, mas com recursos bem mais vultosos). O nome, agora oficializado, Sozionik (Socinica). Assim como na Binica se tomaram as funes corporais como modelo para novas tcnicas, na Socinica se trata da questo de como possvel tomar exemplos da vida social para desenvolver, a partir deles, novas tecnologias computacionais.21
O Programa-Eixo: Socinica (Schwerpunktprogramm: Sozionik) destina-se a expertos em informtica e socilogos e visa a apoiar projetos de parceria (projetos tandem) para a pesquisa e a modelizao de socialidade artificial. Anotem o conceito aparentemente ousado: knstliche Sozialitt (socialidade artificial). Cito: Trata-se da questo de como possvel tomar exemplos da vida social e desenvolver, a partir deles, programas computacionais inteligentes. O Programa-Eixo: Socinica concentra-se em dois problemas bsicos quando se trata da interface entre Inteligncia Artificial Distribuda e Sociologia: 1. Emergncia e Dinmica de sistemas sociais artificiais; 2. Comunidades hbridas de agentes humanos e agentes artificiais22 . Os documentos tornados pblicos at o momento so muito explcitos quanto incorporao de conceitoschave da discusso sobre sistemas vivos enquanto sistemas aprendentes, sobre organizaes aprendentes, sobre sistemas complexos e adaptativos ou sistemas dinmicos, formas de socialidade artificial e temas similares. Pelo que consigo perceber, j se maneja como bvia uma srie de conceitos que tem srias implicaes filosficas, como o caso dos conceitos emergncia e auto-organizao (supostamente espontnea). O debate parece deslocar-se explicitamente do plano tcnico e operacional (as formas de programao computacional) para o campo das implicaes filosficas, ticas e polticas, ou seja: que tipo de nveis decisrios no podem ser delegados crescente relativa autonomia cognitiva dos sistemas multiagentes eletrnicos. (Para finalizar __ e dito entre parnteses __, o exemplo que examinamos rapidamente poderia talvez inspirar um leque de projetos similares no Brasil. Um aspecto peculiar a destacar no caso alemo a abertura para a valorizao de entrelaamentos criativos entre pesquisas bsica __ ou seja, teoria mesmo! __ e pesquisa experimental, alm da marca transdisciplinar do conjunto de projetos. Na Alemanha, julgou-se necessria uma instigao inicial de cima, delegando aos poucos a funo coordenadora a vrias instncias interinstitucionais. No caso do Brasil, a que instncia(s) caberia assumir um papel instigador similar?)
21
DFG, Edital N 14 de 14 de julho de 1998. cf. Internet.
14
Ci. Inf., Braslia, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000
A metamorfose do aprender na sociedade da informao
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS 1. ECO, Umberto. La ricerca della lengua perfetta. Roma : Laterza, 1993. 2. ASSAMAN, Hugo. Reencantar a educao : rumo sociedade aprendente. 4. ed. Petrpolis : Vozes, 2000. 3. SENGE, Peter M. A Quinta disciplina : arte e prtica da organizao que aprende. So Paulo : Best Seller, 1994. 4. INFORMATIO SOCIETY PROJECT. Projeto Sociedade da Informao. Disponvel em: http://www.ispo.cec.be http://europa.eu.int/en/ comm/ 5. FLCKIGER, Daniel Federico. Contributions towards a unified concept of information. 1995. Tese (Doutorado) Faculty of Science, University of Berne. 6. UNIO EUROPIA. Construir a Sociedade Europia da Informao para todos . [s. l.], 1997. (Relatrio final do Grupo de Peritos de Alto Nvel). Disponvel em: http://www.ispo.cec.be http:// europe.eu.int./en/comm/ 7. DO LIVRO Verde para a Sociedade da Informao em Portugal. [s. l.], 1997. 125 p. Disponvel em: secretariado@missao-si.mct.pt 8. ASSMANN, Hugo, MO SUNG, Jung. Competncia e sensibilidade solidria : educar para a esperaa. Petrpolis : Vozes, 2000. 9. SOUZA, C. R. Gonalves de. As implicaes pedaggicas de uma viso hipetextual da realidade . 2000. Dissertao (Mestrado) Unimep, Piracicaba, 2000. 10. LINK-PEZET, Jo. De la reprsentation la coopration: volution des approches thoriques du traitment de linformation. Disponvel em: http://info.unicaen.fr/brnum/jelec/Solaris/d05/5linkpezet.htm 11. LVY, P . A A inteligncia coletiva. So Paulo : Loyola, 1998. 12. GUIMARES JR., M. J. Lopes. A cibercultura e o surgimento de novas formas de sociabilidade . Disponve em http://www.cfh.ufsc.br/ ~guima/ciber.htm 13. LINK-PEZET, Jo. La signature du monde. Paris : Du Cerf, 1993. 14. SKIRKE, Ulf. Technologie und selbstorganisation . Disponvel em: www.on-line.de/~u.skirke/tus.titel.html 15. LINK-PEZET, Jo. La signature du monde. Paris : Du Cerf, 1993. 16. MATURAMA, H., VARELA, F. A rvore do conhecimento. Campinas : Editorial Psy, 1995. 17. POLANYL, M. A dimenso ttica . Paris : PUF, 1966. 18. MICHEL, M. Elogio da razo sensvel. Petrpolis : Vozes, 1998. 19. LINK-PEZET, Jo. La signature du monde. Paris : Du Cerf, 1993. 20. SOARES, Delfim. Glossrio de sociociberntica. Disponvel em: http:/ /www.compuland.com.br/delfim/gloss.htm 21. DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAT. Edital n 14, de 14 de julho de 1998 . Disponvel em: http://www.dfg.de/
Ci. Inf., Braslia, v. 29, n. 2, p. 7-15, maio/ago. 2000
15
Você também pode gostar
- Projetos e Práticas de Ação Pedagógica - Questionario IiiDocumento12 páginasProjetos e Práticas de Ação Pedagógica - Questionario IiiJamile Santos0% (1)
- Indústria 4.0: impactos sociais e profissionaisNo EverandIndústria 4.0: impactos sociais e profissionaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Prática de Ensino Estratégias e Tecnologias - Práticas Pedagógicas IDocumento133 páginasPrática de Ensino Estratégias e Tecnologias - Práticas Pedagógicas ICristiane Chagas100% (2)
- Educação e tecnologias: O novo ritmo da informaçãoNo EverandEducação e tecnologias: O novo ritmo da informaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Resenha Do Livro Educação e Tecnologia Vani MoreiraDocumento4 páginasResenha Do Livro Educação e Tecnologia Vani MoreiraAlex Nahyara Leite100% (1)
- Resumo - o Que É UrbanismoDocumento8 páginasResumo - o Que É Urbanismofelipe_vieitasAinda não há avaliações
- Assmann 2000Documento9 páginasAssmann 2000s681109Ainda não há avaliações
- Aula 3 NovastecnologiasparasaladeaulaDocumento16 páginasAula 3 NovastecnologiasparasaladeaulaLuAnaAinda não há avaliações
- Tecnologia Educacional: Conceitos e Pressupostos Fi Losófi CosDocumento5 páginasTecnologia Educacional: Conceitos e Pressupostos Fi Losófi Cosjean amandaAinda não há avaliações
- 2cruz 2008 PDFDocumento20 páginas2cruz 2008 PDFRaquel Duaibs ZieglerAinda não há avaliações
- ATIVIDADE AVALIATIVA 2 Integração Das TIC Na EducaçãoDocumento5 páginasATIVIDADE AVALIATIVA 2 Integração Das TIC Na EducaçãoValeria FonsecaAinda não há avaliações
- As Novas Tecnologias e A EducaçãoDocumento5 páginasAs Novas Tecnologias e A EducaçãoAbel Joaquim Calipi CalipiAinda não há avaliações
- Aula 01Documento10 páginasAula 01Luna Aps MartinsAinda não há avaliações
- A Comunicação Digital No Processo PedagógicoDocumento14 páginasA Comunicação Digital No Processo PedagógicoAugusto SchwartzAinda não há avaliações
- Educação A Distância E Sua AbrangênciaDocumento12 páginasEducação A Distância E Sua AbrangênciaYvis LineAinda não há avaliações
- E-Book Educação e TecnologiasDocumento42 páginasE-Book Educação e TecnologiasDaniele AmorimAinda não há avaliações
- Conhecimento, Transversalidade e Currículo - Silvio GalloDocumento14 páginasConhecimento, Transversalidade e Currículo - Silvio GalloAlbertoAinda não há avaliações
- Maria Aparecida Baccega - Tecnologia e Construção Da CidadaniaDocumento8 páginasMaria Aparecida Baccega - Tecnologia e Construção Da CidadaniaRicardo NicolayAinda não há avaliações
- Conversando Sobre As Novas TecnologiasDocumento3 páginasConversando Sobre As Novas TecnologiasJuliana NascimentoAinda não há avaliações
- 11 Teorias Da Aprendizagem e As TIC SDocumento16 páginas11 Teorias Da Aprendizagem e As TIC STon Costa100% (1)
- A Pedagogia Da Transmissão e A Sala de Aula InterativaDocumento16 páginasA Pedagogia Da Transmissão e A Sala de Aula InterativaVivi Martins100% (1)
- Artigos Conectivismo PDFDocumento4 páginasArtigos Conectivismo PDFJosy Romeu Santana100% (1)
- Psicologia Da Educação Cognitivista Tema 5 (Modulo 3)Documento13 páginasPsicologia Da Educação Cognitivista Tema 5 (Modulo 3)Ester Silva CostaAinda não há avaliações
- Capítulo 3 - ND1Documento7 páginasCapítulo 3 - ND1Débora IkegamiAinda não há avaliações
- Second Life Na EducaçãoDocumento10 páginasSecond Life Na EducaçãoAlexandre Meneses ChagasAinda não há avaliações
- Kastrup, V Fazendo Psicologia No Campo Da Saúde Mental Com OficinasDocumento12 páginasKastrup, V Fazendo Psicologia No Campo Da Saúde Mental Com OficinasLivia FarahAinda não há avaliações
- Educação A Distância e Suas Diferentes Formas de AprenderDocumento9 páginasEducação A Distância e Suas Diferentes Formas de AprendermadrugabrAinda não há avaliações
- Metodologia Do Ensino de História Diagramada NovaDocumento34 páginasMetodologia Do Ensino de História Diagramada NovaAugustoAinda não há avaliações
- LIVRO DIDÁTICO DA UC Comunicação e Acompanhamento PedagógicoDocumento40 páginasLIVRO DIDÁTICO DA UC Comunicação e Acompanhamento PedagógicoJeanine Catlein Felipi OhfAinda não há avaliações
- Impressões Sobre Os Textos de Pedro DemoDocumento3 páginasImpressões Sobre Os Textos de Pedro DemoTercia SouzaAinda não há avaliações
- A Prática Pedagógica Educomunicatica Como Estímulo Ao Diálogo Da Comunidade Escolar Possibilitando Autoaprendizagem e Protagonismo JuvenilDocumento13 páginasA Prática Pedagógica Educomunicatica Como Estímulo Ao Diálogo Da Comunidade Escolar Possibilitando Autoaprendizagem e Protagonismo Juvenil̶e̶l̶i̶s̶m̶a̶r̶D̶e̶J̶e̶s̶u̶s̶Ainda não há avaliações
- Minayo - Interdisciplinaridade e ComplexidadeDocumento8 páginasMinayo - Interdisciplinaridade e ComplexidadeMarcia MacedoAinda não há avaliações
- Aula 15Documento22 páginasAula 15tarcisio nascimentoAinda não há avaliações
- Apostila 03Documento17 páginasApostila 03Isabel RayaAinda não há avaliações
- A Contribuição Dos Princípios Da Teoria Da Carga Cognitiva para Educação Mediada Pela Tecnologia PDFDocumento9 páginasA Contribuição Dos Princípios Da Teoria Da Carga Cognitiva para Educação Mediada Pela Tecnologia PDFRodrigo GonçalvesAinda não há avaliações
- INOJOSA Sinergia Politicas Servicos PublicosDocumento9 páginasINOJOSA Sinergia Politicas Servicos PublicosAna Paula ProcopioAinda não há avaliações
- Proposta de Um Conceito de Aprendizagem para A Era DigitalDocumento7 páginasProposta de Um Conceito de Aprendizagem para A Era DigitalAndressaAinda não há avaliações
- A Formação Profissional No Sec XXI - Desafios e Dilemas PDFDocumento6 páginasA Formação Profissional No Sec XXI - Desafios e Dilemas PDFHelio GastaldiAinda não há avaliações
- 6 - A Educacao Do Futuro Uma Reflexao Sobre AprendizagDocumento6 páginas6 - A Educacao Do Futuro Uma Reflexao Sobre Aprendizagprofyuri1999Ainda não há avaliações
- O Uso Das Tecnologias Nas Aulas de BiologiaDocumento7 páginasO Uso Das Tecnologias Nas Aulas de BiologiaNetoAinda não há avaliações
- Texto - Sessao2 1Documento6 páginasTexto - Sessao2 1Maria Deus RebeloAinda não há avaliações
- Todos Os Ganhos Da LeituraDocumento5 páginasTodos Os Ganhos Da LeituralaikkaAinda não há avaliações
- A Mediação Da Leitura Literária-Uma Proposta de Metodologia TemáticaDocumento15 páginasA Mediação Da Leitura Literária-Uma Proposta de Metodologia TemáticaKamila BorgesAinda não há avaliações
- A Escola Do Futuro - (Guiomar Namo de Mello)Documento3 páginasA Escola Do Futuro - (Guiomar Namo de Mello)manuelaAinda não há avaliações
- Livro - Tecnologias Digitais Da Informação e Da Comunicação (TDIC) Na EducaçãoDocumento28 páginasLivro - Tecnologias Digitais Da Informação e Da Comunicação (TDIC) Na EducaçãoKerol BomfimAinda não há avaliações
- TECNOPEDAGOGIADocumento24 páginasTECNOPEDAGOGIAAdriano CardosoAinda não há avaliações
- Trabalho Final Fundamentos Da EducaçãoDocumento4 páginasTrabalho Final Fundamentos Da EducaçãoRebeca NunesAinda não há avaliações
- Comunicação Dos Tempos ModernosDocumento12 páginasComunicação Dos Tempos ModernosFabiana DemétrioAinda não há avaliações
- UNID III - Prof Na Era Digital - Entre A Mediação eDocumento28 páginasUNID III - Prof Na Era Digital - Entre A Mediação eEdna MolinaAinda não há avaliações
- A PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS EM USO - Versã12Documento6 páginasA PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS EM USO - Versã12Laura LemosAinda não há avaliações
- Cultura DigitalDocumento8 páginasCultura DigitalAirton JuniorAinda não há avaliações
- Aula 08Documento23 páginasAula 08Leandro CabralAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso de Novas Tecnologias Na Aprendizagem-Aspectos Filosóficos-Apoio Ao ProfessorDocumento26 páginasApostila Do Curso de Novas Tecnologias Na Aprendizagem-Aspectos Filosóficos-Apoio Ao ProfessorJean TelesAinda não há avaliações
- Publicação Junho 2021Documento10 páginasPublicação Junho 2021Cintia BonalumeAinda não há avaliações
- Novas Competências e Desafios Educacionais Na Era DaDocumento7 páginasNovas Competências e Desafios Educacionais Na Era DaMarcia Helena De CARVALHOAinda não há avaliações
- Monografia (Est.) Tecnologia Nas Aulas L.P.Documento45 páginasMonografia (Est.) Tecnologia Nas Aulas L.P.ElcienepradoAinda não há avaliações
- Estilos de Aprendizagem: Ferramenta Fundamental Na Produção de Recursos Pedagógicos Usando As TICDocumento9 páginasEstilos de Aprendizagem: Ferramenta Fundamental Na Produção de Recursos Pedagógicos Usando As TICprmiltonsobreiroAinda não há avaliações
- Document 1Documento15 páginasDocument 1D. Cavalcanti - Design GráficoAinda não há avaliações
- Edu DistanciaDocumento24 páginasEdu DistanciaPaulo CesarAinda não há avaliações
- Texto 1 Professores ReflexivosDocumento6 páginasTexto 1 Professores ReflexivosGabriela GirardiAinda não há avaliações
- Formacao de Professores e Cibercultura Edmea SantosDocumento10 páginasFormacao de Professores e Cibercultura Edmea SantosMaíra SaporettiAinda não há avaliações
- A Utilização Das Tecnologias de Informação e Comunicação Como Recurso DidáticoDocumento18 páginasA Utilização Das Tecnologias de Informação e Comunicação Como Recurso Didáticosuelen Matias dos SantosAinda não há avaliações
- EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Humanizando as Relações EducacionaisNo EverandEDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Humanizando as Relações EducacionaisAinda não há avaliações
- Castells - Uma Introducao A Era Da InformacaoDocumento5 páginasCastells - Uma Introducao A Era Da InformacaoIzaak CandeiasAinda não há avaliações
- A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA NO SÉCULO XXI - Identidades e DilemasDocumento64 páginasA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA NO SÉCULO XXI - Identidades e DilemasoverbAinda não há avaliações
- Alexis CoutoDocumento90 páginasAlexis CoutojoaquimAinda não há avaliações
- Desenho Técnico Aprendizagem-Exercicios-Parte 1Documento80 páginasDesenho Técnico Aprendizagem-Exercicios-Parte 1Toni DizAinda não há avaliações
- 2 - Escola e Cultura Escolar Durante e Pós-Pandemia Caminhos para ReflexãoDocumento13 páginas2 - Escola e Cultura Escolar Durante e Pós-Pandemia Caminhos para ReflexãoAline MouraAinda não há avaliações
- Como Surgiu A InternetDocumento2 páginasComo Surgiu A InternetlucskiwalkerAinda não há avaliações
- OBRIGATORIO Linguagem Interacao Profaluno Eradigital Unidade1 OficinaIIIDocumento8 páginasOBRIGATORIO Linguagem Interacao Profaluno Eradigital Unidade1 OficinaIIIGilvani Alves de AraujoAinda não há avaliações
- Trabalho de Estudos Contemporâneos MUANAFADocumento52 páginasTrabalho de Estudos Contemporâneos MUANAFArogerio fernando100% (3)
- Técnico A de Segurança e Higiene Do Trabalho Referencial EFADocumento62 páginasTécnico A de Segurança e Higiene Do Trabalho Referencial EFADaniel CarvalhoAinda não há avaliações
- Contribuições Da Mediação Na Gestão de Conflitos em Organizações de EnsinoDocumento167 páginasContribuições Da Mediação Na Gestão de Conflitos em Organizações de EnsinoJose Manuel DauceAinda não há avaliações
- Novas Tecnologias UnintaDocumento16 páginasNovas Tecnologias UnintaGraziinha Ferreira100% (2)
- Apostila Do Curso de Análise de Informações - CompiladoDocumento55 páginasApostila Do Curso de Análise de Informações - CompiladoGlauber Nóbrega da SilvaAinda não há avaliações
- CAMPO ELÉTRICO E ELETROMAGNÉTICO - Poluição Eletromagnetica - Universidade em Santa CatarinaDocumento134 páginasCAMPO ELÉTRICO E ELETROMAGNÉTICO - Poluição Eletromagnetica - Universidade em Santa CatarinaHalley StaccatoAinda não há avaliações
- Gestao Estrategica de Recursos Humanos Na Era Da TDocumento9 páginasGestao Estrategica de Recursos Humanos Na Era Da TVaAinda não há avaliações
- Psico 2Documento18 páginasPsico 2Daiane Aline Alves SouzaAinda não há avaliações
- Professores Reflexivos - ResumoDocumento6 páginasProfessores Reflexivos - ResumoSonia Piaya100% (2)
- Inteligencia de MercadoDocumento176 páginasInteligencia de MercadoYuri SouzaAinda não há avaliações
- 05 Profissao Docente 05Documento22 páginas05 Profissao Docente 05carlaAinda não há avaliações
- Estudo Contemporâneo e Transversal - Gestão Do Conhecimento: ProfessorDocumento52 páginasEstudo Contemporâneo e Transversal - Gestão Do Conhecimento: ProfessorDejane Menezes IbnAinda não há avaliações
- Gestão Escolar e o Uso Das TIC'sDocumento62 páginasGestão Escolar e o Uso Das TIC'smaxemluizAinda não há avaliações
- Desafios Da Inclusão Digital e Direitos HumanosDocumento13 páginasDesafios Da Inclusão Digital e Direitos Humanosrailda almeida chavesAinda não há avaliações
- Referencial EFADocumento74 páginasReferencial EFAFeliciano Joaquim Cristo Ferro100% (1)
- Livro-Educação e As Novas Tecnologias Da Informação e Comunicação - NTICs PDFDocumento124 páginasLivro-Educação e As Novas Tecnologias Da Informação e Comunicação - NTICs PDFlrrabge79100% (2)
- ATIVIDADE 2 - FSCE I - 2020C ComprovanteDocumento5 páginasATIVIDADE 2 - FSCE I - 2020C Comprovantetatty santosAinda não há avaliações
- Liv Ro BrancoDocumento88 páginasLiv Ro BrancoLadislau De CarvalhoAinda não há avaliações
- CORTE ALMEIDA ROCHA LAGO Avaliacao de Softwares para Bibliotecas e Arquivos 2 EdDocumento218 páginasCORTE ALMEIDA ROCHA LAGO Avaliacao de Softwares para Bibliotecas e Arquivos 2 EdMaria Helena Xavier100% (2)
- Prova - Estudo Contemporâneo e Transversal Gestão Do Conhecimento - 54-2023Documento6 páginasProva - Estudo Contemporâneo e Transversal Gestão Do Conhecimento - 54-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações