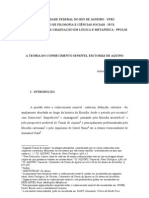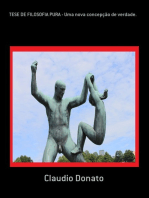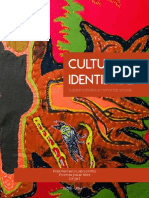Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
598 1168 1 SM
598 1168 1 SM
Enviado por
Carmen Bortolotto0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações24 páginasTítulo original
598-1168-1-SM
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações24 páginas598 1168 1 SM
598 1168 1 SM
Enviado por
Carmen BortolottoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 24
65
ANALYTICA, Rio de Janeiro, vol 14 n 2, 2010, p. 65-88
CONCEITO E OBJETO
EM TOMS DE AQUINO
Raul Landim Filho
PPGLM/UFRJ/CNPq
A noo de representao tornou-se um dos conceitos-chave das anlises loscas
quando a tarefa prioritria da losoa passou a ser a de elaborar uma teoria sobre os limites do
conhecimento humano. A partir dela e atravs dela as questes da possibilidade e dos limites
do conhecimento objetivo ganharam uma nova relevncia.
Embora seja uma noo tematicamente presente nas losoas modernas, a noo de
representao desempenhou tambm uma funo importante nas losoas pr-cartesianas.
Representar uma coisa, escreve Toms de Aquino, conter a similitude dessa coisa.
1
Seria a no-
o de representao essencial explicao do conhecimento na perspectiva de Toms?
A escola tomista formulou ao longo da histria diferentes respostas a essa pergunta.
Ainda hoje, interpretaes contemporneas do tomismo prolongam e aprofundam esse debate.
Tal o caso, por exemplo, dos defensores do Realismo Direto em Toms de Aquino, tais como
P. Geach, N. Kretzmann, D. Perler e outros. Estes intrpretes procuraram mostrar, direta ou in-
diretamente, que a noo de representao no um dos conceitos bsicos da teoria tomista do
conhecimento, apesar do uso do termo representare do emprego sistemtico e repetitivo do
termo similitudeem toda a obra de Toms.
1 Questiones Disputatae De Veritate (doravante De Veritate), q. 7, a. 5, ad 2: Ad secundum dicendum,
quod repraesentare aliquid est similitudinem eius continere.
66
volume 14
nmero 2
2010
Segundo o Realismo Direto, a relao do conceito com o objeto (a coisa pensada) seria
uma relao de identidade formal (identidade de forma).
2
A tese da identidade formal signica
que h uma identidade entre a forma da coisa e a forma intencional: a mesma forma que
existe efetivamente na realidade e intencionalmente na mente. Note-se que a suposio de que
uma mesma forma tem instncias diferentes, extra-mentais (reais) e mentais, legitima a tese da
identidade entre o termo da ao intelectual do sujeito cognoscente e o objeto conhecido, o que
tornaria ainda mais plausvel a tese de Toms de que o intelecto em ato o inteligvel em ato.
3
Seria conseqncia dessa tese que no h intermedirio mental entre o sujeito cognoscente e
a coisa conhecida. O que instanciado na minha mesa e no meu intelecto a mesma coisa, mas os
dois modos de instanciao so radicalmente distintos,
4
explica Kretzmann. Portanto, o conceito
no seria uma representao ou similitude da coisa, mas a expresso intencional na mente da
forma da prpria coisa.
No pretendo analisar as teses do Realismo Direto, mas expor a plausibilidade de outra
interpretao: a interpretao representacionalista da teoria gnosiolgica de Toms de Aquino.
5
Ao analisar as relaes entre conceito e objeto, mostrarei que o conceito exprime intencional-
mente o objeto nele contido e, ao mesmo tempo, signica por similitude a prpria coisa a ser
conhecida. De fato, na interpretao da teoria do conhecimento tomsico duas teses devem ser
harmonizadas: por um lado, contra a interpretao representacionalista cartesiana, deve ser
2 Alm de ser um princpio ontolgico, forma tambm principio de inteligibilidade e da de cog-
noscibilidade. Ver De Veritate, q. 2, a. 3, ad 8: Ad octavum dicendum, quod illud quod est principium
essendi, etiam est principium cognoscendi ex parte rei cognitae, quia per sua principia res cognoscibilis
est; sed illud quo cognoscitur ex parte cognoscentis, est rei similitudo, vel principiorum eius; quae non
est principium essendi ipsi rei, nisi forte in practica cognitione. Ver tambm Super Boetium De Trinitate
(doravante De Trinitate), q. 5, a. 3.
3 Intellectus in actu et intelligibile in actu sunt unum sicut sensu in actu et sensible in actu.(Sum-
ma contra Gentiles (doravante ScG), II, 59).
4 Kretzmann 1998, p. 363. Sobre o realismo direto em Toms de Aquino, ver Kretzmann 1993, espe-
cialmente pp. 138-140; Kenny 2002; Perler 2000.
5 Atualmente, o mais destacado defensor da teoria representacionalista em Toms de Aquino C.
Panaccio. Ver Panaccio 2002. Michon, na parte nal do seu artigo (Michon 2007), distingue cinco sentidos
de representacionalismo e caracteriza o Realismo Indireto como um representacionalismo inferencial.
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
67
volume 14
nmero 2
2010
justicada a tese de que os objetos diretos do conhecimento so prioritariamente as coisas e no
os conceitos (ou a species inteligvel); por outro lado, deve ser demonstrado que s mediante
os conceitos as coisas podem ser inteligidas ou pensadas. Da surge a questo que ser o o
condutor do artigo: qual a relao entre o conceito e a coisa que, enquanto pensada, objeto
da representao conceitual?
Note-se que a divergncia entre as diversas interpretaes contemporneas da teo-
ria do conhecimento tomista no concerne existncia de entidades intencionais que ex-
pressam a forma de objetos na mente. essencial para a teoria tomsica do conhecimento
a noo de species intencional, pois para Toms o conhecimento se realiza pela assimilao
imanente da coisa: Toda cognio se realiza atravs da assimilao da coisa conhecida pelo
cognoscente [...].
6
Ora, essa assimilao no pode ser uma assimilao fsica da coisa, mas
tem que ser uma assimilao intencional: Pois, o que inteligido no est no intelecto por
si (secundum se), mas segundo sua similitude: a pedra no est na alma, mas a species
da pedra, como foi dito no De Anima III.
7
Assim, como conhecer
8
envolve assimilao, no
ato cognitivo a coisa extra-mental est presente no sujeito mediante a species, sensvel ou
intelectual. Sob esse aspecto, a species um ente intencional, isto , um sinal no sujeito
cognoscente da presena de algo.
A expresso species, que a traduo latina da palavra eidos, signica na teoria tomista
do conhecimento ou bem a forma, e neste caso ela no envolve a noo de matria individual
ou comum , ou bem a forma sensvel ou inteligvel (verbo interior (mental), conceito) e neste
6 De Veritate, q. 1, a. 1.
7 Summa theologiae (doravante ST), I, q. 76, a. 2, ad 4: Id enim quod intelligitur non est in intellectu
secundum se, sed secundum suam similitudinem, lapis enim non est in anima, sed species lapidis, ut
dicitur in III de anima.Grifo meu.
8 Segundo Toms de Aquino, conhecer julgar; s mediante o ato de julgar, de compor e de dividir
(que pertence segunda operao da mente), se efetua o ato de conhecer (ver, por exemplo, ST, I, q. 16,
a. 2). No entanto, de uma maneira genrica, Toms aplica tambm o termo conhecerno s s opera-
es sensveis, como tambm ao termo da primeira operao da mente: apreenso dos indivisveis ou
formao do conceito ou do verbo interior (mental). O termo cognio aplicado prioritariamente s
operaes do intelecto (formar conceitos (1 operao) e julgar (2 operao)).
RAUL LANDIM FILHO
68
volume 14
nmero 2
2010
caso ela no envolve a noo de matria enquanto princpio de individuao, mas pode envol-
ver a noo de matria comum.
9
incontestvel, pois, que o ato de inteligir explicado por Toms atravs da noo de
species intencional. O problema precisar a funo dessa noo, em especial a funo da species
inteligvel e a do verbo mental
10
em suas relaes com o fantasma (imagem sensvel) e com a
coisa inteligida.
11
O uso da noo species na teoria gnosiolgica de Toms no exclui de antemo a hiptese
de que o verbo mental (ou o que foi posteriormente designado pela tradio tomista de species
expressa inteligvel) enquanto termo do ato de inteligir e pelo fato de conter ou signicar in-
tencionalmente o objeto do intelecto seja considerado, por um lado, como o que inteligido
e, por outro lado, como aquilo que faz conhecer o prprio objeto que existe intencionalmente
no conceito ou nele est contido. Sob esse aspecto, o verbo mental pode ser interpretado como
9 A forma que especca o ato intelectual, isto , a forma considerada enquanto princpio do ato de
inteligir (como species inteligvel) ou considerada enquanto termo desse ato (conceito ou verbo mental)
envolve a matria comum, mas formaenquanto signica forma, substancial ou acidental, no envolve
qualquer composio com a matria. Ver Sententia Libri Metaphysicae, lib. 7, l. 9, n. 14: Sciendum tamen
est, quod nulla materia, nec communis, nec individuata secundum se se habet ad speciem prout sumitur
pro forma. Sed secundum quod species sumitur pro universali, sicut hominem dicimus esse speciem, sic
materia communis per se pertinet ad speciem, non autem materia individualis, in qua natura speciei acci-
pitur. Ver tambm Lonergan 2005, p. 133, ou a traduo francesa da obra: Lonergan 1966, pp. 126-127.
10 Desde os seus textos de juventude, como no De Veritate, q. 4, a. 1, e, sobretudo, nos seus textos de
maturidade como na ScG, IV, 11; De Potentia, q. 9, a. 5; ST, I, q. 34, a. 1, Toms arma que o verbo exte-
rior (a palavra escrita ou falada) signica o verbo interior (o conceito ou o enunciado). Ns usaremos a
expresso verbo mentalcomo sinnima da expresso verbo interior. Note-se que, para Toms, o verbo
interior prioritrio face ao verbo exterior, isto , a funo e o signicado do verbo interior independem
do verbo exterior, mas no ao contrrio. Ver Expositio Libri Peryermenias, I. 2.
11 De Veritate, q. 2, a. 6: Sed tamen tantum interest; quod similitudo quae est in sensu, abstrahitur a
re ut ab obiecto cognoscibili, et ideo per illam similitudinem res ipsa per se directe cognoscitur; similitudo
autem quae est in intellectu, non abstrahitur a phantasmate sicut ab obiecto cognoscibili, sed sicut a me-
dio cognitionis, per modum quo sensus noster accipit similitudinem rei quae est in speculo, dum fertur in
eam non ut in rem quamdam, sed ut in similitudinem rei. Unde intellectus noster non directe ex specie
quam suscipit, fertur ad cognoscendum phantasma, sed ad cognoscendum rem cuius est phantasma.
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
69
volume 14
nmero 2
2010
uma representao intermediria entre o sujeito cognoscente e a coisa conhecida. Mas, ca ain-
da indeterminado se o verbo mental um puro meio que faz conhecer o objeto ou se s meio
enquanto, ele prprio, um objeto do intelecto.
Uma distino formulada por Joo de So Toms, tomista do sculo XVII,
12
pode tornar
mais precisa essa diculdade. Joo de S. Toms classicou os signos em signos instrumentais e
formais.
13
Os signos instrumentais, como qualquer signo, tm a funo de signicar outros ob-
jetos. Mas eles mesmos so objetos. Portanto, so objetos que signicam outros objetos. O signo
formal seria um signo que no um objeto e cuja nica funo seria a de signicar outro objeto.
Os conceitos ou verbos mentais seriam em Toms signos formais ou instrumentais?
No comentrio ao De Interpretatione de Aristteles, ao analisar o clebre pargrafo ini-
cial desse livro
14
, Toms
15
reitera o que armara Aristteles: as palavras escritas so signos con-
vencionais das palavras orais, estas so signos convencionais das paixes da alma, isto , das
concepes do intelecto (precisa Toms) que, por sua vez, so similitudes no convencionais
(naturais) das coisas. Da arma Toms:
[...] Aristteles deveria ter dito que as palavras orais (voces) signicam as concepes do
intelecto de maneira imediata e as coisas pelo intermdio (mediantibus) delas [concepes
do intelecto].
16
Mas no apenas num comentrio ao texto de Aristteles que Toms arma que os con-
ceitos (ou as concepes do intelecto) so intermedirios (nesse caso, intermedirios entre as
palavras orais e as coisas). Na Suma, repetida a mesma tese:
12 Joo de St. Toms 1955, cap. On Signs, Cognitions and Concepts, pp. 388-435.
13 Essa classicao foi retomada por J. Maritain no sculo XX. Ver Maritain 1958, cap. III: Le Ra-
lisme Critique, item Le Concept, pp. 231-248 e Annexe 1: A Propos du Concept, pp. 769-819.
14 De Interpretatione 16a3-16a8.
15 Expositio Libri Peryermenias, I. 2.
16 Ibid. Grifo meu.
RAUL LANDIM FILHO
70
volume 14
nmero 2
2010
[...] as palavras orais (voces) so signos dos conceitos (intelelctuum) e os conceitos (intellec-
tus) so similitudes das coisas E isso torna evidente que as palavras referem-se s coisas a
serem signicadas mediante a concepo do intelecto (conceptione intellectus).
17
Se os conceitos so intermedirios entre as palavras e as coisas, exerceriam uma funo
anloga funo das idias no sistema cartesiano?
18
No De Potentia, I, q. 9, a. 5, Toms de Aquino no exclui e parece conrmar essa hiptese,
pois escreve:
Porm, o que por si mesmo (per se) inteligido no a coisa, cujo conhecimento (notitia)
tido pelo intelecto, pois, algumas vezes, a coisa inteligida est apenas em potncia [de inte-
leco] e existe fora daquele que intelige; como quando o homem intelige as coisas mate-
riais, como a pedra ou o animal ou coisa semelhante, embora seja necessrio que o inteligi-
do esteja no inteligente e seja uno com ele. A similitude da coisa inteligida, nela mesma (per
se), tambm no o inteligido; mediante a similitude o intelecto adquire uma forma para
inteligir. [...] Assim, esta similitude pertence ao ato de inteligir [intelligendo] como princpio
e no como termo do inteligir. Portanto, o que primeiro e por si inteligido, o que o intelecto
nele mesmo concebe sobre a coisa inteligida, a denio ou o enunciado, tendo em vista
as duas operaes do intelecto que so indicadas (ponuntur) no De Anima III.
19
17 ST, I, q. 13, a. 1. Ver tambm De Potentia, q. 8, a. 1: Intellectus enim sua actione format rei deni-
tionem, vel etiam propositionem afrmativam seu negativam. Haec autem conceptio intellectus in nobis
proprie verbum dicitur: hoc enim est quod verbo exteriori signicatur: vox enim exterior neque signicat
ipsum intellectum, neque speciem intelligibilem, neque actum intellectus, sed intellectus conceptionem
qua mediante refertur ad rem.
18 A interpretao cartesiana da funo das idias sintetizada numa carta que Descartes escreveu
para Gibieuf: Pois estando certo de que eu no posso ter conhecimento algum do que est fora de mim
seno atravs das idias dessas coisas que tive em mim, eu me preservo [je me garde bien] de relacionar
meus juzos imediatamente s coisas e de nada lhes atribuir de positivo que no perceba anteriormente
em suas idias.(DESCARTES 1973, p. 905).
19 Id autem quod est per se intellectum non est res illa cuius notitia per intellectum habetur, cum
illa quandoque sit intellecta in potentia tantum, et sit extra intelligentem, sicut cum homo intelligit res
materiales, ut lapidem vel animal aut aliud huiusmodi: cum tamen oporteat quod intellectum sit in in-
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
71
volume 14
nmero 2
2010
Segundo esse texto, o que inteligido em primeiro lugar o termo desse ato, a saber,
aquilo que o intelecto nele mesmo concebe sobre a coisa inteligida: quod intellectus in seipso con-
cipit de re intellecta.Ora, o termo do ato de inteligir a denio, que explicita os constituintes
do conceito ou o enunciado, que arma ou nega que algo ou no o caso. Sob esse aspecto,
as anlises de Toms no excluiriam a tese cartesiana: conhecemos as coisas atravs do verbo
mental, que o termo da primeira operao do ato de inteligir.
No entanto, em outros textos, especialmente na Suma, Toms parece excluir essa hipte-
se: o que inteligido so as coisas e no as species das coisas, estas s seriam conhecidas como
objetos por um ato de reexo sobre o ato exercido de inteligir. Toms escreve: Logo, a species
inteligvel no o que inteligido em ato, mas aquilo pelo qual o intelecto intelige.E na sequncia
do mesmo artigo armado: Mas o que primeiramente conhecido a coisa da qual a species
inteligvel uma semelhana.
20
Essa tese reiterada pelo Comentrio ao De Anima.
21
A species inteligvel no o que
conhecido, mas aquilo pelo qual algo inteligido. Assim, por exemplo, a viso v a cor que
existe no corpo e no a species que est na viso; assim tambm o intelecto intelige a quididade
(das coisas materiais) que existem nas coisas e no a species inteligvel.
telligente, et unum cum ipso. Neque etiam intellectum per se est similitudo rei intellectae, per quam in-
formatur intellectus ad intelligendum [...].Haec ergo similitudo se habet in intelligendo sicut intelligendi
principium, ut calor est principium calefactionis, non sicut intelligendi terminus. Hoc ergo est primo et
per se intellectum, quod intellectus in seipso concipit de re intellecta, sive illud sit denitio, sive
enuntiatio, secundum quod ponuntur duae operationes intellectus, in III de anima.Grifo meu.
20 ST, I, q. 85, a. 2: Ergo species intelligibilis non est quod intelligitur actu, sed id quo intelligit intel-
lectus.e Sed id quod intelligitur primo, est res cuius species intelligibilis est similitudo., ST, I, q. 76, a.
2, ad 4: Et tamen lapis est id quod intelligitur, non autem species lapidis, nisi per reexionem intellectus
supra seipsum, alioquin scientiae non essent de rebus, sed de speciebus intelligibilibus.
21 Sentencia Libri de Anima, L. III, c. 2 [ed. Leonina]: Manifestum est etiam, quod species intelligibi-
les, quibus intellectus possibilis t in actu, non sunt obiectum intellectus. Non enim se habent ad intel-
lectum sicut quod intelligitur, sed sicut quo intelligit. Sicut enim species, quae est in visu, non est quod
videtur, sed est quo visus videt; quod autem videtur est color, qui est in corpore; similiter quod intellectus
intelligit est quidditas, quae est in rebus; non autem species intelligibilis, nisi inquantum intellectus in
seipsum reectitur.Grifo meu.
RAUL LANDIM FILHO
72
volume 14
nmero 2
2010
Esses textos da Suma e do De Anima se oporiam claramente perspectiva cartesiana,
caso a noo de species inteligvel pudesse ser identicada com a noo de conceito ou de
verbo mental.
Qual seria, ento, a relao do conceito com a coisa conhecida, segundo a perspectiva
de Toms?
til assinalar inicialmente que Toms no identica o sentido da noo de species in-
teligvel com a de conceito ou verbo mental. A tradio tomista incorporou posteriormente a
classicao das species em species impressa e expressa. A species impressa o inteligvel em ato,
produzido pelo processo abstrativo, impresso no intelecto possvel. Ela o princpio do conhe-
cimento intelectual. Enquanto que a species expressa inteligvel o conceito ou o verbo mental,
produzido pelo intelecto a partir da species impressa abstrada.
Toms usa a noo de species inteligvel, que fruto da abstrao e por isso universal,
para contrap-la noo de species sensvel que, apesar de imaterial, preserva os princpios e as
condies materiais dos objetos dos quais foi extrada. Da se segue que, ao contrrio das species
inteligveis, as species sensveis signicam diretamente as coisas singulares.
Se verdade que Toms no distinguiu, pelo menos nominalmente, a noo de species
expressa da noo de species impressa, tambm verdade que distinguiu claramente a noo de
species inteligvel da noo de verbo mental.
No De Potentia, I, q. 8, a. 1, Toms distingue quatro elementos constitutivos do ato de
inteligir:
22
[i] a coisa inteligida, [ii] a species inteligvel, [iii] o prprio ato de inteleco e [iv] o
22 Intelligens autem in intelligendo ad quatuor potest habere ordinem: scilicet ad rem quae in-
telligitur, ad speciem intelligibilem, qua t intellectus in actu, ad suum intelligere, et ad conceptionem
intellectus. Quae quidem conceptio a tribus praedictis differt. A re quidem intellecta, quia res intellecta
est interdum extra intellectum, conceptio autem intellectus non est nisi in intellectu; et iterum conceptio
intellectus ordinatur ad rem intellectam sicut ad nem: propter hoc enim intellectus conceptionem rei in
se format ut rem intellectam cognoscat. Differt autem a specie intelligibili: nam species intelligibilis, qua
t intellectus in actu, consideratur ut principium actionis intellectus, cum omne agens agat secundum
quod est in actu; actu autem t per aliquam formam, quam oportet esse actionis principium. Differt au-
tem ab actione intellectus: quia praedicta conceptio consideratur ut terminus actionis, et quasi quoddam
per ipsam constitutum. Intellectus enim sua actione format rei denitionem, vel etiam propositionem
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
73
volume 14
nmero 2
2010
conceito do intelecto (conceptio intellectus). O conceito, arma Toms, no se identica com
qualquer um dos outros trs itens mencionados. Ele se distingue da coisa inteligida porque esta
pode existir fora do intelecto; o conceito, no entanto, uma entidade meramente intencional,
imanente ao intelecto. O conceito difere da species inteligvel porque a species tem a funo de
atualizar o intelecto possvel que, em si mesmo, uma potncia
23
passiva, receptiva, e atua-
lizado ao receber a species inteligvel, abstrada do fantasma pelo intelecto agente. Na medida
em que atualiza o intelecto possvel, a species inteligvel princpio do ato de inteligir, pois todo
agente (intelecto) s pode agir enquanto est em ato. O conceito, diferentemente da species
inteligvel,
24
o termo do ato imanente de inteleco e, de certa maneira, constitudo pela
operao de inteligir, que se inicia pela atualizao do intelecto possvel. Assim, o conceito,
25
que emana do intelecto humano mediante a species inteligvel, denominado de verbo, isto ,
[...] aquilo que o intelecto concebe conhecendo.
26
Finalmente, a prpria operao de inteligir no
se identica com o termo dessa operao, isto , com o conceito.
Por um lado, o conceito ou o verbo mental, enquanto termo da ao imanente do inte-
lecto, pode ser considerado como aquilo que inteligido pelo intelecto: [...] o que primeiro
e por si inteligido, o que o intelecto nele mesmo concebe sobre a coisa inteligida, a denio ou o
afrmativam seu negativam. Haec autem conceptio intellectus in nobis proprie verbum dicitur: hoc enim
est quod verbo exteriori signicatur: vox enim exterior neque signicat ipsum intellectum, neque speciem
intelligibilem, neque actum intellectus, sed intellectus conceptionem qua mediante refertur ad rem.
23 Potncia um princpio de operao, quer ativo (vide, por exemplo, o intelecto agente), quer pas-
sivo/receptivo (vide o intelecto possvel). Nesse sentido, o intelecto possvel um princpio passivo da
operao de inteligir, pois sofre uma determinao ao receber a species inteligvel abstrada pelo intelecto
agente do fantasma.
24 Sobre a relao entre species inteligvel e conceito, ver os textos j citados: De Potentia, q. 8, a. 1,
ScG, I, 53. Na ScG, I, 53, Toms utiliza a noo de intentio intellecta ao invs de verbo mental ou conceito.
Na ScG, IV, 11, a noo de intentio intellecta denida e assimilada noo de verbo mental: Dico au-
tem intentionem intellectam id quod intellectus in seipso concipit de re intellecta. Quae quidem in nobis
neque est ipsa res quae intelligitur; neque est ipsa substantia intellectus; sed est quaedam similitudo
concepta in intellectu de re intellecta, quam voces exteriores signicant; unde et ipsa intentio verbum
interius nominatur, quod est exteriori verbo signicatum.
25 De Potentia, q. 8, a. 1: Haec autem conceptio intellectus in nobis proprie verbum dicitur [...].
26 ST, I, q. 34, a. 1, ad 2: Id enim quod intellectus in concipiendo format, est verbum.
RAUL LANDIM FILHO
74
volume 14
nmero 2
2010
enunciado, tendo em vista as duas operaes do intelecto que so indicadas (ponuntur) no De Anima
III.
27
Por outro lado, ao formar o conceito a partir da species inteligvel, o intelecto concebe uma
coisa ou, segundo a expresso de Toms na Suma contra os Gentios, [...] informado pela species
da coisa, ao inteligir, o intelecto forma nele mesmo uma certa inteno da coisa inteligida, que a
noo [ratio/conceito/razo] da prpria coisa que a denio [da coisa] signica.
28
Assim ca mais
claro o sentido da armao, aparentemente surpreendente, de Toms no De Veritate, q. 4, a.
2, ad 3: o conceito do intelecto o que (id quod) inteligido, mas tambm aquilo pelo qual a
coisa inteligida (id quo).
29
Conceito um intermedirio entre o intelecto e a coisa, pois a coisa
apreendida mediante o conceito; mas o conceito tambm aquilo que o intelecto em primei-
ro lugar intelige no termo da sua ao imanente, , pois, num certo sentido, um objeto para
o intelecto. Enquanto objeto do intelecto, o conceito apreende ou concebe uma coisa (a coisa
inteligida); pelo fato de ter sempre uma relao com a coisa que signica, o conceito torna o que
inteligido num objeto para o intelecto. De fato, Toms mostra que o conceito e o objeto (coisa
inteligida) so indissociveis: no h objeto para o intelecto sem conceito e no h conceito no
intelecto sem objeto. Pode-se ento armar que no existe objeto para o intelecto sem conceito
e se foi formado pelo intelecto um conceito, ele signica um objeto. Nesse sentido, o conceito
contm o seu objeto; ele um meio na medida em que nele est o objeto (medium in quo).
30
Sob
este aspecto, o objeto ou a coisa inteligida so entes intencionais, isto , existem no intelecto.
27 De Potentia, q. 9, a. 5: Hoc ergo est primo et per se intellectum, quod intellectus in seipso concipit
de re intellecta, sive illud sit denitio, sive enuntiatio, secundum quod ponuntur duae operationes intel-
lectus, in III de anima.
28 ScG, I, 53: [...] quod intellectus, per speciem rei formatus, intelligendo format in seipso quandam
intentionem rei intellectae, quae est ratio ipsius, quam signicat denitio.
29 Ad tertium dicendum, quod conceptio intellectus est media inter intellectum et rem intellectam,
quia ea mediante operatio intellectus pertingit ad rem. Et ideo conceptio intellectus non solum est id
quod intellectum est, sed etiam id quo res intelligitur; ut sic id quod intelligitur, possit dici et res ipsa, et
conceptio intellectus [...].
30 J. Maritain, no seu livro Les Dgrs du Savoir (1958, p. 240), exprime clara e precisamente a relao
entre conceito e objeto: Lobjet existe dans le concept et est atteint dans le concept en ce sens quen
profrant le concept [...] lacte immanent dintellection atteint par l mme et immediatement lobjet et
latteint revtu des conditions du concept ; et cela mme nest possible que parce que le concept nest
signe, vicaire ou similitude, de lobjet qua titre de signe formel [...].
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
75
volume 14
nmero 2
2010
Mas o conceito tambm uma similitude de coisas materiais, singulares, que existem na natu-
reza. Essa questo ser posteriormente abordada.
O termo da primeira operao do intelecto (verbo mental ou conceito) pode ser decom-
posto em dois elementos que se imbricam mutuamente: a coisa que inteligida e o processo de
inteleco, considerado independentemente da coisa inteligida (ST, I, q. 85, a. 2, ad 2). O pro-
cesso de inteleco teve como ponto de partida a operao de abstrao e como consequncia
a produo de um universal. Considerar o universal no intelecto independentemente da coisa
inteligida, abstrada e universalizada, o que Toms denomina de inteno de universalidade
(ST, I, q. 85, a. 3, ad 1). Todo conceito tem, assim, uma inteno de universalidade, o que signi-
ca que as coisas que esto no intelecto por terem sido abstradas e serem, em consequncia,
universais tm uma relao com muitos, isto , podem ser atribudas a muitos.
31
Da mesma
maneira, pode-se considerar a natureza da coisa inteligida independentemente da sua inteno
de universalidade no conceito.
O conceito assim um universal abstrato:
32
uma quididade (propriedade inteligvel ou
natureza) com inteno de universalidade. O objeto do conceito, a quididade ou a propriedade
inteligvel, est no conceito e por isso tem uma inteno de universalidade. Assim, o concei-
to pode ser analisado quer do ponto de vista da operao de inteligir e, ento, analisada a
inteno de universalidade do conceito, quer do ponto de vista da coisa inteligida e, ento,
analisada a quididade ou natureza do objeto do conceito. Mas em ambos os casos, trata-se de
um modo de considerar ou de decompor o conceito, seja pelo seu aspecto universal (inteno
31 Ver Pedro de Espanha 1972, Tratado 1: Dos Predicveis: Donde se segue que, propriamente con-
siderado, predicvel o mesmo que universal, mas diferem no fato de que o predicvel se dene pelo
dizer e o universal pelo ser. Com efeito, predicvel o que naturalmente apto a ser dito de muitos. Mas
universal o que naturalmente apto a ser em muitos. Toms de Aquino, Sententia libri Metaphysicae,
lib. 7, l. 13, n. 7: Sed universale est commune multis, hoc enim dicitur universale, quod natum est multis
inesse et de multis praedicari. Ver tambm ST, I, q. 85, a. 3, ad 1: Et cum intentio universalitatis, ut sci-
licet unum et idem habeat habitudinem ad multa [...].
32 ST, I, q. 85, a, 2, ad 2: Et similiter cum dicitur universale abstractum, duo intelliguntur, scilicet ipsa
natura rei, et abstractio seu universalitas. Ipsa igitur natura cui accidit vel intelligi vel abstrahi, vel intentio
universalitatis, non est nisi in singularibus; sed hoc ipsum quod est intelligi vel abstrahi, vel intentio uni-
versalitatis, est in intellectu.
RAUL LANDIM FILHO
76
volume 14
nmero 2
2010
de universalidade), seja pela sua quididade (natureza ou propriedade inteligvel e intencional)
no intelecto. Portanto, no termo da ao do intelecto (intelecto em ato), o conceito e o seu ob-
jeto esto mutuamente imbricados, o que no impede que um no possa ser considerado sem
o outro pelo mtodo de decomposio do prprio conceito.
A armao de que o conceito (ou verbo mental), enquanto termo da primeira operao
do intelecto, pode ser considerado como objeto do intelecto parece contradizer uma tese de
Toms anteriormente enunciada: a species inteligvel no o que inteligido em ato, mas aquilo
pelo qual o intelecto intelige. Essa tese expressa na Suma, repetida no Comentrio ao De Anima
33
e em outros textos, habitualmente interpretada como signicando que o conceito aquilo que
faz conhecer o objeto e, enquanto tal, no o objeto conhecido diretamente pela operao do
intelecto. A species ou o conceito s poderiam ser conhecidos como objeto mediante um ato re-
exivo do intelecto sobre seu ato de inteligir: mediante outro ato de inteligir, o intelecto visaria
o seu ato, j exercido, de inteligir.
34
No entanto, Toms nesses textos no arma que o conceito ou o verbo mental no so
objetos; mostra apenas que a species inteligvel uma modicao ou paixo do intelecto
35
(o
ato de nele ser impresso um inteligvel abstrato) e, enquanto tal, no o objeto conhecido pelo
ato direto de inteleco. De fato, nos artigos que mostram que a species no o objeto do ato di-
reto de inteligir argumentado que se as species inteligveis fossem objetos do conhecimento, a
cincia humana no versaria sobre coisas extra-mentais, mas sobre as modicaes do intelecto
e da no haveria conhecimento propriamente dito de objetos, mas apenas conhecimento de
estados subjetivos ou de intenes inteligveis. Ora, este argumento s tem validade se aplica-
do s species impressas inteligveis e, portanto, ele no exclui a possibilidade de que os conceitos
ou as species expressas inteligveis, enquanto termos do ato de inteligir, sejam considerados
como objetos do ato direto do intelecto.
33 ST, I, q. 85, a. 2 e Sentencia Libri de Anima, L. III, c. 2 [ed. Leonina].
34 ST, I, q. 85, a. 2: Sed quia intellectus supra seipsum reectitur, secundum eandem reexionem
intelligit et suum intelligere, et speciem qua intelligit.Ver tambm o texto j citado ST, I, q. 76, a. 2, ad 4.
35 Paixo o ato do sujeito de receber uma determinao. Por isso, a atualizao do intelecto possvel
pela species inteligvel , sob este aspecto, uma paixo do intelecto.
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
77
volume 14
nmero 2
2010
O conceito, arma repetidamente Toms, uma similitude da coisa.
36
Segundo Toms,
similitude
37
tem um duplo sentido: [a] como concordncia na natureza, isto , concordncia
entre dois termos em razo de suas propriedades terem a mesma forma ou forma anloga ou
[b] como semelhana por representao. Obviamente, o ato cognitivo no exige uma similitude
por natureza, mas por representao. Mas o que signica semelhana por representao?
Toms explica no De Veritate, q. 10, a. 4, ad 4 que semelhana por representaosignica
concordncia na ratio:
[] embora na mente no existam seno formas imateriais, contudo elas podem ser simi-
litudes das coisas materiais. Com efeito, no necessrio que a similitude tenha o modo de
ser daquilo do qual ela similitude, mas somente que convenham na razo, assim como a
forma do homem na esttua de ouro e a forma do homem que tem ser de carne e osso.
38
Apesar da multiplicidade de sentidos do termo ratio na losoa de Toms, concordncia
na ratio parece signicar que o conceito exprime intencionalmente, de maneira implcita ou
explcita, as propriedades contidas realmente na coisa inteligida que podem ser expressas pela
denio da prpria coisa.
36 So inmeros os textos em que Toms usa o termo similitudo, quer nas suas obras de juventude, como o
De Veritate, quer nas suas obras de maturidade, como o De Potentia, a Suma contra os Gentios e a Suma de Teologia.
Sobre os diversos usos do termo similitude, ver Pannacio 2002, item From identity to similarity, pp. 15-18.
37 De Veritate, q. 2, a. 3, ad 9: Ad nonum dicendum, quod similitudo aliquorum duorum ad invicem
potest dupliciter attendi. Uno modo secundum convenientiam in natura; et talis similitudo non requiritur
inter cognoscens et cognitum [...] [.] Alio modo quantum ad repraesentationem; et haec similitudo requiri-
tur cognoscentis ad cognitum.Ver tambm, De Veritate, q. 2, a. 5, ad 5 e ad 7: Ad quintum dicendum, quod
ad cognitionem non requiritur similitudo conformitatis in natura, sed similitudo repraesentationis tantum;
sicut per statuam auream ducimur in memoriam alicuius hominis.; Ad septimum dicendum, quod ap-
plicatio cogniti ad cognoscentem, quae cognitionem facit, non est intelligenda per modum identitatis, sed
per modum cuiusdam repraesentationis; unde non oportet quod sit idem modus cognoscentis et cogniti.
38 Ad quartum dicendum, quod quamvis in mente non sint nisi immateriales formae, possunt ta-
men esse similitudines materialium rerum. Non enim oportet quod eiusmodi esse habeat similitudo et
id cuius est similitudo, sed solum quod in ratione conveniant; sicut forma hominis in statua aurea, quale
esse habet forma hominis in carne et ossibus.
RAUL LANDIM FILHO
78
volume 14
nmero 2
2010
Mas o que autorizaria Toms armar que o conceito uma similitude?
O processo cognitivo interpretado como uma assimilao da coisa e se inicia, segundo
Toms, pela ao das coisas externas sobre os sentidos externos do sujeito cognoscente. As im-
presses recebidas pelos sentidos externos so as qualidades sensveis ou as formas acidentais
das coisas externas. Essas formas esto nos sentidos (atualizadas) intencionalmente, como spe-
cies sensveis. A species sensvel, apesar de ser imaterial enquanto ente intencional, preserva as
condies materiais da coisa signicada, isto , seus princpios individuantes, em razo da sua
dependncia das modicaes corporais:
[...] sentidos e imaginao so potncias ligadas aos rgos corporais e da as similitudes
das coisas so recebidas nelas [imaginao e sentido] materialmente, isto , com condies
materiais, embora sem matria, razo pela qual conhecem o singular.
39
Com efeito, como o sentir depende do corpo, e como o corpo, a matria, princpio de
individuao e de identicao das coisas corporais, pelo fato de depender dos rgos corpo-
rais, a species sensvel signo das qualidades singulares das coisas que produziram nos sentidos
externos as modicaes corporais.
O processo do conhecimento sensvel termina pela produo da imagem sensvel, que
uma similitude de coisas particulares De fato, os sentidos internos, atravs de suas diversas
funes (memria, senso comum, cogitativa e imaginao), organizam em forma de imagem as
qualidades sensveis recebidas pelos sentidos externos. Essas qualidades so sintetizadas como
qualidades sensveis de algo sensvel singular. A imagem sempre imagem de algo singular,
no substancial, com suas qualidades acidentais. Isso autoriza Toms de Aquino a considerar
que a imagem (fantasma)
40
uma similitude daquilo que ela representa.
39 De Veritate, q. 2, a. 6, ad 2: Ad secundum dicendum, quod sensus et imaginatio sunt vires organis
afxae corporalibus; et ideo similitudines rerum recipiuntur in eis materialiter, id est cum materialibus
conditionibus, quamvis absque materia, ratione cuius singularia cognoscunt.
40 ST, I, q. 84, a. 7, ad 2 e Sentencia Libri De Anima, L. III, c. 7 [ed. Leonina]: Phantasmata enim sunt
similitudines sensibilium.
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
79
volume 14
nmero 2
2010
Mas, como as coisas so particulares em razo da dependncia do corpo, em particular,
do princpio de individuao, e como o princpio de individuao um princpio refratrio
inteligibilidade, a imagem sensvel no inteligvel em ato. Ela deve ser submetida ao
processo abstrativo, que consiste, nesse caso,
41
em deixar de lado os princpios materiais
refratrios inteligibilidade da coisa imaginada. Ao no considerar os princpios materiais
representados pela imagem sensvel, o processo abstrativo produz uma species inteligvel em
ato que no preserva mais os princpios individuantes da coisa imaginada, pois a matria
assinalada
42
foi deixada de lado pelo processo abstrativo. A matria, que refratria inte-
ligibilidade , ao mesmo tempo, princpio de individuao. Assim, a abstrao, ao produzir
uma species inteligvel, produziu ipso facto um universal ou um inteligvel em ato. Mas esse
inteligvel em ato, a species inteligvel, tambm uma similitude em razo da natureza do
processo abstrativo: o inteligvel em ato foi extrado, pelo intelecto agente, da imagem sen-
svel que, por sua vez, uma similitude de algo singular, embora seja inteligvel apenas em
potncia. Da mesma maneira, o conceito, formado a partir da species inteligvel, pode ser
uma similitude
43
de uma coisa.
O que concebido mediante o conceito um objeto intencional. Em razo do processo
abstrativo, o objeto do conceito no singular; uma quididade ou uma propriedade inteligvel
que existe de modo abstrato e universal no conceito.
44
41 Nesse caso, o processo abstrativo denominado de abstrao do todo (De Trinitate, q. 5, a. 3) ou abstra-
o do universal a partir do particular (ST, I, q. 85, a.1, ad 1). Sobre o processo abstrativo, ver os meus artigos
Landim Filho 2008 e 2008a.
42 Matria assinalada a matria que pode ser apontada, designada (considerada sob dimenses
determinadas), e que, no O Ente e a Essncia, c. II, considerada no s como princpio de identicao
do indivduo, como tambm como princpio de individuao da forma substancial.
43 ScG, I, 53: Per hoc enim quod species intelligibilis quae est forma intellectus et intelligendi princi-
pium, est similitudo rei exterioris, sequitur quod intellectus intentionem formet illi rei similem: quia quale
est unumquodque, talia operatur. Et ex hoc quod intentio intellecta est similis alicui rei, sequitur quod
intellectus, formando huiusmodi intentionem, rem illam intelligat.
44 ST I, q. 85. a. 6: Objectum autem proprium intellectus est quidditas rei.; De Trinitate q. 5, a.2,
ad 2: [...] objectum enim intellectus est quid, ut dicitur in III De Anima. Ver tambm Sentencia Libri de
Anima, L. III, 2 [ed. Leonina].
RAUL LANDIM FILHO
80
volume 14
nmero 2
2010
Em diversos textos, Toms arma que o objeto prprio do intelecto a quididade. Con-
tudo, na maioria dos seus textos, armado que o objeto prprio do intelecto humano a qui-
didade das coisas materiais. Num sentido trivial, essa armao justicada pelo fato de que
no existe universal fora da alma e, portanto, a quididade signicada pelo conceito tem uma
existncia universal no conceito e singular nas coisas materiais. Assim, a expresso quididade
das coisas materiaissignicaria que a quididade universal no intelecto s pode ter uma exis-
tncia singular fora da alma.
Outra justicao da tese de que os objetos do intelecto so as quididades das coisas ma-
teriais possvel e talvez seja mais convincente.
No De Veritate, q. 10, a. 2, ad 7 e em vrios outros textos, Toms arma que a inteleco em
ato envolve a converso ao fantasma: Embora [quantumcumque] o intelecto tenha em si alguma
species inteligvel, jamais considera algo em ato segundo esta species, a no ser se convertendo ao
fantasma.
45
Essa tese no uma formulao apenas do jovem Toms. Na Suma I, q. 85, a. 5, ad 2,
45 [...] quantumcumque aliquam speciem intelligibilem apud se intellectus habeat, nunquam tamen
actu aliquid considerat secundum illam speciem, nisi convertendo se ad phantasma. Et ideo, sicut intel-
lectus noster secundum statum viae indiget phantasmatibus ad actu considerandum antequam accipiat
habitum, ita et postquam acceperit; [...]. Ver a mesma armao em ST, I, q. 85, a. 1, ad 5: Ad quintum
dicendum quod intellectus noster et abstrahit species intelligibiles a phantasmatibus, inquantum consi-
derat naturas rerum in universali; et tamen intelligit eas in phantasmatibus, quia non potest intelligere
etiam ea quorum species abstrahit, nisi convertendo se ad phantasmata, ut supra dictum est. Ver tam-
bm De Veritate, q. 18 a. 8 ad 4: Ad quartum dicendum, quod secundum philosophum in III de anima,
intellectiva comparatur ad phantasmata sicut ad obiecta. Unde non solum indiget intellectus noster con-
verti ad phantasmata in acquirendo scientiam, sed etiam in utendo scientia acquisita; [...]; ST, I, q. 84, a.
7: Respondeo dicendum quod impossibile est intellectum nostrum, secundum praesentis vitae statum,
quo passibili corpori coniungitur, aliquid intelligere in actu, nisi convertendo se ad phantasmata. Senten-
cia Libri De Anima, L. III, c. 7 [ed. Leonina]: [...] sed oportet, cum aliquis speculatur in actu, quod simul
formet sibi aliquod phantasma. Grifo meu. Ainda, Quaestiones Disputatae de Anima, q. 15: Non enim
possumus considerare etiam ea quorum scientiam habemus, nisi convertendo nos ad phantasmata, licet
ipse contrarium dicat; ScG, II, 73: Sed post speciem in eo receptam, indiget eo quasi instrumento sive
fundamento suae speciei: unde se habet ad phantasmata sicut causa efciens; secundum enim imperium
intellectus formatur in imaginatione phantasma conveniens tali speciei intelligibili, in quo resplendet
species intelligibilis sicut exemplar in exemplato sive in imagine.Notar que em todas as passagens cita-
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
81
volume 14
nmero 2
2010
ela reiterada: [...] o intelecto no s abstrai dos fantasmas, como tambm no intelige em ato a no
ser se convertendo ao fantasma.
Se a inteleco em ato supe a converso ao fantasma, segue-se que o termo da ao da
primeira operao do intelecto, a formao do conceito ou do verbo mental, no uma condi-
o suciente para a realizao do ato de inteleco, embora seja uma condio necessria.
bem verdade que a tese da necessidade da converso ao fantasma suscita esclarecimen-
tos face s reiteradas armaes de Toms de que o intelecto conhece diretamente o universal
e indiretamente, por uma certa reexo, o singular.
46
Toms tambm no descreve qualquer
operao especca do intelecto que corresponda converso ao fantasma. Indica apenas que
a mera conservao das species no intelecto possvel a modo de hbitono suciente para a
inteleco em ato. Para usar as species necessrio convert-las aos fantasmas.
47
Nesse sentido,
no descabida a armao de Kretzmann de que a converso ao fantasma seria, quando mui-
to, uma mera orientao do intelecto.
48
Para as interpretaes clssicas do tomismo, o retorno ao fantasma seria necessrio
para explicar o conhecimento pelo intelecto do singular.
49
Uma mesma faculdade, o intelecto,
conhece de duas maneiras diferentes: o singular e a quididade; conhece diretamente a quidida-
de universalizada e o singular por uma certa reexo.
50
Um texto do De Veritate exemplar sobre essa questo:
das nessa nota, para indicar o retorno ao fantasma, Toms usa a expresso converso ao fantasmae no
o termo reexo.
46 A tese do conhecimento indireto do singular j est presente nos textos de juventude de Toms
(vide, por exemplo, De Veritate, q. 2, a. 6), mas se encontra tambm nos textos de maturidade (vide, por
exemplo, Sentencia Libri de Anima, III, c. 2 [ed. Leonina] e ST, I, q. 86, a. 1).
47 ST, I, q. 84, a. 7, ad 1; Sentencia Libri De Anima, L.III, c. 7 [ed. Leonina]: [...] sed oportet, cum ali-
quis speculatur in actu, quod simul formet sibi aliquod phantasma.Grifo meu.
48 A converso ao fantasma [...] no algo que o intelecto tenha que fazer e refazer, mas a sua
orientao cognitiva essencial.(Kretzmann 1993, p.142).
49 Vide o comentrio de Cajetano a ST, I, q. 86, a. 1, publicado na 1 edio Leonina da Suma.
50 Ver Sentencia Libri de Anima, III, c. 2 [ed. Leonina].
RAUL LANDIM FILHO
82
volume 14
nmero 2
2010
[...] e assim a mente conhece o singular por uma certa reexo, a saber, a mente conhecen-
do seu objeto, que alguma natureza universal, retorna cognio do seu ato, em seguida
(ulterius) species que princpio do seu ato e em seguida ao fantasma da qual a species foi
abstrada e assim adquire uma certa cognio do singular.
51
O conhecimento do singular se realiza em atos sucessivos (realados no texto pelas duas
ocorrncias de ulterius): conhecimento do objeto (quididade universal), do ato de inteligir
diretamente o universal, em seguida da species, em seguida do fantasma do qual foi extrada a
species, e, graas ao fantasma, intelige, de uma certa maneira, o singular. Cada uma desses atos
tem um objeto especco: a quididade universal, o ato de inteligir o universal, a species abstrada
do fantasma, o fantasma do qual se extraiu a species e, graas ao fantasma, intelige-se o singular
do qual o fantasma uma similitude. O que diretamente apreendido pelo intelecto o uni-
versal. Segue-se que o conhecimento pelo intelecto do singular indireto, pois supe no s
o exerccio do ato direto de conhecer o universal, mas tambm o retorno, mediante uma uma
certa reexosobre os diferentes itens envolvidos na realizao do ato direto do conhecimento,
formando, dessa maneira, uma cadeia regressiva que se inicia com o conhecimento do universal
e termina no fantasma, que uma similitude de algo singular.
52
51 De Veritate, q. 10, a. 5: [...] et sic mens singulare cognoscit per quamdam reexionem, prout scilicet
mens cognoscendo obiectum suum, quod est aliqua natura universalis, redit in cognitionem sui actus, et
ulterius in speciem quae est sui actus principium, et ulterius in phantasma a quo species est abstracta; et
sic aliquam cognitionem de singulari accipit. Ver tambm Quaestiones Disputatae de Animae, q. 20, ad 1:
Ad primum quorum dicendum est quod anima coniuncta corpori per intellectum cognoscit singulare,
non quidem directe, sed per quamdam reexionem; in quantum scilicet ex hoc quod apprehendit suum
intelligibile, revertitur ad considerandum suum actum et speciem intelligibilem quae est principium suae
operationis, et eius speciei originem. Et sic venit in considerationem phantasmatum et singularium, qu-
orum sunt phantasmata. Sed haec reexio compleri non potest nisi per adiunctionem virtutis cogitativae
et imaginativae, quae non sunt in anima separata.
52 Algumas vezes a reexo ou a conscincia de um ato implica a realizao de um outro ato. o
que arma Toms na ST, I, q. 87, a. 3, ad 2: Unde alius est actus quo intellectus intelligit lapidem, et alius
est actus quo intelligit se intelligere lapidem, et sic inde. Porm, no De Veritate, I, q. 9, a reexo (de-
nominada de reexo completa) constitutiva do ato direto de julgar: julgar envolve a conscincia da
conformidade do intelecto coisa conhecida, envolve, portanto, reexo; porm, neste caso, a reexo
no envolve a realizao de um outro ato. Ver tambm sobre essa questo ST, I, q. 16, a. 2. Sobre a noo
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
83
volume 14
nmero 2
2010
No entanto, devem ser distinguidas as condies da inteleco em ato (que envolve a
converso ao fantasma) do conhecimento do singular (que envolve uma reexo sobre atos su-
cessivos). Converso no signica reexo no sentido em que reexo ou uma certa reexo
foram utilizados para explicar o conhecimento do singular. O que parece caracterizar a conver-
so, segundo a expresso de Toms, ver a species inteligvel no fantasma: [...] pois conatural
ao homem que veja as species inteligveis nos fantasmas [...].
53
B. Lonergan prope, no seu livro j citado, o seguinte esclarecimento sobre a relao entre
os termos converso e uma certa reexo: a converso uma condio da inteleco em ato e
autorizaria a tese de Toms de que o objeto prprio da inteleco no to somente a quididade
ou a propriedade inteligvel expressa pelo conceito, mas a quididade das coisas materiais; a
reexo, por sua vez, necessria para o conhecimento do singular e implica um retorno re-
exivo sobre ato direto do intelecto e sobre uma srie de outros atos, o que no ocorre com a
converso ao fantasma.
54
Obviamente, converso no signica inteligir o prprio fantasma, que o produto das
operaes dos sentidos internos, nem signica armar que, graas s species, o fantasma se
torna inteligvel, pois, nesse caso, o singular, representado pelo fantasma, seria inteligvel.
55
de reexo, ver Putalllaz 1991, cap. IV: Les Diverses Formes de Rexion, pp. 115-208.
53 Ver ST, II, II, q. 180, a. 5, ad. 2: [...] quia connaturale est homini ut species intelligibiles in phan-
tasmatibus videat, sicut philosophus dicit, in III de anima [...]. Ver tambm ST, I, q. 85, a. 1 ad 5: Ad
quintum dicendum quod intellectus noster et abstrahit species intelligibiles a phantasmatibus, inquan-
tum considerat naturas rerum in universali; et tamen intelligit eas in phantasmatibus, quia non potest
intelligere etiam ea quorum species abstrahit, nisi convertendo se ad phantasmata, ut supra dictum est.
54 Lonergan 2005, p. 170: [...] a converso ao fantasma necessria para conhecer a quididade, ob-
jeto prprio do intelecto humano, mas a reexo sobre o fantasma pressupe no somente a converso,
mas tambm o conhecimento da quididade: ela requerida no para o conhecimento do objeto prprio,
mas somente para o conhecimento do objeto indireto, o singular.
55 Sentencia Libri De Anima, L. III, c. 7 [ed. Leonina]: Secundo ibi primi autem inquirit in quo diffe-
rant primi intellectus, idest intelligentiae indivisibilium, cum non sint phantasmata. Et respondet, quod
non sunt sine phantasmatibus, sed tamen non sunt phantasmata, quia phantasmata sunt similitudines
particularium, intellecta autem sunt universalia ab individuantibus conditionibus abstracta: unde phan-
tasmata sunt indivisibilia in potentia, et non in actu.
RAUL LANDIM FILHO
84
volume 14
nmero 2
2010
A converso ao fantasma a inteleco da similitude universalizada no particular sensvel; mas
no ainda um conhecimento do singular representado pelo fantasma. A converso conecta
o universal ao particular, o inteligvel ao sensvel, o conceito ao fantasma. O conhecimento do
singular pressupe a converso e, atravs do fantasma, o conceito representa o singular do qual
se tem o fantasma. Essa parece ser a funo da converso ao fantasma na Suma, I, q. 86, a. 1,
quando explicado que o conhecimento do singular pressupe a converso ao fantasma, isto ,
a inteleco das species inteligveis nos fantasmas. A converso , assim, uma etapa do conhe-
cimento do singular.
No , pois, implausvel a armao de Toms (em alguns poucos textos) de que, o objeto
do intelecto o prprio fantasma:
[...] como diz o lsofo no De Anima III: os fantasmas esto para alma intelectiva assim
como os objetos sensveis para os sentidos. Mas da mesma maneira que as cores no so
visveis seno em razo da luz, os fantasmas no so inteligveis em ato seno pelo inte-
lecto agente.
56
Mas, se os fantasmas, conectados pela converso s species inteligveis, podem ser consi-
derados, em certo sentido, como objetos do intelecto, enquanto objetos, eles so tambm meios
de conhecimento do singular, pois, atravs deles, as coisas singulares, das quais os fantasmas
so similitudes, podem ser visadas. Escreve Toms no De Veritate:
O nosso intelecto no presente estado se relaciona (comparatur) aos fantasmas assim como
a viso s cores, como dito no De Anima III, no certamente que [o intelecto] conhea os
prprios fantasmas como a viso conhece as cores, mas conhece as coisas das quais se tm
os fantasmas.
57
56 Quaestiones Disputatae de Anima, q. 15: [...] ut dicit philosophus in III de anima: intellectivae ani-
mae phantasmata sunt sicut sensibilia sensui. Sed sicut colores non sunt visibiles actu nisi per lumen, ita
phantasmata non sunt intelligibilia actu nisi per intellectum agentem.
57 De Veritate, q. 10, a. 9: Intellectus autem noster in statu viae hoc modo comparatur ad phantas-
mata sicut visus ad colores, ut dicitur in III de anima: non quidem ut cognoscat ipsa phantasmata ut visus
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
85
volume 14
nmero 2
2010
A converso ao fantasma prolonga o ato direto do intelecto de formar o universal. No
entanto, a converso no constitutiva deste ato, pois a produo do universal um ato
especco do intelecto. Tambm no pode ser assimilada reexo que caracteriza o conhe-
cimento do singular, pois o conhecimento do singular requer a realizao de diferentes atos.
A converso, sem ser uma operao especca do intelecto, parece fornecer ao conceito um
suporte intencional singular que todo o universal abstrato exige para ser determinado.
58
No
, pois, surpreendente a observao de tomistas com perspectivas to diferentes, como Lo-
nergan
59
e Kretzmann
60
, que explicam a converso como uma inclinao ou uma orientao
natural do intelecto.
Podemos, ento, armar que o objeto do intelecto humano a quididade expressa no
conceito e que, graas ao fantasma, o objeto da inteleco a quididade das coisas materiais,
isto , a quididade universalizada e inteligida no fantasma.
Sintetizaremos, em seguida, as teses apresentadas nesse artigo.
[1] O ato imanente de inteligir tem como seu princpio a species inteligvel e como seu
termo o conceito ou o verbo mental. O conceito exprime uma quididade ou propriedade inteli-
gvel com inteno de universalidade. No h conceito que no expresse um objeto (quididade)
e no h objeto quididativo que no seja apreendido mediante um conceito. Sob este aspecto, o
objeto existe intencionalmente no conceito. possvel, porm, considerar o objeto (a quididade
ou propriedade inteligvel) sem a inteno de universalidade que o acompanha no intelecto. o
que ocorre quando se arma que o objeto prprio do intelecto humano a quididade.
[2] Enquanto termo da primeira operao do intelecto, o conceito pode ser considerado
como um id quod, o que inteligido, pois exprime ou exibe no intelecto um objeto quididativo
intencional, que, por sua vez, no pode ser apreendido sem o conceito que o exibe.
cognoscit colores, sed ut cognoscat ea quorum sunt phantasmata. Ver tambm De Veritate, q. 2, a. 6,
onde feita uma comparao do fantasma com o espelho: v-se as coisas mediante o espelho.
58 De Veritate q. 10, a. 6, ad 7: [...] et ideo intellectus possibilis recipit formas ut intelligibiles actu, ex
virtute intellectus agentis, sed ut similitudines determinatarum rerum ex cognitione phantasmatum.
59 Lonergan 2005, p. 171.
60 Kretzmann 1993, p.142.
RAUL LANDIM FILHO
86
volume 14
nmero 2
2010
[3] Porm, para que ocorra uma inteleco em ato, necessria a converso do conceito ao
fantasma. A species , ento, inteligida no fantasma. Segue-se da que o objeto prprio da inte-
leco, que envolve a converso ao fantasma, a quididade das coisas materiais.
[4] Graas converso do conceito ao fantasma, as coisas, mediante suas quididades
concretizadas, so representadas. Sob este aspecto, o conceito poderia ser considerado um
intermedirio entre o intelecto e o objeto da inteleco: atravs do conceito, a quididade univer-
salizada, que ele contm e exprime, inteligida e concretizada no fantasma.
61
Como a species
inteligvel uma similitude universalizada, obtida por abstrao do fantasma, segue-se que
o conceito, formado a partir da species e termo do ato de inteligir, tambm uma similitude
intencional e universal do objeto de inteleco.
62
Nesse sentido, alm de ser um id quod (en-
quanto termo da apreenso intelectual), o conceito tambm um meio no qual (medium in quo)
o objeto da inteleco signicado.
Assim, a teoria gnosiolgica de Toms poderia ser interpretada como um tipo de re-
presentacionalismo no inferencial. Graas operao mental de formao do conceito e de
converso ao fantasma so produzidas representaes ou similitudes intencionais de objetos
para os quais o conhecimento humano, dependente do sensvel, est prioritariamente voltado.
Estas operaes so condies necessrias para a apreenso das coisas, isto , mediante elas
ou por intermdio delas as coisas so apreendidas, embora no seja preciso que o termo ou o
produto dessas operaes mentais seja reconhecido como objeto para exercer sua funo de
meio de conhecimento.
Nem a identidade de formas nem a existncia de uma forma comum, cujas instncias
teriam modos de ser diferentes (intencionais e naturais), precisam ser postuladas para explicar,
segundo Toms, o papel do conceito na inteleco dos objetos do conhecimento.
61 ST, I, q. 85, a. 1, ad 5: Ad quintum dicendum quod intellectus noster et abstrahit species intel-
ligibiles a phantasmatibus, inquantum considerat naturas rerum in universali; et tamen intelligit eas in
phantasmatibus, quia non potest intelligere etiam ea quorum species abstrahit, nisi convertendo se ad
phantasmata, ut supra dictum est.
62 ScG, I, 53: Per hoc enim quod species intelligibilis quae est forma intellectus et intelligendi princi-
pium, est similitudo rei exterioris, sequitur quod intellectus intentionem formet illi rei simile
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
87
volume 14
nmero 2
2010
RESUMO
A partir das questes suscitadas pelo debate atual entre realistas diretos e representacionalistas na interpretao
da teoria do conhecimento de Toms de Aquino, o artigo analisa as relaes entre conceito e objeto, segundo a
perspectiva tomsica. O conceito, enquanto termo da primeira operao do intelecto, um id quod, mas tam-
bm um medium in quo, enquanto exprime o objeto que contm intencionalmente. No entanto, a inteleco
do objeto requer ainda a converso ao fantasma, que consiste em inteligir no fantasma a quididade universa-
lizada e expressa pelo conceito. Em razo da natureza e da funo do conceito e da sua relao com o objeto e
do papel da converso ao fantasma, legtimo interpretar a teoria gnosiolgica de Toms como uma espcie de
representacionalismo no inferencial.
Palavras-chave: Toms de Aquino, conceito, objeto, fantasma, representacionalismo, realismo direto.
ABSTRACT
From the issues raised by the current debate between direct realists and representationalists on the interpre-
tation of Thomas Aquinass theory of knowledge, the present paper analyses the relationship between concept
and object according to Aquinass perspective. Insofar as it is a termination of the rst intellects operation,
the concept is a id quod, but it is also a medium in quo insofar as it presents the object which it intentionally
possesses. However, the intellection of the object still needs the conversion to the phantasm, in which the
universalized quiddity, expressed through the concept, is apprehended. Due to the nature and function of the
concept and its relation with the object, and to the role played by the conversion to the phantasm as well, it is
legitimate to interpret Aquinass gnosiological theory as a kind of non inferential representationalism.
Keywords: Thomas Aquinas, concept, object, phantasm, representationalism, direct realism.
RAUL LANDIM FILHO
88
volume 14
nmero 2
2010
Referncias bibliogrfcas
DESCARTES, R. 1973. Carta a Gibieuf, de 19 de janeiro de 1642. In: Oeuvres Philosophiques de Descartes
(OPD), ed. F. Alqui, Paris: Garnier, 1973, v. II.
JOO DE ST. TOMS 1955. The Material Logic of John of St. Thomas (Cursus Philosophicus Thomisticus, v.
I, Ars Logica), Chicago: The University of Chicago Press.
KENNY, A. 2002. Intentionality: Aquinas and Wittgenstein. In: Thomas Aquinas. Contemporary Philosophi-
cal Perspectives, ed. B. Davies, Oxford: Oxford University Press, pp. 243-256.
KRETZMANN, N. 1993. Philosophy of Mind. In: The Cambridge Companion to Aquinas, org. N. Kretz-
mann e E. Stump, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 128-159.
KRETZMANN, N. 1998. The Metaphysics of Creation. Oxford: Oxford Clarendon Press.
LANDIM FILHO, R. 2008. A Questo dos Universais segundo a Teoria da Abstrao Tomista. Analytica v.
12, n 2, pp. 11-33.
LANDIM FILHO, R. 2008a. Observaes sobre a Questo do Universal em Toms de Aquino. In: Tenses
e Passagens, ed. D. T. Peres et al., So Paulo, Editora Singular/Esfera Pblica, pp. 131-145.
LONERGAN, B. 1966. La notion de Verbe dans les crits de saint Thomas dAquin (Bibliothque des Archives
de Philosophie), Paris: Beauchesne.
LONERGAN, B. 2005. Verbum: Word and Ideas in Aquinas. Toronto: Toronto University Press.
MARITAIN, J. 1958. Les Dgrs du Savoir. 6 edio, Paris: Descle de Brouwer.
MICHON, C. 2007. Lespce et le verbe. La question du ralisme direct chez Thomas dAquin, Guillaume
dOckham et Claude Panaccio. In: Questions sur lintentionnalit, ed. L. Couloubaritsis e A. Mazz, Bruxel-
les: Ousia, pp. 125-155.
PANACCIO, C. 2000. Aquinas on Intellectual Representation. Cahiers dpistmologie 265, pp. 3-21 [reim-
presso em Ancient Theories of Intentionality, ed. D. Perler, Leiden/Boston/Kln: Brill, 2001, pp. 185-201].
PEDRO DE ESPANHA 1972. Tractatus Summule Logicales, ed. L. M. De Rijk, Assen: Van Gorcum.
PERLER, D. 2000. Essentialism and Direct Realism: Some Late Medieval Perspectives. Topoi 19, pp. 111-122.
PUTALLAZ, F.-X. 1991. Le Sens de la Rexion chez Thomas dAquin, Paris: Vrin.
Recebido em 04/2011
Aprovado em 05/2011
CONCEITO E OBJETO EM TOMS DE AQUINO
Você também pode gostar
- Análise Crítica Da Narrativa - Luiz Gonzaga MottaDocumento56 páginasAnálise Crítica Da Narrativa - Luiz Gonzaga MottaUlissesStefanelloKarnikowski100% (5)
- Competência Socioemocional - Atividade Avaliativa - Passei DiretoDocumento6 páginasCompetência Socioemocional - Atividade Avaliativa - Passei DiretoPaulo Renzo Guimaraes Junior0% (1)
- Meinong, Teoria Do ObjetoDocumento6 páginasMeinong, Teoria Do ObjetoLucas GonçalvesAinda não há avaliações
- Apostila Geral de Filosofia - 1° Ano - 3° Bim - 2019Documento15 páginasApostila Geral de Filosofia - 1° Ano - 3° Bim - 2019LUCIELE DA SILVAAinda não há avaliações
- Matrizes Epistemológicas Contemporâneas Da PsicologiaDocumento7 páginasMatrizes Epistemológicas Contemporâneas Da PsicologiaLeo NascimentoAinda não há avaliações
- A Epistemologia TomistaDocumento20 páginasA Epistemologia TomistamubAinda não há avaliações
- A Gnosiologia Tomista PDFDocumento26 páginasA Gnosiologia Tomista PDFFernando DamicoAinda não há avaliações
- A Species É Um Intermediário Cognitivo em Tomás de AquinoDocumento29 páginasA Species É Um Intermediário Cognitivo em Tomás de AquinoAntonio Janunzi NetoAinda não há avaliações
- MacDonald S. - Teoria Do Conhecimento (Em Tomás de Aquino)Documento80 páginasMacDonald S. - Teoria Do Conhecimento (Em Tomás de Aquino)Monique CobianAinda não há avaliações
- Artigo - Tomás de Aquino e A Questão Da Similitude Por Representação (Primeira Versão em Construção) - Apresentação - Grupo de Estudo Medieval - UFBADocumento28 páginasArtigo - Tomás de Aquino e A Questão Da Similitude Por Representação (Primeira Versão em Construção) - Apresentação - Grupo de Estudo Medieval - UFBAJanunziAinda não há avaliações
- Scan Doc0037Documento10 páginasScan Doc0037Ary TjrAinda não há avaliações
- William Kalinowski Como A Mente Humana Conhece A Essencia Das CoisasDocumento8 páginasWilliam Kalinowski Como A Mente Humana Conhece A Essencia Das CoisasRodrigo Alves de Souza SilvaAinda não há avaliações
- Temas - I-XIIDocumento183 páginasTemas - I-XIIJhs ShakaoscAinda não há avaliações
- Acto de Conhecer Ou ConhecimentoDocumento7 páginasActo de Conhecer Ou ConhecimentoCarlos Filipe Costa / Cláudia AlvesAinda não há avaliações
- Descrição e Interpretação Da Atividade CognoscitivaDocumento39 páginasDescrição e Interpretação Da Atividade CognoscitivaVanessa CaravelinhaAinda não há avaliações
- 659-Texto Do Artigo-1740-4-10-20181109Documento14 páginas659-Texto Do Artigo-1740-4-10-20181109yurislvaAinda não há avaliações
- Frege, O PensamentoDocumento4 páginasFrege, O PensamentoLucas GonçalvesAinda não há avaliações
- Carta Sobre o Humanismo HeideggerDocumento37 páginasCarta Sobre o Humanismo Heideggerana lilian marchesoni parrelli100% (2)
- Hartmann X Husserl - Jesus Vàzquez Torres PDFDocumento15 páginasHartmann X Husserl - Jesus Vàzquez Torres PDFRaphael Douglas TenorioAinda não há avaliações
- A Gnosiologia É A Área Da Filosofia Que Estuda o Conhecimento A Partir Das Suas Varias VertentesDocumento2 páginasA Gnosiologia É A Área Da Filosofia Que Estuda o Conhecimento A Partir Das Suas Varias VertentestheyamadrumsAinda não há avaliações
- Conceito de RealidadeDocumento14 páginasConceito de RealidademarcoantoniopappAinda não há avaliações
- A Teoria Do Conhecimento Sensível em Tomás de AquinoDocumento28 páginasA Teoria Do Conhecimento Sensível em Tomás de AquinoAntonio Janunzi NetoAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro Teoria Do Conhecimento de Johannes HessenDocumento18 páginasFichamento Do Livro Teoria Do Conhecimento de Johannes HessenCibele Valva SaraivaAinda não há avaliações
- Nietzsche e Sua Crítica À Unidade Metafísica Do SujeitoDocumento13 páginasNietzsche e Sua Crítica À Unidade Metafísica Do SujeitoroniregoAinda não há avaliações
- Fichamento 19.12.2022 (Textos Do Projeto) - 2º de 2022Documento11 páginasFichamento 19.12.2022 (Textos Do Projeto) - 2º de 2022PedroAinda não há avaliações
- A Relação Entre Sujeito e Objeto Na Capelania PrisionalDocumento4 páginasA Relação Entre Sujeito e Objeto Na Capelania PrisionalmcmaquinasdecosturaAinda não há avaliações
- Santo Tomas e o SinthomasdiaquinoDocumento11 páginasSanto Tomas e o SinthomasdiaquinoN NJAinda não há avaliações
- O Que É o SujeitoDocumento2 páginasO Que É o SujeitoSamaria SouzaAinda não há avaliações
- Consciencia e Autoconsciencia em Kant - PereiraDocumento22 páginasConsciencia e Autoconsciencia em Kant - PereiraNeuton AvilaAinda não há avaliações
- Metafísica em HeideggerDocumento16 páginasMetafísica em HeideggerMiguel MoutinhoAinda não há avaliações
- Ideia, Ser Objetivo e Realidade Objetiva em DescartesDocumento22 páginasIdeia, Ser Objetivo e Realidade Objetiva em DescartesAndré Constantino YazbekAinda não há avaliações
- 6 - Existencialismo EuropeuDocumento3 páginas6 - Existencialismo EuropeuGuilherme YudiAinda não há avaliações
- Filosofia EspeculativaDocumento2 páginasFilosofia EspeculativaLuiz AlbuquerqueAinda não há avaliações
- A Noção Fenomenológica de Existência e As Práticas Psicológicas Clínicas PDFDocumento6 páginasA Noção Fenomenológica de Existência e As Práticas Psicológicas Clínicas PDFLorena AraujoAinda não há avaliações
- As Vivencias Intencionais Segundo Edmund HusserlDocumento10 páginasAs Vivencias Intencionais Segundo Edmund Husserllarissa.virginiaas21Ainda não há avaliações
- O Fenomeno Do Conhecimento e Os Problemas Nele Contidos (Mirela)Documento2 páginasO Fenomeno Do Conhecimento e Os Problemas Nele Contidos (Mirela)api-3767762100% (2)
- O Conceito de Pessoa para TomásDocumento7 páginasO Conceito de Pessoa para TomásFlávia PortoAinda não há avaliações
- Logica - Introdução Pag 28 A 106Documento79 páginasLogica - Introdução Pag 28 A 106Jonathan Ferreira CNAinda não há avaliações
- 9082-Texto Do Artigo-35050-1-10-20170115Documento14 páginas9082-Texto Do Artigo-35050-1-10-20170115Gabriela Mendonça Dos santosAinda não há avaliações
- Metafísica TomistaDocumento4 páginasMetafísica TomistaLucas do NascimentoAinda não há avaliações
- A Pedagogia TomistaDocumento20 páginasA Pedagogia TomistamubAinda não há avaliações
- Cap 9Documento14 páginasCap 9VALDINEI JUNIO BRITO VILELAAinda não há avaliações
- Só em Direcao Ao Só Mistica de PlotinoDocumento8 páginasSó em Direcao Ao Só Mistica de PlotinolaurotoledoAinda não há avaliações
- Platão e Aristóeles JonasDocumento20 páginasPlatão e Aristóeles JonasNataly Da silvaAinda não há avaliações
- Apresentação - XIV Encontro de Estudos MedievaisDocumento10 páginasApresentação - XIV Encontro de Estudos MedievaisJanunziAinda não há avaliações
- Exercício Nº 2Documento9 páginasExercício Nº 2João AzinheiraAinda não há avaliações
- Knowing As Being A Metaphysical Reading of The Identity of Intellect and Intelligibles in Aquinas (ACPQ 91 (2017) 333-351) PT-BRDocumento37 páginasKnowing As Being A Metaphysical Reading of The Identity of Intellect and Intelligibles in Aquinas (ACPQ 91 (2017) 333-351) PT-BRJanunziAinda não há avaliações
- Heidegger e Duns ScotusDocumento11 páginasHeidegger e Duns ScotusMardem LeandroAinda não há avaliações
- Centro Universitario Carioca Filosofia D PDFDocumento3 páginasCentro Universitario Carioca Filosofia D PDFCadjosse LtaAinda não há avaliações
- O Que É o PensamentoDocumento20 páginasO Que É o PensamentoDaniel Joel de ArrudaAinda não há avaliações
- A Essência Do ConhecimentoDocumento12 páginasA Essência Do ConhecimentoCris Silva0% (1)
- Comentários À IntroduçãoDocumento10 páginasComentários À IntroduçãoglauberribeirosalvadorAinda não há avaliações
- Kant e São Tomás de AquinoDocumento6 páginasKant e São Tomás de AquinoPablo CanovasAinda não há avaliações
- Trabalho Final - André Saito CasagrandeDocumento8 páginasTrabalho Final - André Saito CasagrandeAndré CasagrandeAinda não há avaliações
- Topicos Especiais - Filosofia Contemporânea I - Hegel - Schopenhauer - NietzscheDocumento7 páginasTopicos Especiais - Filosofia Contemporânea I - Hegel - Schopenhauer - NietzscheThiago SantosAinda não há avaliações
- ARTIGO - Percepção e Realidade em C. S. PeirceDocumento7 páginasARTIGO - Percepção e Realidade em C. S. PeirceleandroAinda não há avaliações
- Escon - Escola de Cursos Online CNPJ: 11.362.429/0001-45 Av. Antônio Junqueira de Souza, 260 - Centro São Lourenço - MG - CEP: 37470-000Documento9 páginasEscon - Escola de Cursos Online CNPJ: 11.362.429/0001-45 Av. Antônio Junqueira de Souza, 260 - Centro São Lourenço - MG - CEP: 37470-000GG AlmeidaAinda não há avaliações
- OntologiaDocumento18 páginasOntologiaIgor AlexandreAinda não há avaliações
- O livro do sentido - Vol II: Qual é, afinal, o sentido da vida?No EverandO livro do sentido - Vol II: Qual é, afinal, o sentido da vida?Ainda não há avaliações
- Tese De Filosofia Pura - Uma Nova Concepção De Verdade.No EverandTese De Filosofia Pura - Uma Nova Concepção De Verdade.Ainda não há avaliações
- Debaise - O Que É o Um Pensamento RelacionalDocumento8 páginasDebaise - O Que É o Um Pensamento Relacionaljosé macedoAinda não há avaliações
- SIGNO, SINAL, INFORMAÇÃO: As Relações de Construção e Transferência de SignificadosDocumento13 páginasSIGNO, SINAL, INFORMAÇÃO: As Relações de Construção e Transferência de Significadosapi-3741103Ainda não há avaliações
- Resumo Texto Orientação VocacionalDocumento7 páginasResumo Texto Orientação VocacionalSteffany Araújo100% (1)
- Livro - Geografia Regional Do Brasil - Parte 1Documento66 páginasLivro - Geografia Regional Do Brasil - Parte 1Paulo Aparecido Dos SantosAinda não há avaliações
- Dialogos Interdisciplinares em EducacaoDocumento348 páginasDialogos Interdisciplinares em EducacaoRaquel RosaAinda não há avaliações
- 122 224 1 SMDocumento20 páginas122 224 1 SMPatrickAinda não há avaliações
- 0811 - ASI - ManualDocumento51 páginas0811 - ASI - ManualDBK LORDAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre Classes GramaticaisDocumento10 páginasExercícios Sobre Classes GramaticaisLayla BozettiAinda não há avaliações
- Robertob, 8. Artigo Ciracì Port-Doi-Diag-PagDocumento14 páginasRobertob, 8. Artigo Ciracì Port-Doi-Diag-Pagfernando ravagnaniAinda não há avaliações
- Estilo No TrajeDocumento66 páginasEstilo No TrajeAnaLuizaFayAinda não há avaliações
- El Arte de No Amargarse La Vida - RAFAEL SANTANDREU - PTDocumento142 páginasEl Arte de No Amargarse La Vida - RAFAEL SANTANDREU - PTCintiaAinda não há avaliações
- Cms Files 86295 1620836499e Book Empreender Na Engenharia CivilDocumento21 páginasCms Files 86295 1620836499e Book Empreender Na Engenharia CivilHumbertinho DebreiaAinda não há avaliações
- A Medicina Na Era Da InformacaoDocumento506 páginasA Medicina Na Era Da InformacaoSuzana Francisca da RochaAinda não há avaliações
- Notas Sobre o Conceito de Épistème em Michel FocaultDocumento7 páginasNotas Sobre o Conceito de Épistème em Michel FocaultPollyane BeloAinda não há avaliações
- As DeclaraçõesDos PrincípiosDocumento2 páginasAs DeclaraçõesDos PrincípiosMarcone PimentaAinda não há avaliações
- Generos - Unidade e DiversidadeDocumento10 páginasGeneros - Unidade e DiversidadewillianmonteiroAinda não há avaliações
- DASTON, Lorraine. Historicidade e ObjetividadeDocumento29 páginasDASTON, Lorraine. Historicidade e ObjetividadeRaphael Leon de VasconcelosAinda não há avaliações
- Educação e Sociologia (Durkheim)Documento23 páginasEducação e Sociologia (Durkheim)Aldrie Langassner100% (1)
- BhabhaDocumento7 páginasBhabhaAyrton OliveiraAinda não há avaliações
- Psicologia SocialDocumento151 páginasPsicologia Sociallarissa.buccelliAinda não há avaliações
- MIRANDA - CLARO (Orgs.) - Diálogos Desde o Norte Do Tocantins. Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Educação e ArtesDocumento106 páginasMIRANDA - CLARO (Orgs.) - Diálogos Desde o Norte Do Tocantins. Grupo de Estudos e Pesquisas em História, Educação e ArtesMara Pereira da SilvaAinda não há avaliações
- Aconselhamento e Orientação VocacionalDocumento17 páginasAconselhamento e Orientação VocacionalverinharamosAinda não há avaliações
- Isaac Muchanga ExemplarDocumento39 páginasIsaac Muchanga ExemplarMoisesAinda não há avaliações
- Aspectos Éticos Nas Pesquisas QualitativasDocumento5 páginasAspectos Éticos Nas Pesquisas QualitativasGary CaldwellAinda não há avaliações
- EpistemologiaDocumento14 páginasEpistemologiaEdu Asaf100% (1)
- Os Objetivos e Conteudos de EnsinoDocumento15 páginasOs Objetivos e Conteudos de EnsinoElizabete Rosa50% (2)
- Andreia Aparecida DETOGNI 2017Documento242 páginasAndreia Aparecida DETOGNI 2017João HeitorAinda não há avaliações
- Cultura e Identidade 2018Documento420 páginasCultura e Identidade 2018Marina MarinaAinda não há avaliações