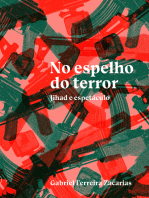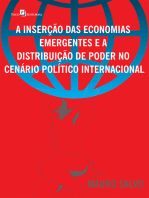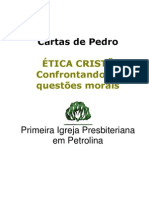Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dicionario de Relacoes Internacionais PDF
Dicionario de Relacoes Internacionais PDF
Enviado por
Jazmin ArrellagaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dicionario de Relacoes Internacionais PDF
Dicionario de Relacoes Internacionais PDF
Enviado por
Jazmin ArrellagaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DICIONRIO
DE
RELAES INTERNACIONAIS
TTULO: Dicionrio de Relaes Internacionais
AUTOR: Fernando de Sousa (Dir.)
2005, Edies Afrontamento, CEPESE e autores
EDIO: Edies Afrontamento/ CEPESE Centro de Estudos da Populao, Economia e Sociedade
COLECO: Dicionrios/ 2
N. DE EDIO: 954
ISBN EDIES AFRONTAMENTO: 972-36-0752-2
ISBN CEPESE: 972-99070-2-1
DEPSITO LEGAL: 221377/05
EXECUO GRFICA: Rainho & Neves Lda./ Santa Maria da Feira
JUNHO DE 2005
Col eco DI CI ONR I OS
DICIONRIO
DE
RELAES INTERNACIONAIS
sob a direco de
Fernando de SOUSA
A
Edies
Afrontamento CEPESE
COLABORADORES
Anabela SRGIO
Universidade Lusada
Antnio BRITO
Universidade do Porto e Universidade Lusada
Cristina SEIA
Universidade Lusada
Fernando de SOUSA
Universidade Lusada e CEPESE
Hermano RODRIGUES
Universidade Lusada
Isabel LANA
Universidade Lusada e CEPESE
Manuel MONTEIRO
Instituto Politcnico de Tomar e
Universidade Lusada
Maria Raquel FREIRE
Universidade Lusada e CEPESE
Paula BARROS
CEPESE
Paula SANTOS
Instituto Piaget de Viseu e CEPESE
Paulo AMORIM
Universidade Lusada e CEPESE
Pedro MENDES
Universidade Lusada e CEPESE
Ricardo ROCHA
CEPESE
Rui MARRANA
Universidade Lusada
Teresa CIERCO
Universidade Lusada e CEPESE
A Adriano Moreira,
introdutor da Poltica Internacional
e das Relaes Internacionais em Portugal
A docncia que h largos anos desenvolvemos no Departamento de
Relaes Internacionais da Universidade Lusada do Porto levou-nos,
desde cedo, a apercebermo-nos das dificuldades que se colocam a quem
se dedica ao ensino desta rea cientfica em Portugal:
por um lado, a deficiente preparao dos alunos que frequentam os
cursos de Relaes Internacionais, obrigados, dada a natureza mul-
tidisciplinar daquela, a dominarem teorias, conceitos e factos que
relevam, logicamente, das prprias Relaes Internacionais, mas
tambm, das cincias sociais em geral, particularmente da Hist-
ria, Poltica, Direito, Sociologia e Economia;
por outro lado, a inexistncia de bons manuais de Relaes Inter-
nacionais, traduzidos em portugus ou da autoria de especialistas
nacionais, nomeadamente um Dicionrio de Relaes Internacio-
nais, que permita aos alunos a definio e compreenso dos con-
ceitos utilizados nas disciplinas que integram tal licenciatura.
certo que, recentemente, alguns trabalhos se publicaram e traduziram
no sentido de tentar colmatar esta lacuna. O professor Adriano Moreira,
pai da Cincia Poltica, da Poltica Internacional e das Relaes Inter-
nacionais em Portugal, publicou a sua excelente Teoria das Relaes
Internacionais (1997); Pascal Boniface viu traduzido em portugus o seu
Atlas de Relaes Internacionais (1999); e Jos Adelino Maltez, mais
recentemente, deu estampa o seu erudito Curso de Relaes Interna-
cionais (2002). E no que diz respeito a dicionrios ou glossrios de Rela-
es Internacionais, surgiu, entretanto, traduzido em portugus, o Dicio-
nrio das Relaes Internacionais, dirigido por Pascal Boniface (2001),
o qual, enformado por uma concepo emprico-descritiva das Rela-
es Internacionais, est longe de cumprir os objectivos que se preten-
dem numa obra desta natureza.
Todavia, continua a faltar, no primeiro caso, um bom manual de Intro-
duo s Relaes Internacionais, que de forma to clara e to pedag-
gica quanto possvel, apresente o essencial do saber acumulado, apli-
cando-o s grandes questes de hoje (Smouts). E, no segundo caso, um
dicionrio que nos fornea, em lngua portuguesa, as ideias, as teorias,
as correntes doutrinais e os conceitos fundamentais para uma razovel
compreenso, por parte dos alunos, das Relaes Internacionais enquanto
cincia para j no falarmos dos conceitos de disciplinas das reas da
Histria, da Poltica, do Direito, da Sociologia, da Economia, da Ecologia
e at da Metodologia das Cincias Sociais, que lgica e obrigatoriamente
integram os cursos de Relaes Internacionais. Algo como o Dictionary
of International Relations, de Graham Evans e Jeffrey Newnham, cuja
consulta se revelou muito til e acabou por se assumir, em parte, como
o modelo do nosso trabalho.
INTRODUO
O Dicionrio de Relaes Internacionais que agora damos a lume sur-
giu de uma gestao lenta e pragmtica, que teve a ver com a necessi-
dade de responder s necessidades/solicitaes dos nossos alunos, s difi-
culdades que eles sentiam, fundamentalmente quanto s teorias e con-
ceitos utilizados nas cadeiras da Licenciatura de Relaes Internacio-
nais. Da a nossa iniciativa, h trs anos, de criarmos um dicionrio que,
a pouco e pouco, foi colocado sua disposio e alargado e enriquecido,
graas, por um lado, utilizao dos sumrios desenvolvidos nas cadei-
ras da Licenciatura, e, por outro lado, aos contributos de alguns colegas,
docentes no Departamento de Relaes Internacionais da Universidade
Lusada do Porto e investigadores do Centro de Estudos da Populao,
Economia e Sociedade (CEPESE), da Universidade do Porto, mas com
uma formao de base diversa, de forma a responder s exigncias de
uma cincia plural e multidisciplinar.
Estamos, assim, perante um trabalho de equipa, sabendo todos ns as
dificuldades que se levantam quanto homogeneidade, equilbrio, meto-
dologia e critrios comuns a que deve obedecer o produto final, para no
ser uma simples justaposio de textos (como por vezes acontece em
enciclopdias e dicionrios), com entradas extensssimas ao lado de
outras bem reduzidas, que deviam merecer igual tratamento para j
no falarmos da diferente qualidade dos mesmos, defeito a que nenhuma
obra colectiva se consegue furtar.
De qualquer modo, a difcil e morosa tarefa de coordenao, reajusta-
mento, reformulao e refundio, pela nossa parte, no deixou de ser
feita, cabendo-nos a ns a responsabilidade de tudo quanto vier a ser cri-
ticvel neste estudo.
Esta obra destina-se, antes de tudo, a servir de instrumento de base para
os alunos universitrios de Relaes Internacionais, o que no impede,
longe disso, que seja tambm uma obra de consulta para todos aqueles
que se preocupam com as Relaes Internacionais contemporneas, com
a Poltica Internacional, com a Globalizao, com as profundas transfor-
maes/rupturas que se fazem sentir nesta entrada do sculo XXI, enfim,
para todos aqueles que procuram compreender a realidade internacio-
nal, as grandes tendncias do mundo em que vivemos, as mutaes, ten-
ses e riscos actuais, como diria Chagnollaud.
Nesta perspectiva, preocupou-nos menos a erudio, o carcter exaus-
tivo ou demasiado especializado da informao, a discusso terica apro-
fundada, os debates interparadigmticos e inacabados, e pelo contr-
rio, mais a definio breve mas rigorosa das teorias, doutrinas e dos con-
ceitos de base, a pluridisciplinaridade que favorece a comparao e ajuda
a descobrir a prpria natureza e estrutura das Relaes Internacionais,
no contexto mais amplo das Cincias Sociais e Humanas. No se trata,
portanto, de um dicionrio de Histria das Relaes Internacionais, ou
de um dicionrio de Geopoltica e, muito menos, de um dicionrio de
Poltica ou de polticos. Trata-se, isso sim, de uma obra didctica, gene-
ralista, actual, que constitui assim esperamos uma iniciao til, e
serve de referncia e orientao para os leitores que pretendam iniciar-
-se nas Relaes Internacionais.
As entradas do Dicionrio foram escolhidas a partir justamente das preo-
cupaes expressas pelos alunos de Relaes Internacionais da Univer-
sidade Lusada do Porto, quanto a conceitos, doutrinas e teorias mais
utilizados, assim como quanto a instituies e organismos internacio-
nais mais importantes, sem pretenses de hierarquizao ou exaustivi-
INTRODUO X
dade, e tendo em ateno, ainda, as disciplinas que integram o Curso de
Relaes Internacionais da Universidade Lusada. Da o registo de alguns
conceitos, nomeadamente de Informtica, que tm a ver, justamente, com
esta realidade.
No final, apresenta-se a lista das abreviaturas e siglas constantes desta
obra, em portugus e ingls, assim como a bibliografia seleccionada que
serviu de base realizao deste Dicionrio de Relaes Internacionais,
permitindo ao leitor, sempre que o entenda, aprofundar os assuntos tra-
tados.
No temos quaisquer dvidas quanto a algumas imprecises, omisses e
s inmeras lacunas que este trabalho apresenta. Sabemos que existem
e que sempre existiro em estudos desta natureza. Deles nos penitencia-
mos, agradecendo, desde j, a disponibilidade de todos aqueles que tive-
rem a bondade de nos fazer chegar as suas crticas e sugestes, de forma
a podermos corrigir e ampliar esta obra em prxima edio.
Fernando de SOUSA
Presidente do Centro de Estudos da Populao,
Economia e Sociedade (CEPESE)
Director do Departamento de Relaes Internacionais
da Universidade Lusada do Porto
INTRODUO XI
nomeadamente funcionando em termos puramente
intergovernamentais e exigindo a unanimidade das
decises).
A figura da aco comum da JAI foi suprimida pelo
Tratado de Amesterdo que alterou a designao
do prprio pilar (passando este para Cooperao
Policial e Judiciria em Matria Penal) e substituiu
a dita figura por decises ou decises-quadro.
ACEITAO DAS CONVENES
INTERNACIONAIS
Acto pelo qual um Estado ou outro sujeito de Direito
Internacional estabelece, no plano internacional, o
seu consentimento a ficar vinculado por uma con-
veno. Na prtica frequente a utilizao desta
designao (a par de aprovao) para o acto que
sendo equivalente ratificao (no sentido em que
exprime o consentimento do Estado a ficar vincu-
lado), no entanto praticado por outro rgo que no
o Chefe de Estado.
ACERVO COMUNITRIO
O acervo comunitrio inicialmente designado pela
expresso original francesa aquis communautaire e
tambm por adquirido comunitrio (traduo
directa da mesma expresso) inclui os Tratados
europeus, a legislao, as declaraes, as resolues,
os acordos internacionais sobre as matrias comu-
nitrias bem como a jurisprudncia do Tribunal de
Justia. Inclui ainda as disposies adoptadas pelos
governos dos Estados-membros no mbito dos pila-
res no comunitarizados (Poltica Externa e de
Segurana Comum e Cooperao nos domnios da
Justia e Assuntos Internos, que mais tarde veio a
designar-se por Cooperao Policial e Judiciria em
Matria Penal).
A relevncia prtica do conceito resulta da exigncia
que feita a todos os Estados que pretendem aderir
no sentido de aceitarem o acervo, ou seja, assumirem
integralmente os actos comunitrios entretanto adop-
tados, no podendo no futuro invocar a sua no par-
ticipao na adopo dos mesmos para os no cum-
prirem ou questionarem. Significa afinal que a adeso
implica aceitar a Unio Europeia tal como ela existe.
ABSTENO CONSTRUTIVA
A absteno construtiva um mecanismo que faci-
lita a obteno da unanimidade nas deliberaes
tomadas no mbito da Poltica Externa e de Segu-
rana Comum (PESC). O Tratado de Roma j previa
expressamente antes mesmo da criao da PESC ,
que a absteno dos Estados-membros no impede
a adopo de um acto por unanimidade.
A absteno construtiva figura introduzida pelo
Tratado de Amesterdo segue esse princpio, mas
impe uma declarao formal e permite ainda que
o Estado-membro no aplique a deciso, muito
embora reconhea o seu carcter obrigatrio e deva
abster-se de adoptar qualquer atitude que possa ser
susceptvel de colidir com a aco da Unio baseada
na referida deciso.
ABM
Tratado sobre Msseis Anti-Balsticos.
ACO COMUM
Acto tpico de direito comunitrio introduzido pelo
Tratado de Maastricht relativamente aos dois pila-
res no comunitrios da Unio Europeia (Poltica
Externa e de Segurana Comum PESC e Coope-
rao nos domnios da Justia e Assuntos Internos
JAI). Trata-se de uma aco coordenada dos Esta-
dos membros mediante a qual so mobilizados os
meios existentes para realizar os objectivos concre-
tos definidos pelo Conselho, com base em orienta-
es gerais do Conselho Europeu.
Nos anos 1970, os Estados-membros iniciaram um
processo com vista a aproximarem as respectivas
posies em domnios nos quais a Comunidade
no tinha competncias maxime em matria de
poltica externa o que veio a dar origem nomea-
damente Cooperao Poltica Europeia, a qual
vir a ser finalmente acolhida no direito origin-
rio com o Acto nico Europeu, e que assentava
na adopo progressiva de posies comuns. As
aces comuns marcaram uma nova etapa nessa
aproximao (em matrias que no estavam comu-
nitarizadas, ou seja, em que o regime aplicvel man-
tinha o pleno respeito pelas prerrogativas soberanas,
A
bunais internacionais, ainda que estes no se inte-
grem em estruturas judiciais hierarquizadas (muito
embora tendam a ser colectivos e, nessa medida, a
designao pode ter-se como prpria).
ACORDO COMERCIAL DE
APROXIMAO ECONMICA
AUSTRLIA NOVA ZELNDIA
Australia New Zealand Closer Economic Relations
Trade Agreement (ANZCERTA)
Entrou em funcionamento em 1983, tendo como
objectivo implantar a circulao de mercadorias entre
os dois pases e abolir as restries quantitativas at
1 de Julho de 1995. Este calendrio foi, entretanto,
antecipado, tendo-se conseguido a liberalizao plena
a partir da qual foram igualmente abolidas as prti-
cas de subveno exportao.
Em 1988, o Acordo foi revisto e alargado, passando
a incluir o sector dos servios.
ACORDO DE COMRCIO LIVRE
DA EUROPA CENTRAL (ACORDO
DE VISEGRADO)
Central European Free Trade Agreement (CEFTA)
A 15 de Fevereiro de 1991, Lech Walesa da Polnia,
Vaclav Havel da Checoslovquia e Joseph Antal da
Hungria, reuniram-se em Visegrado com o objectivo
de contriburem para a paz, segurana e prosperidade
dos seus pases, em conformidade com os seus valo-
res tradicionais e a evoluo europeia. Em Outubro
de 1991, os trs pases afirmaram a necessidade de
acelerar os trabalhos sobre a supresso das barrei-
ras nas trocas comerciais mtuas, e a sua vontade
de concluir rapidamente os acordos sobre a libera-
lizao recproca do comrcio. Esta deciso levou
assinatura do acordo de Comrcio Livre da Europa
Central, concludo a 21 de Dezembro de 1992, na
cimeira de Cracvia.
Os parceiros da Troika de Visegrado tornaram-se
quatro aps a diviso da Checoslovquia em Dezembro
de 1992, isto apesar das Repblicas Checa e Eslovaca
serem um s e mesmo parceiro no acordo, devido
unio aduaneira que regula as suas transaces
comerciais.
O CEFTA entrou em vigor a 1 de Maro de 1993,
entre a Hungria, Polnia, Repblica Checa e Eslo-
vquia. Hoje, para alm destes pases, fazem tambm
parte a Bulgria, Eslovnia e Romnia.
Visa o estabelecimento de uma rea de livre comr-
cio, com a supresso das barreiras comerciais e adua-
neiras existentes entre os pases participantes. So
ainda seus objectivos: promover o crescimento das
trocas comerciais; harmonizar as relaes econ-
micas entre os Estados-membros; encorajar o desen-
volvimento da actividade econmica; melhorar as
condies de vida e de trabalho; aumentar a produ-
tividade e manter a estabilidade financeira.
2 ACESSO S CONVENES INTERNACIONAIS
ACESSO S CONVENES
INTERNACIONAIS
O termo utilizado no plano internacional como
equivalente adeso.
ACONTECIMENTO
O acontecimento uma ocorrncia emprica par-
ticular que inaugura uma situao nova, sendo
determinado pelas suas consequncias. Na maioria
das vezes so as consequncias dos acontecimen-
tos (seja um terramoto, um acidente numa cen-
tral nuclear, uma greve geral, um atentado, uma
guerra) que determinam o significado e o valor
simblico que lhes so atribudos. O acontecimento
social pode, de acordo com este ponto de vista, ser
entendido como uma realidade simblica (Molino),
na medida em que lhe atribudo um valor que
depende da cultura.
Dada a importncia das consequncias e dos ante-
cedentes do acontecimento humano para a sua com-
preenso, a linguagem causal correntemente uti-
lizada para explicar o que aconteceu. Considera-se,
por exemplo, que o assassnio do Arquiduque Fernando
da ustria em Sarajevo, em Julho de 1914, foi a causa
da Primeira Grande Guerra. Inscrito numa textura
causal, o acontecimento v a sua contingncia redu-
zida na medida em que uma ou vrias causas o expli-
cam. Simultaneamente -lhe atribudo um sentido
ou um valor de normalidade.
Sendo a singularidade do acontecimento um
objecto de estudo preferencial da Histria, o acon-
tecimento est hoje presente nas cincias sociais,
constituindo objecto de estudo da Sociologia e, par-
ticularmente, da Sociologia da Comunicao. O acon-
tecimento marca profundamente a sociedade em que
vivemos e a nossa contemporaneidade. Como con-
sidera Pierre Nora, nas sociedades democrticas
modernas h uma pluralidade de acontecimentos que
irrompem na cena pblica e que, graas aos meios
de comunicao social, so de imediato objecto da
ateno colectiva: prprio do acontecimento
moderno desenrolar-se numa cena imediatamente
pblica. por isso que Nora fala do retorno do
acontecimento, ideia esta qual no estranha a
sua exposio pblica nos meios de comunicao.
ACRDO
Na acepo jurdica corrente o acrdo corresponde
a uma deciso de um tribunal colectivo (o termo
advm do acordo do colectivo de juizes em relao
deliberao). Embora tambm existam nos tribu-
nais de primeira instncia tribunais colectivos,
estes ltimos assumem sempre maior importncia
do que aqueles que so compostos por apenas um juiz.
Da que, na linguagem corrente, a designao de acr-
do tenda a ser entendida como de um tribunal supe-
rior (por oposio sentena individual), incidindo
sobre o fundo da questo em apreciao. A expres-
so tambm utilizada para referir decises de tri-
3
exemplo, em caso de conflito com o direito interno
norte americano, s o tratado se sobrepe s leis fede-
rais, prerrogativa de que no goza o acordo, que ape-
nas prevalece em relao s leis dos Estados fede-
rados.
ACORDO GERAL SOBRE PAUTAS
ADUANEIRAS E COMRCIO
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Assinado por 23 pases em Outubro de 1947, cons-
tituiu a grande tentativa de disciplinar as relaes
comerciais internacionais do ps-guerra, fazendo
com que a maior parte dos Estados aderissem aos
seguintes princpios: diminuio gradual dos direi-
tos aduaneiros e eliminao das preferncias pautais
de carcter bilateral; aplicao da clusula de nao
mais favorecida com vista a promover as trocas num
plano livre e no discriminatrio; edificao de um
sistema multilateral que propagasse a segurana nas
relaes econmicas internacionais, garantindo o
acesso de novos pases aos mercados externos; afas-
tamento de obstculos no pautais, condenando as
medidas pblicas diferentes dos direitos aduaneiros
que tm por efeito criar uma distoro nas trocas
comerciais.
Ao longo de quase meio sculo, o GATT represen-
tou a estrutura essencial do sistema comercial inter-
nacional conseguindo um desarmamento pautal para
a circulao de mercadorias, mau grado a excepo
s regras gerais de conduta que tornaram enviesado
o esquema de actuao.
O GATT est na origem da Organizao Mundial
de Comrcio (OMC).
ACORDOS DE HELSNQUIA
Assinados em 1975, ao abrigo da Conferncia de
Segurana e Cooperao na Europa (CSCE), marca-
ram em plena guerra fria um importante passo rela-
tivamente ao desanuviamento leste-oeste. Resultante
de uma proposta da Unio Sovitica, a Conferncia
decorreu entre 1972 e 1975 e envolveu represen-
tantes de 33 Estados europeus, sendo geralmente
referida como estendendo-se de Vancouver a
Vladivostok. A Conferncia permitiu a discusso de
assuntos delicados tocando diferentes temas, como
segurana e consolidao de confiana; economia,
cincia e tecnologia, e ambiente, bem como aspec-
tos humanitrios. Estes tpicos centrais foram
organizados em trs baskets distintos mas inter-rela-
cionados e complementares. Um quarto basket foi
acordado contendo o princpio de continuidade do
processo da CSCE.
Dividido em duas partes, o primeiro basket incluia
o Declogo, que definia os dez princpios bsicos
reguladores das relaes entre os Estados partici-
pantes na Conferncia, e o Documento relativo a
medidas de consolidao de confiana e determina-
dos aspectos de segurana e desarmamento. O
segundo basket referia-se cooperao em termos
ACORDO DE COMRCIO LIVRE NORTE-AMERICANO
ACORDO DE COMRCIO
LIVRE NORTE-AMERICANO
North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Constitui uma zona de comrcio livre abrangendo os
trs pases da Amrica do Norte, Canad, Estados
Unidos e Mxico. Assinado a 17 de Dezembro de 1992
pelo presidente americano George Bush, o presidente
mexicano Carlos Salinas e o primeiro-ministro
canadiano Brian Mulroney, o Tratado visa a supres-
so progressiva, em 15 anos, de todos os obstculos
tarifrios e no tarifrios s trocas entre os trs
Estados-membros. O acordo de comrcio livre entre
os EUA e o Canad de 1988 e a Iniciativa Bush para
as Amricas de 1990 esto na sua origem. O Tratado
entrou em vigor em Janeiro de 1994, aps a con-
cluso de dois acordos complementares sobre o
ambiente e o trabalho, assinados em Agosto de 1993.
O NAFTA tem como objectivos eliminar barreiras ao
comrcio e facilitar a circulao de bens e servios
entre os territrios das partes; promover as condi-
es para uma competio justa na rea do comr-
cio livre; aumentar substancialmente as oportuni-
dades de investimento na regio; criar procedimen-
tos tendo em vista a implementao e aplicao do
Acordo, nomeadamente para a administrao con-
junta e resoluo de conflitos; estabelecer uma estru-
tura para uma maior cooperao trilateral, regional
e multilateral, bem como expandir e aumentar os
benefcios deste acordo.
ACORDO EM FORMA SIMPLIFICADA
A expresso designa normalmente as convenes
internacionais que so sujeitas a um procedimento
de vinculao menos solenizado (contrariamente aos
tratados solenes). A progressiva internacionaliza-
o das matrias fez com que a celebrao de con-
venes se tornasse num mecanismo cada vez mais
comum de regulao das mesmas, pelo que, na
medida em que essas matrias pudessem ser objecto
de actos normativos (internos) do poder executivo,
no parecia haver justificao para que, tratando-se
de actos internacionais, o governo no estivesse
autorizado a vincular autonomamente o Estado.
Assim surgiu a designao de executive agreement,
para designar estas convenes que, integrando o
elenco dos poderes do executivo, no impunham a
obedincia a procedimentos complexos em que
intervm os diferentes rgos de soberania.
O acordo em forma simplificada faz assim, hoje em
dia, em termos gerais, referncia a convenes em
que a vinculao decorre da mera assinatura, distin-
guindo-se dos tratados solenes que exigem (para alm
de outros actos eventuais) a ratificao ou equiva-
lente.
Registe-se, no entanto, que, no caso portugus, a
mera assinatura nunca vincula o Estado, sendo
necessria (pelo menos) a aprovao do governo ou
da Assembleia da Repblica.
A utilizao da designao acordo pode ainda
ser relevante para efeitos hierrquicos. Assim, por
a instrumentos menos formais e incidindo sobre
matrias particulares. esta, alis, a designao mais
utilizada na actualidade para designar os ins-
trumentos convencionais internacionais. Na prtica,
esta designao muito utilizada em convenes em
matria econmica.
A expresso ainda utilizada no quadro dos pro-
cessos de integrao regional, nos quais os tratados
institutivos assumem um carcter constitucional
(sendo designados por tratados, designao essa que
normalmente tambm utilizada nas convenes
modificativas, como acontece no caso Europeu),
adoptando a designao de acordos as convenes que
visam desenvolver esses regimes originrios.
Existe, ainda, a designao de acordo poltico que se
refere a um dos actos concertados no convencio-
nais, exorbitando, portanto, j do mbito dos tratados.
ACORDOS DE LIMITAO
DE ARMAS ESTRATGICAS
Strategic Arms Limitation Talks (SALT)
Traduz as conversaes sobre a limitao de armas
estratgicas entre os Estados Unidos da Amrica e a
Unio Sovitica entre 1967 e 1979. Um perodo de
dtente nas relaes entre as duas superpotncias
permitiu o incio de negociaes bilaterais relativas
ao controlo de armamento. Os Estados Unidos da
Amrica pretendiam evitar uma corrida ao arma-
mento contra a Unio Sovitica que se revelaria dis-
pendiosa, em parte devido ao seu envolvimento na
Guerra do Vietname. Por seu turno, a Unio Sovitica
procurava, desde a crise dos msseis de Cuba de 1962,
paridade nuclear com os Estados Unidos da Amrica.
Das negociaes resultaram duas convenes.
Assinado em 1972, o Tratado SALT I (tecnicamente
designado por Acordo Interino sobre Armas Ofensivas
Estratgicas), procurava substituir o constrangimento
mtuo pela autolimitao, permitindo um certo
grau de estabilidade ao definir o limite superior rela-
tivo ao nmero total de msseis que cada pas pode-
ria possuir. As suas limitaes principais traduziram-
-se nos problemas de verificao, pois nenhuma das
partes estava preparada para permitir inspeces in
loco, e no facto de no abordar a questo das ogivas
mltiplas, omisso que o acordo SALT II procurou
colmatar. O Tratado ABM (Msseis Anti-Balsticos)
foi negociado e assinado como parte do mesmo pro-
cesso.
O SALT II lidava, de modo mais especfico, com
o nmero total e poder das ogivas, incluindo a nova
tecnologia MIRV (multiple independently-targeted
re-entry vehicle), que permitia que os msseis inclus-
sem agora uma dzia ou mais de ogivas indepen-
dentes. Contudo, nunca veio a ser ratificado, pois a
interveno sovitica no Afeganisto levou o Senado
norte-americano a no proceder votao do novo
acordo. O processo SALT acabou por ser substitudo
pelos acordos START I e II, sobre reduo de armas
estratgicas, assinados em 1991. No podemos, deste
modo, isolar os acordos SALT do contexto de guerra
ACORDO INTERNACIONAL 4
econmicos, de cincia e tecnologia, e ambiental, e
o terceiro prendia-se com cooperao em termos
humanitrios. A Acta Final de Helsnquia no um
tratado legalmente vinculativo, mas um documento
acordado politicamente, no prevendo meios de coac-
o. Desta forma, a Conferncia era uma estrutura
institucional simples na qual as decises assumiam
carcter poltico. Prosseguindo uma estratgia
diplomtica discreta, baseada numa atitude abran-
gente face aos problemas, a CSCE conseguiu man-
ter as discusses em aberto, apesar da frequente ins-
tabilidade poltica caracterstica do perodo da
guerra fria. A Acta Final de Helsnquia forneceu a pla-
taforma poltica e o apoio moral para a mudana
democrtica na Europa de leste, uma vez que dis-
ponibilizou canais efectivos de comunicao e par-
tilha de ideias. Enquanto o Ocidente procurava o
reconhecimento e aplicao dos direitos e liberda-
des fundamentais no espao da CSCE, a leste pre-
tendia-se o reconhecimento do status quo territorial
do ps-guerra e a afirmao da inviolabilidade de
fronteiras. Paradoxalmente, a CSCE foi concebida em
Moscovo para legitimar o status quo, mas acabou por
se transformar no vector de mudana deste.
ACORDO INTERNACIONAL
Os termos tratado e acordo (internacionais) surgem
mencionados em conjunto, no artigo 102. da Carta
das Naes Unidas (o qual impe aos Estados o seu
registo junto do Secretariado Geral e posterior publi-
cao). Ambos se aplicam a instrumentos conven-
cionais, que podem variar consideravelmente em
termos formais e materiais, nunca tendo surgido no
plano internacional uma noo ou distino precisa.
No entanto, por exemplo, no regulamento de execu-
o do referido artigo 102., refere-se que a obrigao
de registo se aplica a todo o tratado ou acordo inter-
nacional, qualquer que seja a sua forma ou a desi-
gnao utilizada. Esta perspectiva lata levou o Secre-
tariado Geral a considerar para o efeito, uma diver-
sidade de actos, incluindo mesmo compromissos ou
actos unilaterais, como sejam as declaraes de
aceitao da competncia do Tribunal Internacional
de Justia pelos Estados e outras declaraes unilate-
rais. Donde, se deve insistir no facto de a designao
de um instrumento internacional no ser determi-
nante para efeitos da determinao da sua natureza.
Refira-se todavia que a designao utilizada sempre
tender a indicar o objectivo ou limites do enquadra-
mento dentro do qual as partes pretendem agir e em
determinados casos pode fornecer mesmo indicaes
importantes quanto s relaes que existam entre
actos (por exemplo entre um dado acordo e um tra-
tado celebrado anteriormente ou que venha poste-
riormente a ser concludo).
O termo acordo pode surgir numa acepo gen-
rica ou especfica. A designao genrica pode
encontrar-se, por exemplo, na Conveno de Viena
de 1969, em que aparece como definidora do prprio
conceito de tratado. Em termos especficos, fre-
quente que a utilizao do termo acordo se refira
As organizaes internacionais, actores derivados
ou secundrios
Depois do sculo XIX, os Estados deixaram de ter
o monoplio das Relaes Internacionais, uma vez
que passaram a sofrer a concorrncia das organiza-
es internacionais. A partir de ento, o Estado,
embora permanecendo como actor privilegiado da
cena internacional, deixou de ser nico. Da que,
paralelamente aos actores principais, seja necess-
rio colocar os chamados actores derivados ou secun-
drios. Relativamente aos actores derivados, isto ,
s organizaes internacionais, importar precisar
a sua definio, estudar as suas formas, bem como
o papel que assumem na sociedade internacional.
Uma organizao internacional uma estrutura de
cooperao interestatal, uma associao de Estados
soberanos perseguindo objectivos de interesse
comum, atravs de rgos autnomos. Pode-se
dizer que, a organizao internacional se distingue
da conferncia diplomtica pelo seu carcter per-
manente, bem como pela existncia de rgos pr-
prios, dotados de poderes especficos. O nmero e a
estrutura destes rgos variam consoante a impor-
tncia da organizao, o seu objectivo, bem como a
complexidade das suas tarefas.
Apesar de composta pelos Estados, a organizao
tem uma existncia independente daqueles, uma vez
que possui uma personalidade jurdica que lhe con-
fere uma existncia objectiva e uma vontade aut-
noma em relao aos seus membros.
A partir da composio podemos distinguir dois
tipos de organizaes: as de vocao universal e as
de vocao regional ou inter-regional.
Como o nome indica, as primeiras podem englo-
bar teoricamente todos os Estados, sem excepo
(grandes ou pequenos), desde que correspondam
definio jurdica de Estado dada anteriormente.
Todavia, isto no implica que toda a entidade esta-
tal tenha o direito, automaticamente, de entrar numa
organizao internacional. Normalmente, s poder
vir a tornar-se membro desde que se submeta ao pro-
cedimento de admisso previsto pela Carta consti-
tutiva, quando no participa directamente na fun-
dao da organizao.
Por outro lado, existem organizaes intergover-
namentais com uma vocao mais restrita, ou seja,
regional. Aqui, os Estados agrupam-se de acordo com
afinidades geogrficas, econmicas, polticas, mili-
tares e mesmo tnicas.
Por vezes, uma organizao reagrupa um nmero
limitado de Estados, pertencendo a vrias zonas geo-
grficas diferentes so as organizaes inter-regio-
nais.
Certas organizaes internacionais tm uma voca-
o ou uma competncia geral, o que lhes permite
ocuparem-se de todas as questes, enquanto que
outras tm uma competncia especializada. Da a
oposio entre as organizaes polticas e as orga-
nizaes tcnicas. Por outro lado, tendo em ateno
a natureza das funes, podemos distinguir as orga-
nizaes de cooperao, e as organizaes de gesto.
As primeiras, na maioria, procuram coordenar a acti-
vidade poltica ou jurdica dos Estados-membros,
ACTO/ACTA 5
fria, os quais acabaram por constituir uma etapa
importante da estratgia de dtente liderada pela
doutrina Nixon em relao Unio Sovitica.
ACTO/ACTA
Os termos acto e acta so utilizados frequentemente
para designar convenes internacionais que resul-
tam de conferncias internacionais que versam sobre
matrias especficas. Assim, a Acta Geral da Confe-
rncia de Berlim, de 1885, a Acta Final de Helsnquia
de 1975, o Acto Geral de Arbitragem, etc. O termo
foi tambm utilizado para designar um tratado
comunitrio de reviso, o Acto nico Europeu de
1985, cuja designao se deve aparentemente ao facto
de constituir um acto singular, atravs do qual se
reviam os principais tratados institutivos (Tratado de
Paris de 1951, que criou a Comunidade Europeia
do Carvo e do Ao e tratados de Roma de 1957 que
criaram a Comunidade Econmica Europeia e a
Comunidade Europeia da Energia Atmica).
ACTO FORMAL DE CONFIRMAO
Designao frequentemente utilizada para referir o
acto de uma organizao internacional equivalente
ratificao (reservando portanto esta designao aos
Estados, at por ser normalmente praticado pelo
chefe de Estado).
prtica corrente tambm a da confirmao de
alguns actos jurdicos unilaterais, tais como a reserva
e as declaraes interpretativas condicionais.
ACTORES DAS RELAES
INTERNACIONAIS
Por actores das Relaes Internacionais entendemos
todos os agentes ou protagonistas com capacidade
para decidir das relaes de fora no sistema inter-
nacional, isto , agentes com poder para intervir e
decidir das Relaes Internacionais aos seus mais
variados nveis, de forma a poderem atingir os seus
objectivos. A Poltica Internacional, depende, em
grande parte, do jogo dos actores.
Dentro dos actores podemos distinguir o actor princi-
pal (o Estado), os actores pblicos (organizaes inter-
nacionais) ou actores privados (indivduos, empresas,
organizaes no governamentais, etc.) ou, de outra
forma, actores principais, derivados e secundrios.
Os Estados, actores principais
O Estado define-se pela reunio de trs elementos
ou caractersticas: um territrio, uma populao (um
povo) e um governo (poder poltico soberano).
Juridicamente, a unidade estatal distingue-se de
quaisquer outras entidades ou colectividades terri-
toriais pelo facto de gozar de um atributo nico
designado por soberania.
Os Estados diferem uns dos outros em razo do seu
tamanho, da sua potncia, da sua fora militar e da
forma do seu governo (regime poltico).
de opinies pblicas nacionais dominantes, da qual
se pode extrair uma linha de conduta a seguir ou um
objectivo a atingir: a promoo do desarmamento
mundial, a defesa da paz, a independncia do povo
timorense, etc.
Segundo Max Gounelle, as firmas multinacionais
so empresas cuja sede social se encontra num deter-
minado pas e que exercem as suas actividades num ou
mais pases, por intermdio de sucursais ou filiais e
em que a estratgia e a gesto so concebidas ao nvel
de um centro de deciso nico que coordena e dirige
o conjunto, com vista a maximizar o lucro do Grupo.
Assegurando as funes de produo em mais do
que um Estado, elas so o vector principal dos inves-
timentos internacionais, transformando-se, assim,
num dos principais agentes das relaes econmi-
cas internacionais, sendo, por vezes, potncias eco-
nmicas e financeiras superiores aos Estados onde
localizam os seus investimentos e actividades, per-
mitindo-lhes uma situao de quase monoplio ou
mesmo monoplio de um certo sector econmico
mundial. Este processo de concentrao econmico
pe em risco a livre concorrncia bem como as bases
do sistema econmico neoliberal criado em 1945.
A primeira gerao de multinacionais prove-
niente da Europa, destacando-se a Nestl (Sua),
Philips e Unilever (Holanda).
A partir da Segunda Guerra Mundial este fenmeno
universaliza-se, passando a existir uma segunda gera-
o de multinacionais, agora norte-americanas e
japonesas (General Motors, Ford, Exxon, General
Electric, Mobil, etc.).
Finalmente, assistimos ao aparecimento de uma
terceira gerao de multinacionais nos pases em
desenvolvimento (Amrica latina, Europa de leste,
Sudeste asitico).
A implantao das multinacionais em vrios pa-
ses tem por objectivos: diminuir os custos de pro-
duo, beneficiando de condies favorveis a nvel
fiscal, geogrfico (proximidade dos mercados e, ou,
das matrias-primas), social (mo-de-obra barata e
semi-especializada); diversificar as actividades,
maximizando os lucros e repartindo os riscos.
A Santa S (personificao internacional da Igreja
Catlica) pode ser considerada como actor secundrio
pela sua influncia na evoluo das Relaes
Internacionais.
Pelas suas caractersticas tem sido confundida quer
com um Estado (Vaticano), quer com uma orga-
nizao internacional (carcter internacional, per-
manncia, etc.).
Apesar de no ser um Estado detm algumas carac-
tersticas semelhantes: territrio (cidade do Vati-
cano), embora no gozando das caractersticas do ter-
ritrio de um Estado, uma vez que apenas um
espao concedido para fins especiais da Igreja (sede
da Santa S); populao, mas sem vnculo de nacio-
nalidade, pois trata-se de cidados ligados a uma fun-
o (cardeal, guarda suo, etc.); poder pblico (cria
romana), mas que constitudo, simultaneamente,
pelos rgos mais importantes da Igreja Catlica.
No sendo um Estado (podendo, apenas, ser con-
siderado o Estado da cidade do Vaticano como um
ACTORES DAS RELAES INTERNACIONAIS 6
enquanto que as segundas esto, pelo contrrio, des-
tinadas a desempenhar uma tarefa especfica ou a for-
necer certos servios materiais. Muitas vezes, as orga-
nizaes exercem simultaneamente funes jurdi-
cas e materiais.
Quanto aos poderes, podemos distinguir as orga-
nizaes intergovernamentais de cooperao e as
organizaes supranacionais (ou de integrao).
As organizaes internacionais de cooperao per-
tencem ao tipo clssico de organizao internacio-
nal. No possuindo poder de deciso sobre os Esta-
dos-membros (excepto no plano interno da organi-
zao, em questes administrativas e financeiras),
apenas possuem poder de recomendao.
Pelo contrrio, as organizaes internacionais
supranacionais dispem de um poder de deciso que
se sobrepe ao dos Estados-membros (e mesmo dos
indivduos). Existe, ainda, uma transferncia de com-
petncias do nvel nacional (at a, dos rgos pol-
ticos dos Estados) para os rgos da organizao
internacional, o que corresponde a uma eroso da
soberania dos Estados-membros.
A integrao precisamente o processo segundo
o qual se delega progressivamente poderes numa
organizao internacional at se chegar fase da
fuso das polticas nacionais numa poltica comum.
No mbito dos actores secundrios, importa cha-
mar a ateno para a opinio pblica, as firmas mul-
tinacionais, a Santa S, as organizaes no gover-
namentais, as minorias, os movimentos de liberta-
o nacional, os grupos terroristas, etc.
A noo de opinio pblica, nacional ou interna-
cional, ambgua, porque mais frequentemente
uma reconstruo intelectual, na qual os media
desempenham um papel decisivo, do que uma rea-
lidade incontestvel.
No entanto, esta ideia de opinio pblica pode ter
efeitos nas determinaes da poltica internacional.
A opinio pblica nacional pode pesar sobre o governo
de um pas democrtico, dado ser muitas vezes con-
siderada como a prefigurao das orientaes de voto.
Podemos definir a opinio pblica como a posio
expressa publicamente (pela imprensa, sondagens,
etc.), por um grande nmero de pessoas, sobre uma
questo, nacional ou internacional, de interesse geral
(que diz respeito a uma opo poltica, econmica,
social, etc.).
A opinio pblica assim, quanto composio,
plural, na medida em que constitui um conjunto de
opinies individuais mais ou menos convergentes. E
, geralmente, efmera porque se constitui em torno
de assuntos de preocupao imediata.
Nos pases democrticos, a evoluo da opinio
pblica observada pelos agentes polticos (da a
importncia das sondagens), procurando tirar par-
tido de um certo apoio popular e dele retirar, assim,
uma legitimidade maior.
A anlise do papel da opinio pblica no tem, efec-
tivamente, sentido real, seno num regime demo-
crtico, em que a legitimidade das decises polticas
provm da vontade popular expressa nas urnas.
Neste sentido, podemos considerar a opinio
pblica internacional como uma vasta convergncia
onde a populao de raa, lngua ou de religio dife-
rente.
Apesar da sua importncia como actor das Rela-
es Internacionais ser discutvel, as minorias tm
vindo a constituir-se como um elemento de eroso
dos Estados. Por outro lado, tem-se assistido (sobre-
tudo a partir da Segunda Guerra Mundial) a um
esforo por parte da comunidade internacional na
defesa dos direitos das minorias. O fracasso do sis-
tema de proteco das minorias, posto em prtica
pela SDN, levou a que se relanasse a questo no ps-
-guerra.
Inicialmente, a questo da defesa das minorias foi
englobada na defesa dos direitos individuais do
Homem. Em 1946, foi criada pela ONU uma Comis-
so para a luta contra medidas discriminatrias e pro-
teco das minorias. Actualmente, a defesa dos direi-
tos das minorias tem sido feita no seio das organi-
zaes internacionais (questo curda, etc.), nomea-
damente na ONU.
s minorias reconhecido o direito de conserva-
rem as suas caractersticas prprias: utilizao e
ensino das suas lnguas ou dialectos, liberdade de pr-
tica religiosa, respeito pelo seu patrimnio histrico-
-cultural, etc. Ao mesmo tempo, defende-se a sua no
discriminao relativamente maioria.
A exigncia de uma maior autonomia por parte de
algumas minorias tem dado lugar ao desenvolvi-
mento de movimentos separatistas dentro dos
Estados, constituindo, desse modo, um importante
factor de destabilizao/desagregao dos Estados. A
par dos mecanismos internacionais de proteco, o
federalismo aparece como uma das solues para o
problema das minorias.
Os movimentos de libertao nacional, segundo
Pascal Boniface, so organizaes polticas que lutam
em nome da sua populao, para a libertar de uma
tutela ou de uma ocupao ilegtima. Este conflito
com o poder central inscreve-se, a maior parte das
vezes, no jogo de potncias exteriores.
Para Max Gounelle, a Segunda Guerra Mundial
favoreceu a criao de movimentos de resistncia
contra o ocupante. Outros movimentos nasceram nos
territrios coloniais dos Estados europeus, com o
objectivo de aceder independncia. Da que exis-
tam vrios tipos de movimentos de libertao nacio-
nal, que podem ser integrados em dois grandes gru-
pos: movimentos de libertao nacional represen-
tantes de povos sob dominao colonial, estrangeira
ou racial; movimentos de libertao nacional repre-
sentantes de outros povos.
No que respeita ao primeiro grupo, poder-se- dizer
que o princpio do direito autodeterminao dos
povos o fundamento para a legitimao interna-
cional dos movimentos de libertao nacional, na
lgica de que os povos oprimidos tm direito sua
autodeterminao poltica. Neste caso, o movi-
mento de libertao nacional tem uma funo de uni-
ficao nacional e contribui para fazer emergir uma
conscincia nacional contra o Estado opressor.
Relativamente ao segundo grupo, encontramos
outras situaes: um povo oprimido no seio de um
Estado soberano por um governo tirnico; um povo
ACTORES DAS RELAES INTERNACIONAIS 7
quase-Estado ou Estado funcional, ou ainda como um
Estado-meio ao servio de uma causa espiritual),
a sua origem estatal os Estados Pontifcios per-
duraram desde o sculo IX at ao sculo XIX (1870
unificao italiana), permitindo ao Papa o papel de
um autntico soberano.
Com a unificao italiana e a perda dos Estados
Pontifcios colocou-se o problema da definio do
estatuto internacional da Santa S. Com o intuito
de o resolver, surgiu em 1871 a Lei das Garantias,
que atribua ao Papa as prerrogativas de um soberano,
mas aquela no foi aceite pela Santa S. O estatuto
da Santa S s seria definitivamente estabelecido em
1929, pelos Acordos de Latro, concludos pelo Papa
Pio XI e Benito Mussolini, onde se definia o estatuto
da Santa S, ligado sua misso e necessidades a
Itlia reconhece a soberania da Santa S no dom-
nio internacional como um atributo inerente sua
natureza, emconformidade com a sua tradio e exi-
gncias da sua misso no Mundo.
Os Acordos de Latro viriam a confirmar o que j
fora determinado pela Lei das Garantias, ou seja a
Santa S passou a gozar de personalidade jurdica
internacional limitada, nomeadamente, detendo o
poder de legao activa (nncios) e passiva, cele-
brao de tratados e participao nas organizaes
internacionais (geralmente como observador).
Podemos definir como organizao no governa-
mental (ONG) todo o agrupamento, associao, ou
movimento constitudo com carcter duradouro, por
particulares de diferentes pases, com vista pros-
secuo de objectivos no lucrativos (Marcel Merle).
A sua gnese (finais do sculo XIX) s poderia estar
ligada ao mundo ocidental (Europa e Estados Unidos
da Amrica), democrtico, pluralista, que permite um
papel internacional iniciativa privada.
So, ainda, caracterizadas pela diversidade quanto
sua dimenso, implantao, estrutura e objectivos.
Assim, temos as ONG corporativas, de menor impacto
internacional, cuja finalidade se restringe defesa dos
interesses dos seus membros (Conselho Internacional
dos Arquivos, etc.). Podemos encontrar, ainda, ONG
de carcter confessional (Conselho Ecumnico das
Igrejas), de carcter desportivo (Comit Internacional
Olmpico), de carcter humanitrio (Comit Internacio-
nal da Cruz Vermelha), de carcter poltico (as Inter-
nacionais), carcter sindical (Federao Sindical Mun-
dial, Confederao Internacional dos Sindicatos Livres,
Confederao Mundial de Trabalho) e as de carcter
militante (Greenpeace, Amnistia Internacional).
Assim, estas ONG procuram influenciar o com-
portamento dos Estados tirando partido do peso da
opinio pblica, estando o seu desenvolvimento
ligado emergncia de uma opinio pblica inter-
nacional e maior tomada de conscincia, relativa-
mente sua importncia, pelos governos.
O aumento do nmero de ONG (existem, hoje,
mais de 25 mil) resulta de vrios fenmenos: a glo-
balizao, a afirmao do papel dos indivduos nas
Relaes Internacionais e a importncia crescente
dos media na vida internacional.
De acordo com Max Gounelle, por minoria enten-
demos um grupo social incorporado num Estado,
de outra forma o que no impediu, aps a Guerra
do Iraque, que as antigas suspeitas regressassem.
Alguns autores defendem que um Estado terrorista
no somente aquele que comanda as aces de ter-
rorismo internacional, mas sobretudo aquele que uti-
liza maciamente a violncia no interior do seu pr-
prio territrio. Esta utilizao sistemtica da vio-
lncia tem como objectivo fazer reinar o terror, no
s no seio de todos os seus opositores, mas tambm
em todos aqueles que o regime em causa considere
como perigosos.
As seitas polticas so organizaes completamente
dominadas por uma retrica dogmtica, cujo con-
tedo ideolgico, impregnado de referncias revo-
lucionrias confusas, encontra o seu prolonga-
mento numa aco violenta levada a cabo com toda
a determinao de que o fanatismo capaz. Mesmo
que possam seduzir alguns fragmentos marginais da
sociedade onde se encontram, no conseguem ter
uma grande representao, como foram os casos da
Fraco Armada Vermelha, na Repblica Federal
Alem (RFA); das Brigadas Vermelhas, na Itlia; ou
da Aco Directa, em Frana.
Estas seitas, prisioneiras da sua viso deformada
do mundo, desapareceram, mas outros grupos sur-
giram, ainda mais brutais, a fomentar atentados mor-
tferos um pouco por todo o mundo: por exemplo os
GIA (Grupos Islmicos Armados), que aterrorizam
e massacram a populao argelina e organizam
atentados em Frana, ou a Al-Qaeda, com os aten-
tados recentes, de 11 de Setembro de 2001, nos EUA.
Estes grupos, com caractersticas diferentes, tm em
comum o fanatismo e o dio que os conduz ao assas-
sinato indiscriminado. So particularmente perigo-
sos, uma vez que se revelam capazes de congregar
um grande nmero de militantes prontos a tudo,
mesmo a morrer, bem como so totalmente inde-
pendentes de qualquer estrutura estatal, ainda que
possam estar infiltrados ou a ser manipulados por
outros actores polticos.
Se as guerrilhas clssicas quase desapareceram e
se o terrorismo de Estado no tem mais a impor-
tncia que teve, estas seitas, pelo contrrio, tm pro-
liferado ao ponto de aparecerem actualmente como
uma ameaa extremamente preocupante, porven-
tura a ameaa mais terrvel do sculo XXI (Chagnol-
laud).
Actualmente, a ameaa terrorista planetria,
tendo-se diversificado significativamente quanto
sua origem e modos de expresso (Bruguire).
ACTOS CONCERTADOS
NO CONVENCIONAIS
Instrumentos que, no sendo convenes internacio-
nais, pretendem todavia regular as relaes entre
os sujeitos de Direito Internacional, orientando as
suas condutas, mas sem assumir um carcter juri-
dicamente vinculativo (no constituindo, portanto,
acordos de vontade sob a forma convencional).
Alguma doutrina designa-os por acordos polticos
ou no normativos (Diez de Velasco). So inme-
ACTOS CONCERTADOS NO CONVENCIONAIS 8
exprimindo a sua recusa de viver na qualidade de
minoria no mesmo conjunto estatal que um outro
povo; um povo oprimido no seio de um Estado sobe-
rano por uma elite desptica, com o apoio econ-
mico, diplomtico e militar de um outro Estado;
movimentos separatistas europeus.
Como vimos, os movimentos de libertao nacio-
nal so entidades que no exercem autoridade legal
sobre um territrio especfico. O seu objectivo pre-
cisamente a aquisio de um territrio e a conse-
quente formao de um Estado.
Quanto aos grupos terroristas, importa referir que
existe uma grande diversidade de actores suscept-
veis de recorrer ao terrorismo, desde um pequeno
grupo de indivduos ou mesmo um indivduo isolado,
at aos poderosos servios especiais de um Estado.
No entanto, podemos distinguir, de acordo com
Chaliand, trs tipos principais de actores: os movi-
mentos de libertao, os Estados e as seitas polticas.
Os movimentos de libertao estiveram no cora-
o dos combates pela autodeterminao durante
toda a era da descolonizao. Estes movimentos eram,
na maior parte dos casos, organizaes populares
implantadas no seio da populao, em nome da qual
pegavam em armas, como, por exemplo, a Frente de
Libertao Nacional (FLN) na Arglia, a Organizao
de Libertao da Palestina (OLP), a Frente Nacional
de Libertao do Vietname do Sul, o Partido Africano
para a Independncia da Guin e Cabo Verde (PAIGC),
a Frente Popular da Libertao da Eritreia (FPLE),
na Eritreia, etc. Estes movimentos recorrem sobretudo
guerrilha, isto , aces de exausto/esgotamento
contra objectivos militares e econmicos do inimigo,
evitando operaes frontais, nas quais no teriam qual-
quer hiptese. Mesmo sendo estas aces quase sem-
pre qualificadas de terroristas pelo adversrio, elas
tm a ver com uma vontade global de combater uma
ocupao ou uma represso sentida por toda a popu-
lao ou, em todo o caso, por uma grande maioria
desta populao. Mas, ao mesmo tempo, claro que,
em certos momentos deste combate, estes movi-
mentos podem recorrer a aces de tipo terrorista,
nomeadamente quando visam pessoas inocentes que
no esto directamente implicadas no conflito.
A noo de Estado terrorista foi muitas vezes uti-
lizada para designar muitos pases do Mdio Oriente,
que se supunha estarem por trs de muitos dos aten-
tados contra bens e pessoas no Ocidente: foram os
casos da Sria, do Iro, da Lbia e do Iraque. Se, por
um lado, no existem dvidas de que estes Estados,
em algum momento, j recorreram ou ainda recor-
rem a este tipo de prticas, por outro, a deciso de
os designar como Estados terroristas tem na base
mltiplas motivaes que, no essencial, se encontram
relacionadas com os interesses dos Estados que assim
os designam. Esta designao implica uma conde-
nao que no de ordem tica mesmo que se tente
que esta prevalea , mas sim poltica. A atitude em
relao Sria um exemplo desta viso: durante
anos colocada na lista dos Estados terroristas, foi
objecto de sanes internacionais, mas desde que
escolheu o lado certo na Guerra do Golfo e na inter-
veno americana no Afeganisto, passou a ser vista
Direito Internacional, no se anunciando para breve
um regime consensual completo e coerente, pelo que
os mais importantes contributos so ainda os dou-
trinais. Neste plano vem-se defendendo como requi-
sitos da produo de efeitos obrigatrios, a tipicidade,
a imputabilidade e a publicidade dos mesmos. tam-
bm pacfica a distino entre actos unilaterais aut-
nomos dos actos no autnomos, no sentido em que
apenas aqueles subsistem independentemente de
outra fonte, ao passo que estes (os no autnomos)
surgem dependentes de costumes ou convenes.
Apenas so verdadeiramente relevantes os actos
autnomos, j que o regime dos restantes decorre do
regime aplicvel fonte de que estes so subsidi-
rios. Nos actos autnomos cujo elenco, apesar da
exigncia de tipicidade, nem sempre unnime
so normalmente identificados a declarao ou
notificao, o reconhecimento, o protesto,
a renncia e a promessa. Nos actos unilate-
rais no autnomos, distinguem-se normalmente
a adeso, a denncia e o recesso, as reser-
vas e as declaraes de aceitao, sendo certo que,
face no autonomia, aqui se podem integrar todos
os actos adoptados pelos Estados no mbito dos
processos de vinculao s convenes interna-
cionais.
tambm pacfica na doutrina, a distino entre
os actos unilaterais dos Estados (cujo elenco geral
se apresentou no pargrafo anterior) e os actos jur-
dicos unilaterais das organizaes internacionais,
onde vamos encontrar as resolues, recomen-
daes, decises, pareceres e sentenas ou
acrdos.
ADESO
Acto pelo qual um Estado ou outro sujeito de Direito
Internacional estabelece, no plano internacional, o
seu consentimento a ficar vinculado a uma conven-
o que no tenha assinado. Trata-se assim, de uma
particularidade das convenes multilaterais, que
permite que o regime se possa vir a aplicar tambm
a sujeitos que no participaram na negociao e/ou
no assinaram. Desta forma, a adeso surge como
alternativa ratificao (nos tratados solenes, a
qual normalmente reservada aos sujeitos que
tenham previamente assinado a conveno), ou pr-
pria assinatura (ou outro acto equivalente, nos
acordos em forma simplificada).
A adeso constitui o principal instrumento de
extenso de regimes convencionais, dando origem s
convenes abertas ou semi-abertas.
A sua admissibilidade depende dos termos da pr-
pria conveno ou de acordo posterior das partes
sobre a matria.
ADIDO DIPLOMTICO
o agente diplomtico com funes especializa-
das (militares, culturais, etc.). A nomeao de adi-
dos militares pode estar sujeita a prvia aprovao
pelo Estado acreditador.
ACTOS JURDICOS UNILATERAIS 9
ros os instrumentos actualmente utilizados a este
nvel: comunicados, declaraes, cartas, cdigos de
conduta, memoranda, protocolos, etc.
Os termos so em todo o caso equvocos, j que,
por exemplo, o termo carta e o termo protocolo so
tambm utilizados para referir convenes interna-
cionais propriamente ditas. A questo central deste
tipo de actos , alis, exactamente a da distino, na
prtica, entre estes actos concertados no conven-
cionais e os actos convencionais. A resposta a dar deve
remeter primariamente para a vontade das partes,
podendo ainda recorrer-se aos prprios termos
utilizados e s circunstncias em que foram elabo-
rados, conforme doutrina do Tribunal Internacional
de Justia no caso da Plataforma Continental do Mar
Egeu.
O facto de no produzirem efeitos vinculativos no
significa, no entanto, que no produzam efeitos
jurdicos. Assim, as expectativas criadas autorizam
determinadas condutas. Por outro lado, a solicitao
do seu cumprimento nunca configura uma inge-
rncia ou acto inamistoso e, com frequncia, estes
actos neutralizam a aplicao de eventuais regras
anteriores nas relaes mtuas. Refira-se finalmente
que contribuem para a formao de convenes (j
que em muitos casos se trata de esboos experi-
mentais de regime que, depois de verificados e corrigi-
dos segundo os ensinamentos decorrentes da sua
aplicao no obrigatria, vm a informar conven-
es internacionais).
No constituindo vnculos convencionais, o seu
incumprimento no origina responsabilidade inter-
nacional (na medida em que esse incumprimento no
constitui um ilcito internacional), e no plano for-
mal ainda de assinalar que no so registveis nem
susceptveis de serem introduzidos na ordem jur-
dica interna.
ACTOS JURDICOS UNILATERAIS
So actos imputveis a um nico sujeito jurdico
internacional (e nessa medida no tm carcter
convencional), mas que so susceptveis de modi-
ficar a ordem jurdica internacional, uma vez que
deles podem decorrer obrigaes para os sujeitos que
os adoptam, o que implica reconhec-los como fonte
de Direito Internacional. A no incluso destes no
elenco do artigo 38. do Estatuto do Tribunal Inter-
nacional de Justia (que refere exactamente quais as
fontes que o dito tribunal deve aplicar na apreciao
das causas que lhe so submetidas), alimentou durante
algum tempo uma discusso doutrinal sobre a sua
aceitao. A jurisprudncia internacional teve, por
isso, uma interveno determinante na afirmao e
clarificao do conceito. A querela parece hoje ultra-
passada com a sua consagrao praticamente un-
nime no elenco das fontes, sendo considerados mani-
festaes do exerccio de uma liberdade internacio-
nal que dispensam a aceitao contrapartida ou reac-
o j que no limitam outros sujeitos.
A matria vem sendo objecto, desde h anos, de um
esforo de codificao no mbito da Comisso de
mentos: a parceria para a adeso e a participao alar-
gada dos pases candidatos nos programas comuni-
trios e nos mecanismos de aplicao do acervo
comunitrio. A terceira seco constitui um estudo
de impacto dos efeitos do alargamento nas polticas
da Unio Europeia. Estas prioridades traduziram-se
num conjunto de cerca de vinte propostas legislati-
vas apresentadas pela Comisso Europeia em 1998.
O Conselho Europeu de Berlim chegou a um acordo
poltico global sobre este pacote legislativo em Maro
de 1999, o que permitiu a adopo final das medi-
das no decurso do mesmo ano.
AGENTE DIPLOMTICO
tanto o chefe da misso como qualquer membro
do pessoal diplomtico da misso.
Todo o agente diplomtico beneficia de um con-
junto de privilgios e imunidades inerentes s suas
funes, de onde se destacam a inviolabilidade pes-
soal (que implica a obrigao de proteco pelas auto-
ridades nacionais do Estado acreditador e que
impede a sua deteno ou priso em qualquer cir-
cunstncia), a liberdade de circulao, diversas isen-
es fiscais e imunidades jurisdicionais.
Simultaneamente, o agente diplomtico no pode
exercer qualquer actividade profissional ou comer-
cial no Estado acreditador em proveito prprio.
AGRMENT
Acto pelo qual o Estado acreditador d o seu acordo
em relao pessoa que o Estado acreditante pre-
tende nomear como chefe da misso diplomtica.
Trata-se de um acto livre, na medida em que a sua
recusa no tem de ser justificada.
AGRESSO
Ataque ou interveno ilegal, injustificada ou imo-
ral, de um Estado ou aliana de Estados contra outro.
De acordo com a definio da ONU, emprego da
fora armada contra a soberania, integridade terri-
torial ou independncia poltica de um outro
Estado. A definio de agresso colocou-se a partir
da Primeira Guerra Mundial, no mbito da segu-
rana colectiva, com o objectivo de determinar o
agressor e design-lo comunidade internacional
(Maurice Vaisse).
um conceito subjectivo, de tal modo que o que
um Estado possa entender como agresso, outro
possa considerar, por exemplo, como uma guerra
legtima de libertao. Alm do mais, pode no s
envolver conflito externo, mas incluir, tambm,
subverso interna, ajuda a insurgentes, sabotagem
econmica, entre outros. Assim, a agresso pode
tambm assumir um carcter econmico, atravs da
imposio de bloqueios ou boicotes. Tambm poder
acontecer que o Estado que dispara o primeiro tiro,
tecnicamente o agressor, o faa em resultado de for-
tes provocaes. Distingue-se a agresso directa,
ADOPO DOS TEXTOS CONVENCIONAIS 10
ADOPO DOS TEXTOS
CONVENCIONAIS
Acto de fixao do texto de uma conveno interna-
cional. A regra geral a da adopo resultar do
consentimento dos Estados que participaram na
negociao (ou elaborao), mas pode ser outro o
regime acordado para o efeito, sendo ainda que para
as convenes negociadas em convenes internacio-
nais se exige apenas uma maioria de 2/3 para a adop-
o do texto. A adopo das convenes negociadas
sob a gide de uma organizao internacional faz-
-se, por vezes, pelo rgo representativo das partes.
AGNCIA INTERNACIONAL
DA ENERGIA ATMICA (AIEA)
International Atomic Energy Agency
Organizao intergovernamental autnoma colocada
sob a gide das Naes Unidas. O seu estatuto foi
adoptado em 23 de Outubro de 1956, no seio das
Naes Unidas, e entrou em vigor em 29 de Julho de
1957. Tem como objectivo encorajar e facilitar o
desenvolvimento e utilizao da energia nuclear no
mundo para fins pacficos. A Agncia est principal-
mente encarregada, no quadro do Tratado de No
Proliferao Nuclear (TNP), de controlar a utiliza-
o pacfica das matrias nucleares nos pases que
no tm armas nucleares. Tem 132 Estados-membros.
AGNCIA MULTILATERAL PARA
A GARANTIA DOS INVESTIMENTOS
(AMGI)
Banco Mundial (Grupo)
AGENDA 2000
A Agenda 2000 um programa de aco adoptado
pela Comisso Europeia em 15 de Julho de 1997.
Constitui a resposta da Comisso aos pedidos do
Conselho Europeu de Madrid, de Dezembro de 1995,
no sentido de apresentar um documento global
acerca do alargamento e da reforma das polticas
comuns, bem como sobre o futuro quadro financeiro
da Unio a partir de 31 de Dezembro de 1999. Os
pareceres da Comisso sobre as candidaturas de ade-
so foram inseridos em anexo a este documento, que
trata do conjunto das questes que se colocam
Unio Europeia no incio do sculo XXI.
A Agenda 2000 comporta trs seces. A primeira
seco aborda a questo do funcionamento interno
da Unio Europeia, nomeadamente a reforma da Pol-
tica Agrcola Comum e da Poltica de Coeso Econ-
mica e Social. Contm igualmente recomendaes
destinadas a enfrentar o desafio do alargamento nas
melhores condies possveis e prope a criao de
um novo quadro financeiro para o perodo de 2000-
-2006. A segunda seco prope uma estratgia de
pr-adeso reforada, que integra dois novos ele-
populaes mais desfavorecidas ou em situao de
catstrofe.
A Unio Europeia (atravs da Comisso e dos
Estados-membros) actualmente um dos principais
contribuintes mundiais nesta matria, sendo essa
ajuda coordenada pelo Servio da Ajuda Humanitria
da Comisso Europeia (ECHO), ao qual cabe prestar
assistncia e socorro (sob a forma de bens ou servi-
os) s vtimas de catstrofes naturais ou de origem
humana, assim como de conflitos fora da Unio. Essa
ajuda assenta nos princpios de no-discriminao,
imparcialidade e humanidade. A distribuio da ajuda
est a cargo dos parceiros do Servio ECHO, nomea-
damente, das organizaes no governamentais, das
agncias humanitrias das Naes Unidas e de
outras organizaes internacionais.
ALIANA
Um acordo formal entre dois ou mais actores, geral-
mente Estados, com o propsito de coordenar o seu
comportamento perante a ocorrncia de contingn-
cias militares especficas. Prev, ento, colaborao
conjunta relativamente a questes de interesse
mtuo, em particular no que diz respeito a questes
de segurana. Aliando-se, presume-se que a segu-
rana ser melhorada numa, algumas ou em todas
as seguintes dimenses: um sistema de dissuaso ser
estabelecido ou consolidado; um pacto de defesa ser
operacionalizado em caso de guerra; parte ou todos
os actores se comprometero a no se envolverem
noutras alianas. Os aliados estipulam sob a forma
de tratado as condies segundo as quais a resposta
militar se aplica. No mnimo, a colaborao incluir
obrigaes mtuas aquando do incio das hostilida-
des, mas geralmente a colaborao estende-se para
alm disso. Exerccios militares conjuntos, treino de
pessoal e aquisio de armamentos so actividades
possveis sob a denominao de aliados. Estes pode-
ro necessitar de se apoiar diplomaticamente na con-
duo das suas polticas externas. As alianas pode-
ro ser secretas ou pblicas, bilaterais ou multila-
terais. No difcil compreender porque que sob
os conceitos tradicionais de centralismo, a diplo-
macia de alianas era entendida como high politics.
A aliana era uma varivel fulcral no sistema de
balana de poder. Os Estados assumiam-se como con-
trapesos contra um Estado ou coligao revisionista,
de forma a manter a estabilidade. Neste contexto, as
alianas eram contingentes, orientadas para um pro-
blema. Num sistema bipolar, as superpotncias pro-
curam aliados para enfrentar ameaas perceptveis
na periferia. Uma vez que as capacidades militares
esto distribudas de forma desigual nas alianas
bipolares, conflitos srios podero ocorrer no seio dos
blocos relativamente ao mbito e domnio da lide-
rana e apoios. Esta tendncia geralmente deno-
minada de policentrismo.
Num sistema multipolar, as dinmicas de aliana
so intrinsecamente mais fludas e poder haver
maior incerteza e menor previsibilidade quanto a
alteraes de poltica externa e de alianas. Os Esta-
GUA 11
como o ataque japons a Pearl Harbor em 1941, da
agresso indirecta, dirigida no contra o territrio
do Estado, mas contra o regime existente ou o
governo em funes, como a espionagem aeronu-
tica norte-americana em relao Unio Sovitica,
entre 1955 e 1960.
GUA
Tendo em ateno que a gua se transformou num
dos mais raros e cobiados recursos vitais; que a
populao mundial triplicou nos ltimos 100 anos
e o consumo da gua se multiplicou por seis; que
menos de 10 pases partilham entre si os recursos
naturais em gua; que um tero da humanidade tem
falta de gua; a gua tornou-se uma arma poltica e
estratgica, a ponto de provocar disputas e guerras
que certamente vo surgir neste sculo XXI (controlo
dos rios Tigre e Eufrates, das guas do Okavango, do
Jordo, Nilo, etc.).
AJUDA AO DESENVOLVIMENTO
Em geral, a ajuda ao desenvolvimento integra, como
o nome indica, todas as medidas que os Estados adop-
tam no sentido de apoiarem os esforos de desen-
volvimento por parte dos Estados que apresentam
carncias estruturais, em regra decorrentes dos pro-
cessos de independncia.
No mbito da Unio Europeia, esse esforo tem sido
objecto de uma concertao importante, o que per-
mite que na actualidade, em conjunto (UE e Estados-
-membros), a Europa contribua com mais de metade
de toda a ajuda prestada ao desenvolvimento.
Logo na criao da Comunidade Europeia, o
Tratado de Roma, de 1957, previa mecanismos de
ajuda aos pases e territrios ultramarinos dos
Estados-membros. Muitos destes viriam a formar
novos Estados, com o processo de descolonizao que
ocorreu a partir dos anos 1960, o que levou criao
de uma nova estrutura jurdica de enquadramento
dessa ajuda: os acordos de Yaound, seguidos depois
pelos acordos de Lom e actualmente pelo Acordo de
Cotonou, que regula o conjunto dos apoios (j no
apenas de natureza financeira) que so concedidos
aos pases ACP (frica, Carabas e Pacfico).
A ajuda ao desenvolvimento no quadro da Unio
Europeia foi ainda alargada aos pases mediterrneos
cuja proximidade e sensibilidade estratgica reco-
mendou a celebrao de acordos de associao bila-
terais e aos pases da Amrica Latina e da sia, tam-
bm atravs de acordos especficos.
O principal objectivo da poltica de desenvolvi-
mento da Comunidade Europeia a erradicao da
pobreza e envolve cooperao com outras institui-
es internacionais.
AJUDA HUMANITRIA
A ajuda humanitria engloba todos os contributos
de natureza material que ajudam ao bem-estar das
de 20 de Dezembro de 1993. O Alto Comissrio
nomeado por quatro anos, renovvel. Cabe-lhe coor-
denar todas as actividades levadas a cabo em favor
dos direitos humanos e sob o sistema das Naes
Unidas; acompanhar a aplicao prtica das normas
internacionalmente reconhecidas em matria de
direitos do homem; intervir em casos de violao
grave dos direitos do homem; assegurar a prestao
de servios consultivos e prestar assistncia tcnica
em matria de educao e de informao no dom-
nio dos direitos do homem.
Tem sede em Genebra.
ALTO COMISSARIADO DAS NAES
UNIDAS PARA OS REFUGIADOS
(ACNUR)
Foi criado em Janeiro de 1951 pela Assembleia Geral
das Naes Unidas. Apesar de ter um mandato ini-
cial de trs anos, este foi-se mantendo ao longo dos
anos.
, hoje, uma das organizaes humanitrias mais
importantes do mundo. A sua funo consiste em
conduzir e coordenar a aco internacional para a
proteco dos refugiados no mundo e a procura de
solues para os problemas que os afectam, aju-
dando-os a regressar aos seus pases de origem ou a
integrarem-se num outro pas. Tem como apoio dois
textos fundamentais, a Conveno de Genebra rela-
tiva ao estatuto dos refugiados de 1951 e o Protocolo
de Nova Iorque de 1967. Actualmente, o ACNUR pro-
tege e ajuda mais de 26 milhes de pessoas em 140
pases. Tem 57 Estados-membros.
AMBIENTE
A questo da proteco do ambiente, enquanto pro-
blema comum da humanidade, tornou-se da maior
importncia nas Relaes Internacionais, consti-
tuindo uma preocupao corrente e comum da socie-
dade internacional, uma vez que este fenmeno
no conhece fronteiras, exige uma abordagem trans-
nacional, a formao de um direito especfico do
ambiente e a noo de desenvolvimento sustentvel.
A emergncia de uma conscincia planetria desta
problemtica desenvolveu-se a partir da dcada de
1970, dando origem a numerosas conferncias e
cimeiras da Terra: Estocolmo, 1972; Rio de Janeiro,
1992; Nova Iorque, 1997; Kioto, 1997 (esta ltima,
aprovando um acordo para a reduo das emisses
de gazes com efeito de estufa, de forma a atenuar-se
o aquecimento da Terra); e Joanesburgo, 2002
(Maurice Vaisse).
AMNISTIA INTERNACIONAL
A Amnistia Internacional surgiu em 28 de Maio de
1961. A sua criao teve origem numa notcia publi-
cada no jornal ingls The Observer, em que era refe-
rida a priso de dois estudantes portugueses por
terem gritado Viva a liberdade! em pblico. O advo-
ALTERAO FUNDAMENTAL DAS CIRCUNSTNCIAS 12
dos podero envolver-se em hostilidades, no apoio dos
seus aliados ou manter-se afastados na expectativa
de que os outros no o faam. O sculo XX teste-
munhou a construo de alianas como um com-
portamento tpico dos Estados. Os exemplos de 1914
e 1939 (as duas grandes guerras) foram estudados no
sentido de validar as teorias de alianas e a ocorrncia
de guerra. Os resultados so ambivalentes quanto ao
facto das alianas impedirem ou promoverem a
entrada em guerra.
ALTERAO FUNDAMENTAL
DAS CIRCUNSTNCIAS
A questo da alterao fundamental das circunstn-
cias surge no mbito da teoria geral do negcio jur-
dico, consistindo em saber se, ou at que ponto, uma
alterao das circunstncias existentes data da con-
cluso de um negcio justifica uma alterao das
obrigaes assumidas pelas partes.
O regime, desenvolvido no mbito do Direito Civil
ao longo dos sculos, procura um equilbrio entre,
por um lado, a necessidade do cumprimento pontual
das obrigaes (que aconselha a no relevncia de
eventuais alteraes das circunstncias na vida dos
negcios jurdicos) e o reconhecimento de que sem-
pre podero surgir alteraes que, embora no tor-
nando impossvel o cumprimento, o agravam de forma
a que no deva continuar a ser exigvel.
No plano internacional (e especificamente no caso
das convenes internacionais), o regime acolhido
na Conveno de Viena de 1969 procura esse mesmo
equilbrio, consolidando uma prtica que no era
todavia clara (pelo menos a ponto de formar um
costume geral), principalmente por falta de uni-
formidade. Assim, fazendo jus designao latina de
clusula rebus sic stantibus, mantm-se o princpio
da obrigao pontual do cumprimento, prevendo-se
a possibilidade da cessao da vigncia apenas a ttulo
excepcional, nomeadamente pela verificao de um
conjunto de requisitos (em especial a demonstrao
de que as circunstncias que sofreram a alterao
eram elementos essenciais do acordo e, por outro
lado, que a exigncia da continuao do seu cum-
primento seria excessiva, j que a extenso das obri-
gaes havia sido alterada substancialmente).
Os tribunais internacionais tm mantido uma ati-
tude de desconfiana em relao possibilidade da
cessao da vigncia das convenes em razo da alte-
rao das circunstncias, no tendo ainda admitido
a sua aplicao em qualquer caso.
ALTO COMISSARIADO DAS
NAES UNIDAS PARA OS
DIREITOS HUMANOS
Ligado directamente ao secretrio geral, o mandato
de Alto Comissariado das Naes Unidas para os
Direitos Humanos procede da Carta das Naes
Unidas, da Declarao e Programa de aco de Viena,
assim como da Resoluo 48/141 da Assembleia Geral,
em relevo dois aspectos: a importncia das relaes
entre o sistema e o seu ambiente; e a importncia
da regulao do sistema por uma autoridade capaz
de gerar uma resposta adequada aos desafios prove-
nientes do ambiente.
A anlise do sistema ou sistmica consiste em estu-
dar o conjunto de interaces que se produzem entre
o sistema e o seu ambiente atravs de um esquema
ciberntico.
O sistema, constitudo por um conjunto determi-
nado de relaes, est em comunicao com o seu
ambiente atravs de mecanismos de inputs e outputs.
Os inputs so constitudos pelo conjunto de pedidos
e apoios que so dirigidos ao sistema. No interior do
sistema, estes pedidos e apoios so convertidos
pelas reaces combinadas de todos os elementos do
sistema provocando finalmente, por parte da auto-
ridade reguladora, uma reaco global que exprime
a forma como o sistema tentou adaptar-se aos inci-
tamentos e presses emanados do ambiente. Esta
reaco global (ouput) constitui a resposta do sis-
tema. No entanto, esta resposta (ouput) vai produ-
zir um novo circuito de reaco (feed-back) que, por
sua vez, vai contribuir para alterar o ambiente de
onde, seguidamente, partiro novos pedidos e apoios
e assim sucessivamente, numa lgica de circulao
ciberntica.
A anlise sistmica apresenta uma dupla vantagem.
Por um lado, permite elaborar leis de dinmica social,
pois esfora-se por ultrapassar a particularidade das
decises ou acontecimentos, elaborando, portanto,
um quadro de anlise de aplicabilidade geral.
Por outro lado, permite uma avaliao bastante
precisa entre as interaces que se manifestam, ao
longo de todo o circuito, entre as variveis internas
(aquelas que incluem o sistema) e as variveis exter-
nas (aquelas que incluem o ambiente).
A anlise sistmica sublinha que o sistema estu-
dado no existe seno em funo do seu ambiente e
que, portanto, ele s pode ser definido e analisado
em face da sua relao com o ambiente.
Em sntese, a anlise sistmica uma abordagem
terico-metodolgica que procura explicaes com
base no conceito de sistema, ou seja, no pressuposto
da existncia de um conjunto de relaes entre um
certo nmero de actores, compreendidas dentro de
um determinado tipo de ambiente, sujeito a um modo
de regulao adequado (Sistema internacional).
ANARQUIA
Caracterstica definidora da poltica internacional e
do sistema vestefaliano de Relaes Internacionais,
onde no existe um poder soberano superior que
regule as entidades do sistema. Anarquia, ento, a
inexistncia de um centro regulador de poder hie-
rrquico, com capacidade de definir e impor normas
e condutas que obrigue as unidades do sistema inter-
nacional. Da mesma forma que monarquia mono
arquia significa o governo de um governante, anar-
quia an arquia significa a ausncia de qualquer
governante. Assim, a poltica internacional anr-
ANLISE SISTMICA 13
gado britnico Peter Benenson lanou ento um
apelo no sentido de se organizar uma ajuda concreta
s pessoas presas devido s suas convices polticas
ou religiosas, ou em virtude de preconceitos raciais
ou lingusticos. Dez meses passados, representantes
de cinco pases estabeleciam as bases de um movi-
mento internacional. O primeiro presidente do
Comit Executivo Internacional da organizao
(1963 a 1974) foi Sean MacBride, laureado com o
Prmio Nobel da Paz em 1974.
A Amnistia Internacional tem membros activos
espalhados por todo o mundo. Conta com mais de
1 300 000 membros, assinantes e simpatizantes em
mais de 190 pases e territrios, e seces nacionais
organizadas em 59 desses pases. A organizao est
aberta a todos aqueles que apoiam os seus objecti-
vos. Os membros provm de todas as camadas sociais,
representam um leque variado de pontos de vista e
so encorajados a participar plenamente nas vrias
actividades do movimento.
Estas englobam a preveno de violaes de direi-
tos fundamentais dos indivduos por parte dos gover-
nos; a libertao de pessoas detidas devido sua ori-
gem tnica, sexo, cor, lngua ou opinies polticas;
a garantia de julgamentos justos para os prisionei-
ros polticos; a abolio da pena de morte, tortura e
outros tratamentos cruis.
ANLISE SISTMICA
A anlise sistmica est ligada ao aparecimento da
noo de sistema social e sistema poltico. Esta
noo, inicialmente formulada no domnio das
cincias da natureza com o intuito de demonstrar a
existncia de relaes entre elementos particulares
dentro de um conjunto complexo, s a partir de finais
do sculo XIX comeou a ser transportada, ainda que
de forma incipiente e pouco rigorosa, para o estudo
das Cincias Sociais. Na realidade, s na segunda
metade do sculo XX com os trabalhos de Talcott
Parsons, vemos emergir uma perspectiva clara e coe-
rente da noo de sistema social.
Segundo Parsons, existem quatro caractersticas
fundamentais em todo o sistema social, a saber: a
capacidade de manuteno (pattern maintenance)
todo o sistema deve ter a capacidade de preservar os
seus padres essenciais, reproduzindo-os e assegu-
rando a sua sucesso ao longo do tempo; a capaci-
dade de adaptao qualquer organizao e socie-
dade deve adaptar-se aos constrangimentos e mudan-
as inerentes ao meio ambiente onde se inserem; a
capacidade de obter determinados objectivos (goal
attainment) toda a organizao e sociedade tem um
ou vrios objectivos que tenta atingir; e a capacidade
de alcanar uma integrao social consiste na capa-
cidade de fazer com que as trs primeiras funes se
realizem de uma forma compatvel e consensual no
seio da sociedade.
Partindo desta primeira abordagem global de sis-
tema social, David Easton elaborou um modelo espe-
cfico para analisar os sistemas polticos. Assim,
Easton, na sua anlise sobre o sistema poltico, pe
um lado, Durkeim distingue duas formas de anomia:
forma aguda (de crise) e forma crnica (durvel). Por
outro, alarga o seu mbito. Assim, temos anomia eco-
nmica e anomia familiar.
Quaisquer que sejam as suas modalidades, o impor-
tante que para Durkheim a anomia designa sempre
uma forma de ruptura ou de enfraquecimento das
relaes sociais.
A partir de uma leitura mais atenta de Durkheim,
Reynaud, em As Regras do Jogo (1989), prope-se
redefinir a anomia como uma carncia de regula-
o. Esta perspectiva permite ao autor melhorar a
apresentao de Durkheim de duas maneiras. Por um
lado, a anomia desdramatizada, porque ela pode ser
compreendida como um fenmeno corrente da vida
social. Por outro lado, a palavra anomia deve ser uti-
lizada no plural, porque certos dfices de regulao
podem ser, apesar de tudo, importantes. Convir
ento procurar compreender porque se opera (ou
no) a passagem da anomia corrente (dita de ajus-
tamento) anomia aguda (anomia de crise).
Com o enfraquecimento do quadro estatal, ate-
nuou-se a especificidade das Relaes Internacionais
relativamente aos outros tipos de relaes sociais.
Deixou de ser possvel, como se fazia na origem, fun-
dar a disciplina sobre a distino entre o interno e
o externo, com, num caso, a existncia de um cen-
tro regulador, integrador, permitindo a harmoniza-
o das relaes sociais (o Estado) e, no outro, um
espao anrquico, fragmentado, no conhecendo
mais que a luta de todos contra todos na ausncia
de uma autoridade superior.
Dentro das fronteiras aparecem os espaos sociais
vazios, anmicos, sem penetrao estatal nem fide-
lidade poltica, ao mesmo tempo que, na cena inter-
nacional, multiplicaram-se os fenmenos transna-
cionais e sua correspondente ausncia ou dfice de
regulao. O dfice de regras aquilo a que desde
Durkheim se chama anomia uma caracterstica
das Relaes Internacionais. Todo o sistema social
conhece zonas de fraca regulao. A sociedade mun-
dial, deste ponto de vista, no excepo. Todavia,
ao nvel internacional, onde no existe um centro
regulador hierrquico, isso torna-se mais visvel. A
anomia internacional pode manifestar-se de maneira
provisria na sequncia de uma crise, de uma mudana
brusca (anomia aguda), ou de maneira crnica.
Recentemente, Bertrand Badie chamou a ateno
para as anomias da sociedade mundial no mundo ps-
-guerra fria, em virtude das debilidades da regula-
o internacional, das crises de dominao e das
vicissitudes da ordem econmica.
ANTICOLONIALISMO
Fenmeno que releva de mltiplos factores e que se
traduz por um conjunto de ideias e formas de rei-
vindicao de natureza nacionalista tendentes a
extinguir os imprios coloniais. Nascido na sequn-
cia da Primeira Guerra Mundial, alimentado pelo
wilsonismo, impulsionado pelo comunismo e apa-
drinhado pelos EUA, o anticolonialismo, a partir da
ANEXAO 14
quica no sentido em que no existe um governo inter-
nacional que governe hierarquicamente o sistema
internacional da mesma forma que acontece no sis-
tema nacional. Deste modo, o sistema internacional
contemporneo caracteriza-se por ter uma organi-
zao anrquica, onde as unidades principais do sis-
tema so Estados territoriais relativamente coesos e
soberanos sem um poder superior acima deles. Assim,
fala-se de anarquia internacional para referir a ausn-
cia de um soberano comum ao sistema, ao relacio-
namento entre entidades sem um poder acima delas.
Ao contrrio dos sistemas polticos internos, no sis-
tema internacional no existe um governo que dete-
nha o monoplio do uso legtimo da fora (Max Weber),
no existe uma polcia internacional e um tribunal
internacional que administre o uso legtimo da fora,
nem mesmo um consenso universal e inequvoco
sobre quais os valores e normas fundamentais que
devem regular o sistema internacional atravs do
Direito Internacional. Deste modo, a anarquia inter-
nacional, mesmo a madura (Barry Buzan) do final
do sculo XX e incio do sculo XXI, baseia-se num
sistema de auto-ajuda e de alianas, onde uns Estados
so mais fortes do que outros e onde estes podem ter
a tentao de subjugar os mais fracos sua fora
superior.
ANEXAO
Forma de adquirir territrio pertencente a outro
Estado ou terra nullis. geralmente um acto uni-
lateral, embora seja presumida a concordncia do seu
anterior detentor. Envolve a extenso de total sobe-
rania pelo novo Estado, nomeadamente o exerccio
de jurisdio e o controlo exclusivo da rea. Diferen-
cia-se de ocupao militar, embora a anexao possa
ser o resultado desta. A anschluss (unio) de 1938,
quando a ustria se tornou parte do reich alemo,
violando o estipulado nos Tratados de Paz aps a
Primeira Guerra Mundial, exemplo de anexao.
Como consequncia, entre 1938 e 1945, a ustria tor-
nou-se uma provncia do terceiro reich alemo.
ANOMIA INTERNACIONAL
A palavra anomia deriva do grego anomia, que sig-
nifica sem lei e conota iniquidade, impiedade, injus-
tia e desordem. Ressurgiu em ingls no sculo XVI
e foi usada no sculo XVII para significar desconsi-
derao pela lei divina. Reapareceu em francs por
intermdio de Guyau (1854-1888), professor de filo-
sofia no liceu Condorcet, que lhe deu uma conota-
o positiva. O conceito tornou-se importante para
as Cincias Sociais com os trabalhos do socilogo
mile Durkheim.
Na tese de Durkheim, A Diviso do Trabalho Social
(1893), a anomia considerada como um estado
anormal da diviso do trabalho que no gera solida-
riedade social. Neste contexto, segundo Durkheim,
a coeso social fragmenta-se e as regras tornam-se
inadaptadas ou insuficientes. Com o Suicdio (1895),
o conceito tornou-se mais operativo e extensivo. Por
nesta, a ordem interna arroga-se ao direito de fazer
depender a vigncia das regras de uma outra ordem,
do recebimento por si dessas mesmas regras (ainda
que eventualmente dispensando a prtica de qual-
quer acto, como acontece na recepo automtica),
ou, pelo menos, preserva a possibilidade de se pro-
nunciar sobre os termos dessa vigncia. Contra-
riamente, no regime da aplicabilidade directa, o que
se verifica a vigncia simultnea (a sobreposio)
de duas ou mais ordens jurdicas, sem que qualquer
uma delas se presuma exclusiva (impondo ou exi-
gindo a recepo das regras da outra). Trata-se de
uma perspectiva do chamado federalismo jur-
dico, na medida em que se ultrapassa o princpio da
exclusividade soberana (maxime legislativa) e se arti-
culam autonomamente diferentes nveis de compe-
tncias.
O regime da aplicabilidade directa aquele que
regula a vigncia do Direito Comunitrio derivado
nas ordens jurdicas dos Estados-membros da Unio
Europeia.
APLICABILIDADE IMEDIATA
A aplicabilidade imediata uma caracterstica dos
actos normativos, a qual se traduz na aptido de estes
produzirem de per se todos os efeitos visados pelo
acto. Assim, enquanto que o efeito directo tem a
ver com a susceptibilidade de criar obrigaes nos
seus destinatrios (sem que a ordem jurdica nacio-
nal destes tenha qualquer interveno), a aplicabi-
lidade imediata prende-se com a imediatidade (ou
no) dos efeitos, ou seja, conforme se referiu ante-
riormente, com o saber-se se o acto tem em si todos
os elementos necessrios para a produo de todos
os efeitos visados, ou se pelo contrrio, a obteno
desses efeitos pressupe uma interveno normativa
ou regulamentar mediadora de uma outra autori-
dade. O caso mais flagrante de ausncia de aplicabili-
dade imediata so as directivas comunitrias, actos
que muito embora directamente aplicveis no sen-
tido em que constituem instrues dadas s autori-
dades nacionais, as quais ficam imediatamente obri-
gadas a cumprirem-nas dentro do prazo que lhes
fixado (sem que surja qualquer interveno media-
dora ou de recepo prvia, por parte das autorida-
des nacionais) no tm, no entanto, aplicabilidade
imediata, uma vez que os efeitos pretendidos com a
directiva, apenas so obtidos com a sua transposio
(a qual implica a adopo pelas autoridades nacio-
nais de actos que garantam em termos internos os
objectivos nelas fixados).
APLICAO
Conjunto de instrues, tambm designado de pro-
grama, que executadas em sequncia permitem ao
computador realizar uma dada tarefa. Das aplicaes
mais divulgadas destacam-se as do grupo de produ-
tividade pessoal onde se incluem as aplicaes do
Microsoft Office: o processador de texto (Word), para
ANTROPOLOGIA 15
Segunda Guerra Mundial, acabou por se identificar
com a luta pela independncia. A partir da dcada de
1960, com a independncia de muitas das colnias
europeias, passou a exprimir a denncia do predo-
mnio econmico do Ocidente sobre todos os pases
do Terceiro Mundo, ou dos pases em vias de desen-
volvimento, acepo que veio at aos nossos dias.
No quadro das Naes Unidas, o recurso fora por
parte dos povos coloniais foi reconhecido como leg-
timo e inscrevendo-se na categoria de conflitos arma-
dos internacionais, ultrapassando os argumentos das
metrpoles de que se tratavam de rebelies internas
da exclusiva competncia da potncia colonial. O
Protocolo Adicional de Genebra, de Junho de 1977,
refora esta ideia, conferindo o estatuto de conflitos
armados internacionais aos conflitos contra o dom-
nio colonial, a ocupao estrangeira e regimes racis-
tas, no mbito do direito dos povos de dispor de si
prprios.
ANTROPOLOGIA
A antropologia aproxima-se da sociologia na pre-
tenso de compreender e explicar os factos sociais
na sua totalidade. No entanto, as duas Cincias
Sociais distinguem-se no que respeita aos respecti-
vos objectos de estudo. A Antropologia Social cons-
tri a sua investigao e o seu objecto em torno
essencialmente da questo do funcionamento das ins-
tituies, seja a famlia, o parentesco, as classes de
idade, a organizao poltica, etc. A Antropologia Cul-
tural, nascida nos Estados Unidos da Amrica com
Boas, no incio do sculo XX, organiza a sua inves-
tigao em torno dos objectos culturais e dos fen-
menos de transmisso da cultura.
APARELHO POLTICO
Conjunto de organizaes governamentais que pos-
sibilitam a administrao poltica normal de deter-
minado territrio.
APARTHEID
Palavra de origem africaans, derivada do holands,
que significa separao. Apareceu oficialmente em
1944 para designar a poltica de segregao racial e
de organizao territorial assumida pela frica do
Sul, com o objectivo, portanto, de separar as raas
e estabelecer uma hierarquia em que a minoria
branca dominaria as outras raas, sobretudo os
negros. O apartheid foi abolido oficialmente na frica
do Sul, em 1991.
APLICABILIDADE DIRECTA
Designao utilizada para identificar um dos regimes
de regulao das relaes entre duas ou mais ordens
jurdicas concorrentes. A consagrao do regime de
aplicabilidade directa implica algo mais do que uma
clusula de recepo ainda que automtica. que
O rgo arbitral distingue-se dos chamados meca-
nismos polticos de resoluo pacfica de conflitos,
na medida em que enquanto nestes, no se visa uma
soluo que vincule ou se imponha s partes, na arbi-
tragem (em geral, nos mecanismos judiciais ou juris-
dicionais) a deciso obrigatria para as partes. Alm
disso (no que tambm idntica aos tribunais perma-
nentes), essas decises so fundadas em conside-
raes jurdicas, pronunciadas por rgos indepen-
dentes e no mbito de procedimentos contraditrios,
com todas as garantias dos direitos de defesa e de
igualdade das partes. O que distingue a arbitragem
dos mecanismos judiciais que estes so perma-
nentes (ao passo que os rgos arbitrais so, em prin-
cpio, constitudos apenas quando a sua interveno
suscitada), sendo, alm disso, criados atravs de um
acto normativo geral (enquanto que os rgos arbi-
trais se constituem por decises individuais).
A arbitragem tem, portanto, um menor grau de
institucionalizao por comparao com os tribunais
permanentes, sendo que essa flexibilidade constitui
uma vantagem prtica, j que se mostra mais adap-
tvel s particularidades dos diferentes conflitos (e
s dificuldades de enquadrar entes que se reclamam
soberanos). , alis, de sublinhar que os mecanismos
arbitrais antecederam e informaram os tribunais
internacionais permanentes, os quais apenas no
sculo XX comearam a surgir.
O Tribunal de Conciliao e Arbitragem foi esta-
belecido em 1992 (Conveno de Estocolmo sobre
Conciliao e Arbitragem, resultante da Terceira
Reunio do Conselho da CSCE, 14 e 15 Dezembro de
1992) no seio da Organizao para a Segurana e
Cooperao na Europa (OSCE), e entrou em vigor em
1994. Visa a resoluo de disputas que lhe sejam sub-
metidas pelos Estados signatrios atravs de conci-
liao e, quando apropriado, arbitragem. As decises
do Tribunal so legalmente vlidas, contrariamente
prtica corrente da OSCE, cujas decises so dota-
das de validade poltica. O Tribunal no uma ins-
tituio permanente, mas formado por um grupo de
conciliadores e rbitros que reuniro sempre que
uma disputa lhe seja submetida. At aos dias de hoje,
nenhuma disputa foi submetida arbitragem do
Tribunal.
O uso poltico da arbitragem poder permitir redu-
zir as tenses, bem como constituir um processo
mais rpido e menos formal do que um tribunal tra-
dicional. A arbitragem no tem obtido sucessos
essencialmente devido ao consenso exigido para que
a arbitragem funcione. Alm do mais, o crescimento
de instituies regionais de carcter internacional
tem-se revelado uma fora na reduo do potencial
da arbitragem.
REA DE LIVRE COMRCIO
DAS AMRICAS (ALCA)
Free Trade Area of the Americas
Os esforos para unir as economias do hemisfrio oci-
dental num s acordo de livre comrcio comearam
APROVAO 16
introduo de texto; a folha de clculo (Excel), para
realizao de clculos; o sistema de gesto de base
de dados (access), para o armazenamento e trata-
mento de informao; e o powerpoint para a reali-
zao de apresentaes em computador.
APROVAO
Acto pelo qual um Estado ou outro sujeito de Direito
Internacional estabelece, no plano internacional, o
seu consentimento a ficar vinculado por uma con-
veno.
Na prtica, frequente a utilizao deste vocbulo
(ou de aceitao) para o acto que sendo equivalente
ratificao, , no entanto, praticado por outro
rgo que no o Chefe de Estado.
Deve distinguir-se a aprovao, enquanto acto
internacional (que visa a produo de efeitos jurdi-
cos internacionais, maxime da vinculao a uma
conveno), da eventual aprovao de convenes
internacionais que surja como mero acto interno. No
processo de vinculao do Estado portugus podem,
alis, verificar-se ambas as situaes (a aprovao
enquanto acto interno quando incide sobre trata-
dos solenes e enquanto acto internacional quando
incida sobre acordos em forma simplificada).
ARBITRAGEM
Mecanismo (jurisdicional) de regulao pacfica de
conflitos atravs da interveno de juizes escolhidos
pelas partes, na base do respeito pelo Direito e com-
prometendo-se estas a aceitar de boa-f a submisso
deciso produzida.
A utilizao da arbitragem remonta Grcia cls-
sica, subsistindo ao longo da Idade Mdia e vindo a
perder alguma importncia com o advento do Estado
soberano, na Idade Moderna. Sero os Estados anglo-
-saxnicos que a revitalizaro, nomeadamente com
a instituio, em 1794, do mecanismo que apreciou
as questes resultantes da sucesso americana. O
sucesso inspirou iniciativas semelhantes, no sculo
XIX, a partir do final do qual foram levados a cabo
importantes esforos de codificao das regras de fun-
cionamento arbitral (Tratado de Arbitragem de
Washington, 1871; Conveno de Haia de 1899,
relativa regulao pacfica de conflitos; Acto Geral
de Arbitragem de 1928, etc.). J no ps-guerra, a
Comisso de Direito Internacional (CDI) veio a apro-
var um conjunto de regras modelo para procedi-
mentos arbitrais, em 1958.
Como acontece em relao a todos os mecanismos
de regulao pacfica de conflitos, a sua implemen-
tao carece do acordo dos Estados interessados, o
que, no caso, integra o chamado compromisso arbi-
tral. Esse consentimento pode surgir tendo em vista
um litgio especfico caso em que ocorre a chamada
arbitragem facultativa ou pode ser estabelecido a
priori, normalmente no mbito de uma conveno,
para todos ou alguns dos litgios que surjam na sua
aplicao. Neste caso, designa-se, ento, por arbi-
tragem obrigatria.
a possibilidade de o fazer. bilateral, nunca unila-
teral, e quando a assinatura de um tratado de paz se
revela demasiado longnqua devido s caractersti-
cas particulares de um conflito, o armistcio poder
definir o status quo. Foi o caso do armistcio de 1949
entre Israel e os rabes at aos Acordos de Camp
David.
ARQUITECTURA EUROPEIA
O problema central da arquitectura europeia o da
articulao dos diversos enquadramentos formais
e informais nos quais so tratadas as questes de
interesse comum ao continente. Na sua origem, esses
enquadramentos so consideravelmente dspares a
diversos nveis. Assim, a mera comparao, por exem-
plo, entre a Comunidade Europeia (originalmente
Comunidade Econmica Europeia) com a EFTA,
permite-nos visualizar duas organizaes interna-
cionais que surgindo no mesmo momento histrico,
apontam modelos distintos (a criao de um Mer-
cado Comum no primeiro caso, e a criao de uma
Zona de Comrcio Livre, no segundo), e pressupe
relaes entre os Estados-membros de natureza tam-
bm elas distintas (no primeiro caso, a admisso de
decises tomadas apenas por maioria torna evidente
o carcter de integrao, ao passo que no segundo
se mantm um pleno respeito pelos mecanismos tra-
dicionais).
Uma comparao idntica podia ser feita no plano
estritamente poltico entre a Unio Europeia (ou
as Comunidades Europeias que lhe so anteriores)
e o Conselho da Europa, ou no plano militar entre
a Unio da Europa Ocidental e a OTAN. No cami-
nho ficam muitos outros quadros de relaes: OSCE,
Acordos de Associao (entre a UE e Estados euro-
peus), mecanismos de parceria estratgica, etc.
O conceito de arquitectura europeia surge quando
se pretende articular, de forma coerente, todos estes
quadros, evitando sobreposies, aumentando a
respectiva eficincia e principalmente, tornando evi-
dentes e portanto avaliveis por qualquer interes-
sado, participante ou no as consequncias da par-
ticipao em cada uma das componentes.
A questo surge a partir dos anos 1990, quando,
terminada a diviso leste-oeste, se mostrou urgente
clarificar os diferentes nveis de aproximao entre
os Estados europeus, desde logo por forma a que os
Estados do leste se pudessem posicionar num qua-
dro claro e estvel. Acresce que, nessa mesma altura,
se desenvolvia j, na Europa ocidental, um processo
que pretendia articular a EFTA com a Comunidade
Europeia (nomeadamente por via da construo do
Espao Econmico Europeu EEE). Pareceu natu-
ral, por isso, que se pensassem as questes em simul-
tneo, num quadro continental.
Houve ainda um outro elemento interno s
Comunidades que veio a ser articulado tambm.
Tratou-se da velhssima questo dos ritmos a que os
diversos Estados-membros pretendiam sujeitar o pro-
cesso de construo europeia. Assim, era patente
nessa altura, como hoje, alis, uma oposio entre
ARMAS CONVENCIONAIS 17
em Dezembro de 1994, na Primeira Reunio de
Cpula das Amricas, em Miami. Os chefes de Estado
e de governo das 34 democracias da regio acorda-
ram o estabelecimento da rea de Livre Comrcio das
Amricas, a ALCA, na qual se eliminariam progres-
sivamente as barreiras ao comrcio e ao investi-
mento, estando previsto o fim das negociaes no ano
2005.
As negociaes da ALCA comearam, formalmente,
em Abril de 1998, no Chile. Neste encontro, os diri-
gentes acordaram que o processo de negociao seria
transparente e teria em conta as diferenas dos nveis
de desenvolvimento e dimenso das economias nas
Amricas, com o objectivo de facilitar a participao
plena de todos os pases.
Em 2001, no Canad, adoptaram-se uma srie de
decises fundamentais para o processo de nego-
ciaes da ALCA, destacando-se a necessidade de
incrementar o dilogo com a sociedade civil, e a
importncia da assistncia tcnica s economias
mais pequenas para facilitar a sua participao na
ALCA.
As negociaes da ALCA desenrolar-se-o de
acordo com uma estrutura pr-determinada pelos
membros, que dever assegurar uma ampla repre-
sentao geogrfica dos pases participantes. Esta
estrutura prev a rotao da sua Presidncia.
ARMAS CONVENCIONAIS
Termo que se refere s armas usadas tradicional-
mente em conflitos, como contraposio s armas
de destruio macia, de carcter mais recente. O
advento das armas nucleares no reduziu, contudo,
a importncia das armas convencionais. Na realidade,
o inverso poder ser verdade, uma vez que as difi-
culdades em usar armas nucleares sublinham a
importncia das armas convencionais. Geralmente,
o termo refere-se s armas no-nucleares, podendo
incluir-se tambm nesta denominao as armas bio-
lgicas e qumicas.
ARMAS DE DESTRUIO MACIA
Termo colectivo usado para trs classes de sistemas
de armas, nomeadamente armas nucleares, biolgi-
cas e qumicas, tambm designadas ABC (atomic, bio-
logical and chemical). Em contraposio s armas
convencionais, as armas de destruio macia so
potencialmente mais destruidoras, gozam de uma
maior capacidade de dissuaso e so mais agressivas
em termos ambientais. A denominao de armas
de destruio macia foi popularizada na altura
da Guerra do Golfo, em 1991 e nas tentativas que se
seguiram para forar o desarmamento do Iraque.
ARMISTCIO
Cessao ou suspenso de hostilidades, aguardando
um acordo. No um tratado de paz, logo no ter-
mina legalmente a guerra, mas claramente permite
outro, fundamental separ-los para os compreen-
der melhor. O asilo um espao de competncia, o
refugiado uma qualidade caracterstica de uma pes-
soa. O asilo responde a uma prtica antiga, a noo
jurdica de refugiado recente e reflecte uma preo-
cupao concreta sobre a situao jurdica da pes-
soa que foge do seu pas. Asilo o que o refugiado
procura.
O asilo uma instituio que persistiu ao longo
das diferentes civilizaes e em circunstncias
variadas, desde o incio da Histria. A partir do sculo
XIX, o asilo foi outorgado a pessoas que tiveram de
fugir dos seus pases para escapar perseguio, mas,
at hoje, nenhum instrumento internacional de
cobertura jurdica universal elaborou uma definio
de asilo.
Ao nvel nacional, o direito de asilo foi incorporado
nas vrias constituies e legislaes internas e est,
muitas vezes, ligado ao estatuto de refugiado, nos
termos da Conveno de Genebra. As disposies
internas so, por vezes, mais generosas do que o
Direito Internacional, no que se refere ao direito de
asilo, porque este direito pertence unicamente ao
Estado, que no se quer sentir obrigado a faz-lo com
base numa qualquer regulamentao internacional.
O asilo implica uma proteco que dada num ter-
ritrio de um Estado, contra o exerccio da jurisdi-
o de outro Estado prtica internacionalmente
aceite devido ao princpio da soberania. Pode dizer-
-se que esta proteco constitui o ncleo duro da ins-
tituio do asilo, afirmando a segurana da pessoa
como um dos direitos fundamentais do indivduo
reconhecido na Declarao Universal dos Direitos do
Homem de 1948, juntamente com o direito vida e
liberdade.
O asilo, como instituio, continua mal definido
em Direito Internacional, e as fontes existentes do
poucas respostas universais. Na tentativa de encon-
trar um conceito, o Instituto de Direito Internacional
adoptou, na sua sesso em Bath, 1950, a seguinte
definio: Nas presentes Resolues, o termo asilo
designa a proteco que um Estado concede no seu
territrio, ou noutro local dependente de alguns dos
seus rgos, a um indivduo que veio procurar aquela
proteco.
ASSINATURA DE CONVENES
INTERNACIONAIS
Acto internacional prprio do processo de concluso
das convenes internacionais, que ocorre aps a
negociao ou adopo do texto e que pode ter
como efeito a vinculao do Estado que o pratica (se
assim for estabelecido ou se for essa a inteno do
Estado e resultar dos poderes do representante). Esta
situao alis a que caracteriza os acordos em
forma simplificada. Nos tratados solenes aque-
les em que a vinculao decorre da ratificao ou de
acto similar o acto da assinatura mantm-se, pro-
duzindo no obstante efeitos importantes: exprime
o acordo das partes quanto ao texto, tornando-o defi-
nitivo e autenticando-o, produz o direito de ratifi-
ASILO 18
os Estados que pretendiam acelerar o processo (faci-
litando a tomada de decises, alargando o mbito de
competncias, etc.) e os que se opunham mais ou
menos claramente a essa tendncia. Essa oposio
daria origem ao conceito de Europa a duas veloci-
dades que seria uma soluo para permitir o
avano do processo aos Estados empenhados nesse
sentido, admitindo-se que esses avanos no fossem
para todos. Esse conceito acabaria por ser parcial-
mente acolhido no mecanismo de cooperao refor-
ada introduzido com o Tratado de Amesterdo.
Daqui adviria aquele que parece ter sido o quadro
arquitectnico europeu mais coerente, que foi entre-
tanto desenhado e geralmente designado pela Europa
de crculos concntricos.
Neste quadro, o ncleo central da construo euro-
peia seria composto pelos Estados-membros das
Comunidades e mais tarde da Unio Europeia, mais
empenhados, seguido por um segundo crculo com-
posto pelos Estados-membros da UE no partici-
pantes; um terceiro crculo pelos Estados da EFTA
e um quarto crculo onde estariam os Estados asso-
ciados (note-se que os acordos de associao podem
ter ou no em vista a futura adeso). Este conceito,
embora nunca tenha sido assumido formalmente, foi
central durante os anos 1990. Ele padecia todavia de
uma limitao importante, na medida em que, cen-
trado na UE, no articulava devidamente os outros
quadros de relaes intra-europeias, alguns dos quais
muito sensveis como o caso da UEO/OTAN. Por
outro lado e talvez mais importante ainda a evo-
luo histrica retirou-lhe algum sentido. Isto por-
que a EFTA e o quadro do EEE se veriam quase esva-
ziados com a adeso UE da Sucia, ustria e
Finlndia, ao mesmo tempo que a aproximao dos
pases de leste seria consideravelmente mais marcada
pelo quadro militar.
Em qualquer caso, a questo da arquitectura euro-
peia permanece vlida e no menos necessria, j que
os diversos quadros de relaes intra-europeias con-
tinuam alheios a uma concepo coerente e estvel
cuja necessidade inquestionvel, j que o conti-
nente europeu continua a padecer de clivagens
importantes e as ameaas paz e ao desenvolvimento,
esto muito vivas.
ASILO
A doutrina que estuda o direito de asilo no mbito
do Direito Internacional Pblico, aponta vrias moda-
lidades de asilo, distinguindo o asilo interno do asilo
externo, consoante este se desenvolva dentro ou fora
dos limites de um Estado soberano.
Cada Estado tem a faculdade de conceder, ou no,
asilo poltico, mas nenhuma regra de Direito Inter-
nacional geral lhe impe esse procedimento.
O termo asilo de origem grega e provm da
partcula a mais a palavra sulo, que significa
textualmente sem captura, sem violncia, sem
devastao.
Apesar do conceito de asilo estar associado ao con-
ceito de refugiado, e ambos dependerem um do
ASSINATURA DIFERIDA
DE CONVENES INTERNACIONAIS
Constitui uma particularidade das convenes mul-
tilaterais, nos termos da qual permitido que deter-
minados Estados possam praticar o acto de assina-
tura aps o momento normalmente conjunto em
que esta efectuada. Em rigor, a adeso deveria
substituir esta soluo (permitindo a vinculao aos
Estados que no negociaram ou que, tendo nego-
ciado, no assinaram), no entanto, para casos de tra-
tados solenes em que o processo de entrada em vigor
pode prolongar-se no tempo, justifica-se a abertura
desta possibilidade que permite a entrada ou reen-
trada de um Estado no processo. O acto integra
assim uma das manifestaes de abertura das con-
venes internacionais.
ASSINATURA SOB RESERVA
DE RATIFICAO, ACEITAO
OU APROVAO
Figura prxima da assinatura ad referendum, dis-
tinguindo-se apenas na medida em que naquela,
espera-se uma confirmao (do acto entretanto pra-
ticado), ao passo que nesta se pretende apenas man-
ter o efeito de autenticao do texto, deixando auto-
ridade competente a apreciao do acto.
ASSISTNCIA HUMANITRIA
Actos de assistncia praticados por Estados em resposta
a catstrofes naturais, como sismos, cheias, incn-
dios, etc. De acordo com o Direito Internacional no
um dever, mas um acto de solidariedade, que deve
ser entendido como um acto positivo. O conceito tem
sido alargado e a sua utilizao mais ampla tem includo,
tambm, desastres de carcter social e endmico.
ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER
LINE (ADSL)
uma tecnologia utilizada para transmitir infor-
mao digital sobre linhas telefnicas analgicas ou
digitais (RDIS) com uma largura de banda elevada.
A assimetria (asymmetric) indica que a largura de
banda diferente nos dois sentidos, sendo mais ele-
vada no sentido fornecedor de servios utilizador.
Uma das vantagens do ADSL permitir em simul-
tneo a utilizao da linha telefnica para as cha-
madas de voz e dados.
ASSOCIAO DE COOPERAO
REGIONAL DA SIA DO SUL
South Asian Association for Regional Cooperation
(SAARC)
O Tratado de Associao foi assinado em Daca,
Bangladesh, em 8 de Dezembro de 1985, com o objec-
ASSINATURA AD REFERENDUM DE CONVENES INTERNACIONAIS 19
car, marca a data e o local pela qual a conveno passa
a ser conhecida, obriga as partes a absterem-se dos
actos que o possam privar do objecto ou fim, implica
o reconhecimento da existncia de regras jurdicas
sobre a matria, e torna imediatamente aplicveis as
clusulas finais. Para alm desses efeitos (de natu-
reza estritamente jurdicos), haver ainda que ter
presente o facto de a adopo por um nmero impor-
tante de Estados ter frequentemente um efeito pol-
tico eventualmente superior vinculao singular,
j que a existncia de diplomas em relao aos quais
se produziu um consenso inicial em termos de assi-
natura por um importante nmero de Estados, torna
politicamente muito difcil a adopo de actos que
contrariem esses regimes.
O acto de assinatura em representao do Estado
portugus compete ao governo, nos termos consti-
tucionais. No deve, no entanto, confundir-se a assi-
natura da conveno que um acto tipicamente
internacional, na medida em que visa primariamente
a produo de efeitos internacionais com a assi-
natura do Presidente da Repblica do acto de apro-
vao das convenes. Esta assinatura (do Presidente
da Repblica) distingue-se desde logo por no inci-
dir sobre a conveno (mas antes sobre o acto de
aprovao decreto do governo ou resoluo da
Assembleia da Repblica), por ser um acto interno
(que no visa a produo de efeitos internacionais)
e, ainda, por ser um acto vinculado (o Presidente da
Repblica apenas pode recus-la no caso de haver
inconstitucionalidade, tratando-se pois de um mero
controlo da legalidade).
ASSINATURA AD REFERENDUM
DE CONVENES INTERNACIONAIS
Designao dada assinatura de uma conven-
o internacional pelo plenipotencirio, quando
este faz depender todos ou alguns dos efeitos jur-
dicos prprios do acto de uma confirmao poste-
rior pela autoridade nacional competente. Tem
como figura prxima, a assinatura sob reserva de rati-
ficao, aceitao ou aprovao. A diferena entre
as figuras reside no facto de a assinatura ad refe-
rendum exigir mera confirmao, ao passo que
nestes casos, a assinatura serve apenas para auten-
ticao do texto, no indicando ou criando quaisquer
expectativas quanto deciso final da autoridade
competente.
ASSINATURA DEFINITIVA
DE CONVENES INTERNACIONAIS
Designao dada assinatura sempre que esta pro-
duza a vinculao do Estado (dispensando a futura
ratificao, aprovao ou outro acto). Trata-se, por-
tanto, de uma particularidade dos acordos em forma
simplificada.
Constitua a resposta possvel recusa continen-
tal de criao de uma vasta zona de comrcio livre,
abarcando todos os Estados-membros da ento
Organizao Europeia de Cooperao Econmica; e
exprimia a determinao da Gr-Bretanha de rejei-
tar a realidade inovadora da Comunidade Econmica
Europeia que, nos termos e com as intenes pol-
ticas que haviam presidido sua criao, era incon-
cilivel com as concepes britnicas sobre a coope-
rao econmica e poltica no quadro europeu. Por
outro lado, a Gr-Bretanha passava a poder negociar
com a Comunidade Europeia numa posio de fora,
no isolada, mas como representante de um grupo
de Estados coeso e disciplinado. A EFTA props-se
eliminar os obstculos s trocas comerciais mediante
a progressiva abolio dos direitos aduaneiros e das
restries quantitativas nas relaes entre os seus
membros.
Com os constantes alargamentos da Unio Euro-
peia, a EFTA est hoje reduzida a quatro pases:
Islndia, Liechtenstein, Noruega, Sua.
Apenas trs Estados pertencem ao Espao Econ-
mico Europeu, uma vez que a Sua no ratificou o
Acordo. Tem sede em Genebra.
ASSOCIAO LATINO-AMERICANA
DE INTEGRAO (ALADI)
Latin America Integration Association (LAIA)
o mais antigo e amplo foro de integrao da Am-
rica Latina.
Criada pelo Tratado de Montevideu, a ALADI suce-
deu em 1980 Associao Latino-Americana de
Comrcio Livre (LAFTA), que tinha sido lanada em
1960 por onze pases latino-americanos, mas com
poucos resultados.
Os mecanismos utilizados no Tratado foram
dois. De um lado, o estabelecimento de prefe-
rncias aduaneiras regionais, considerando trs
categorias de pases em funo dos respectivos
graus de desenvolvimento: Bolvia, Equador e
Paraguai, como menos desenvolvidos; os de est-
dio intermdio, como o Chile, Colmbia, Peru, Uru-
guai e Venezuela; e os mais desenvolvidos, Argen-
tina, Brasil e Mxico. Do outro lado, a possibili-
dade de acordos de cooperao parcelares, dentro
das reas cientficas, tecnolgicas, ambientais e turs-
ticas.
A ALADI prope-se fortalecer as relaes entre os
seus membros, dando especial nfase ao celebrar de
acordos bilaterais, modernizar a sua estrutura
produtiva, diversificar reas de cooperao, harmo-
nizar polticas macro-econmicas, promover uma
participao mais activa dos grupos sociais no pro-
cesso de integrao. Tem como objectivo, a longo
prazo, estabelecer um mercado comum latino-ame-
ricano.
Os Estados-membros da ALADI so a Argentina,
Bolvia, Brasil, Chile, Colmbia, Equador, Mxico,
Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Cuba. Tem a
sua sede em Montevideu.
ASSOCIAO PARA A COOPERAO REGIONAL DOS PASES RIBEIRINHOS DO OCEANO NDICO 20
tivo de promover o bem-estar das populaes da sia
do Sul e acelerar o crescimento econmico-social,
atravs de uma coordenao das polticas econmi-
cas e reduo de tenses internas na regio. So
Estados-membros: Bangladesh, Buto, ndia,
Maldivas, Nepal, Paquisto e Sri Lanka.
A cooperao econmica e social est orientada
pelos vectores de negociao produto a produto,
acrscimo da reduo dos direitos aduaneiros e medi-
das directas a favor do comrcio. No campo agrcola
foi constituda uma Reserva Alimentar de Segurana,
a fim de acudir a qualquer emergncia de um dos
Estados-membros. Na rea social, foi estabelecida
uma agenda para combater a pobreza, a aplicao de
trabalho intensivo nos processos de produo e uma
poltica de desenvolvimento humano. Tem sede em
Katmandou (Nepal).
ASSOCIAO PARA A COOPERAO
REGIONAL DOS PASES RIBEIRINHOS
DO OCEANO NDICO
Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation
(IOR-ARC)
Foi criada por iniciativa das Ilhas Maurcias, em
1997. Visa a constituio de uma organizao de
cooperao econmica na regio do Oceano ndico,
agrupando os pases includos no tringulo Austrlia
ndia frica. So Estados fundadores: frica
do Sul, Austrlia, ndia, Qunia, Ilhas Maurcias
e Singapura. A estes juntaram-se o Bangladesh,
Emirados rabes Unidos, Madagscar, Malsia,
Moambique, Om, Seicheles, Sri Lanka, Tanznia,
Tailndia e o Imen. Tem sede em Port Lus, nas Ilhas
Maurcias.
ASSOCIAO DE ESTADOS
DAS CARABAS (AEC)
Association of Caribbean States (ACS)
Criada em 1994, em Cartagena, tem por objectivo
promover a integrao econmica regional e a coope-
rao comercial. Tem 25 Estados-membros. A Frana
membro associado pela Guiana Francesa, Guada-
lupe e Martinica. Tem sede em Port of Spain (Trini-
dade e Tobago).
ASSOCIAO EUROPEIA
DE COMRCIO LIVRE
European Free Trade Association (EFTA)
Foi criada pela Conveno assinada em Estocolmo,
a 4 de Janeiro de 1960, e englobou inicialmente o
Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Sucia, ustria,
Sua e Portugal. A EFTA apareceu como uma ten-
tativa da Gr-Bretanha e dos seus parceiros para se
furtarem ao isolamento comercial a que a criao
do Mercado Comum Europeu poderia conden-los.
AUTENTICAO DE CONVENES
INTERNACIONAIS
Acto ou procedimento atravs do qual o texto de uma
conveno declarado autntico e definitivo.
Normalmente, a autenticao obtida pela assi-
natura, assinatura ad referendum, ou mera rubrica
do texto.
AUTOCRACIA
Exerccio do poder nas mos de um nico detentor
que no reconhece limitaes, nem se considera res-
ponsvel politicamente perante outro poder. Em
geral, o autocrata um governante divinizado, que
fundamenta a sua autoridade numa pretensa essn-
cia sobre-humana. Mas pode fundar esse direito na
revelao divina, nos mritos militares ou no privi-
lgio do sangue.
Na terminologia de Loewenstein, o sistema auto-
crtico caracteriza-se pela existncia de um deten-
tor nico do poder, cuja competncia abarca as deci-
ses polticas fundamentais e tambm a sua execuo.
A autocracia assume normalmente dois tipos de
regime: o autoritrio e o totalitrio. A grande dife-
rena entre estas duas concretizaes do modelo
autocrtico reside na extenso e profundidade do
poder (controlo) e no papel da ideologia (Autori-
tarismo e Totalitarismo).
AUTODETERMINAO
O direito ou aspirao de um povo com uma identi-
dade comum independncia e a escolher as suas
prprias instituies legais e polticas, determinando
quem o vai representar e governar, de modo inde-
pendente a qualquer controlo externo. O regime de
autodeterminao no implica necessariamente a
independncia, muito embora, na prtica, essa tenha
sido, regra geral, a soluo acolhida na maioria dos
processos.
AUTONOMIA
Significa, literalmente, governo prprio. Desse modo,
est associado ideia de soberania e independncia.
Na tradio das Relaes Internacionais todos os
Estados se assumiam como autnomos, isto , no
estavam sujeitos a autoridade externa, quer espiri-
tual (por exemplo, a Igreja) quer temporal (por exem-
plo o Imprio Romano). Os Tratados de Vesteflia de
1648 marcam o incio da autonomia do Estado e,
logo, da natureza anrquica do sistema internacional.
Propostas recentes tm usado o conceito de auto-
nomia, questionando a relao tradicional entre auto-
nomia e Estado. A autonomia agora entendida, par-
ticularmente por tericos da escola pluralista, como
uma questo de grau e no de forma absoluta. Deste
modo, no mais um substituto para soberania, mas
um critrio alternativo. Os actores internacionais
podem exercer autonomia relativa e actores estaduais
e no-estaduais podero ser comparados nesta base.
ASSOCIAO INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO (AID) 21
ASSOCIAO INTERNACIONAL
PARA O DESENVOLVIMENTO (AID)
Banco Mundial (Grupo)
ASSOCIAO DAS NAES
DO SUDESTE ASITICO
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
Criada em Agosto de 1967, pela Declarao de Bangkok,
a organizao nasceu num contexto de identidade
anticomunista de cinco pases da regio Malsia,
Singapura, Tailndia, Filipinas e Indonsia (tendo o
Brunei aderido em 1984) , com objectivos de desen-
volvimento econmico, social e cultural, assim como
a paz e segurana regionais, atravs do reforo da
cooperao poltica. Com o desaparecimento da
ameaa comunista, vieram a aderir ASEAN o
Vietname (1995), o Laos e a Birmnia (1997) e o
Camboja (1999). Em 1992, a ASEAN concluiu um
acordo sobre a abertura de uma zona de comrcio
livre (AFTA), que entrou em vigor em Janeiro de
2002.
Em 1996, foi criado o Frum Regional da ASEAN
(ARF) para as questes de segurana na zona
sia-Pacfico, que rene ao presente, alm dos Esta-
dos-membros da organizao, a Austrlia, o Canad,
a China, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, os
EUA, a ndia, o Japo, a Monglia, a Nova-Zelndia,
a Papusia Nova Guin e ainda a Rssia e a Unio
Europeia.
Comeando nos anos 1960 com um grau de coope-
rao limitado a algumas actividades econmicas, a
cooperao econmica da ASEAN no s se apro-
fundou como tambm se alargou nos ltimos anos.
A cooperao econmica na ASEAN, no s inclui
medidas de liberalizao do comrcio, como tambm
abolio das fronteiras e actividades de promoo de
investimento. Est tambm a ser criada legislao em
novos campos de cooperao, tais como servios e
propriedade intelectual. Importantes decises esto
tambm a ser tomadas para elevar e estreitar a coope-
rao industrial atravs de um novo esquema que
ter em conta as actuais necessidades e a situao
econmica na ASEAN. Outras medidas, tais como o
desenvolvimento do sector privado, das infra-estru-
turas e o investimento regional, tm-se mostrado fru-
tuosas.
Em 1995, em Bangkok, os Estados-membros pro-
curaram intensificar uma maior cooperao econ-
mica, decidindo a acelerao e aprofundamento
dos compromissos assumidos na AFTA (ASEAN
Free Trade Area), a expanso da cooperao eco-
nmica em novos sectores (tais como nos servi-
os e noutros sectores ainda no regionalizados),
a criao de um projecto de cooperao industrial,
a AICO (ASEAN Cooperation) e propondo-se, ainda,
a criar uma rea de investimento, a AIA (ASEAN
Investment Area), para atrair mais investimento para
a regio.
O seu secretariado localiza-se em Djakarta.
AUTORIDADE 22
Na rea do nacionalismo e conflito tnico, o termo
autonomia tambm tem sido desafiado. O argumento
clarifica que poucos ou provavelmente nenhum
Estado autnomo no verdadeiro sentido, uma vez
que apresentam tendncias centrfugas, dicotomias
maioria/minoria. Estes grupos no interior dos
Estados, ao procurarem autonomia, esto a ques-
tionar a unidade do Estado. O resultado deste pro-
cesso poder ser a criao de mais Estados sempre
que as exigncias de autonomia levem desagrega-
o do Estado inicial. Nesta perspectiva, a viso cls-
sica de autonomia recuperada dos restos da estru-
tura estadual.
AUTORIDADE
Faculdade conferida a algum de se fazer obedecer.
A autoridade legitima actos ou ordens emanados
de um indivduo ou instituio. Significa o direito
da fazer algo ou instruir algum para o fazer, como
por exemplo mandar abrir fogo sobre uma multido
ou assinar um documento legal vinculativo. O con-
ceito de autoridade deve ser distinguido do de poder,
este ltimo indicando mais capacidade do que
direito enquanto o poder a capacidade de influen-
ciar o comportamento de outros, a autoridade o
direito de o fazer. Alm do mais, enquanto a autori-
dade est fortemente associada ao reconhecimento
da legitimidade para agir e no dever de obedecer, o
poder poder implicar manipulao, persuaso ou
coero. Ao poder obedece-se com receio de repre-
slias, a autoridade aceita-se.
Max Weber distinguiu trs tipos de autoridade,
baseados nos diferentes aspectos em que a obedin-
cia pode ser estabelecida: autoridade tradicional
enraizada na histria; autoridade carismtica deri-
vada da personalidade; e autoridade racional-legal
com base num conjunto de regras impessoais.
AUTORITARISMO
Regime poltico em que o poder se concentra numa
pessoa ou num grupo, sem que se verifique qualquer
tipo de controlo ou fiscalizao poltica, por parte de
quem governado. Habitualmente os termos auto-
ritarismo e totalitarismo confundem-se, embora tra-
duzam realidades distintas e prprias. Nos regimes
autoritrios, sendo manifesta a ausncia de liberdade
e competio polticas, o Estado no pretende ter o
monoplio de interveno na sociedade civil, man-
tendo a actividade privada, nomeadamente no plano
econmico.
Pode existir religio oficial, mas isso no significa
imposio de prtica religiosa, nem a confuso entre
as direces do Estado e da Igreja. Este tipo de regi-
mes pode ainda ser caracterizado pelo culto do chefe,
concentrando-se na maior parte dos casos na figura
do lder toda a aco poltica e de carcter pblico.
bros, eleitos pelos governadores, e um presidente,
eleito pelo conselho de administrao.
Qualquer pas africano que tenha o estatuto de
Estado independente poder-se- tornar membro regio-
nal do Banco. A rea geogrfica qual os membros
regionais e as actividades de desenvolvimento do Banco
se podem alargar compreende o continente africano.
Os pases no regionais, que sejam ou se tornem
membros do Fundo Africano de Desenvolvimento ou
que tenham dado, ou estejam a dar, contribuio para
o Fundo Africano de Desenvolvimento em termos e
condies semelhantes aos termos e condies do
Acordo de Constituio do Fundo Africano de Desen-
volvimento, podero tambm ser admitidos no Banco.
Tem 77 Estados-membros: 53 pases africanos e 24
pases dos continentes americano, asitico e euro-
peu. O Fundo Africano de Desenvolvimento completa
a aco do Banco atravs da concesso de emprsti-
mos com condies preferenciais. Portugal mem-
bro no regional desde 15 de Julho de 1983.
Tem sede em Abidjan (Costa do Marfim).
BANCO ASITICO DE
DESENVOLVIMENTO (BAD)
Asian Development Bank (ADB)
Criado a 4 de Dezembro de 1965 por iniciativa da
Comisso Econmica e Social das Naes Unidas para
a sia e o Pacfico, este banco tem por objectivo
fomentar o crescimento econmico e a cooperao
na regio da sia e do Extremo Oriente e contribuir
para a acelerao do processo de desenvolvimento
econmico dos Estados-membros.
Ao nvel da estrutura, tem um conselho de gover-
nadores (cada pas designa um governador), um con-
selho de administrao (de doze membros eleitos por
dois anos), um presidente do conselho de adminis-
trao (eleito pelo conselho de governadores) e trs
vice-presidentes (nomeados pelo conselho de admi-
nistrao).
Podem ser membros do Banco, membros e mem-
bros associados da Comisso Econmica das Naes
Unidas para a sia e o Pacfico, e outros pases regio-
nais e no regionais desenvolvidos que sejam mem-
bros das Naes Unidas ou de qualquer das suas agn-
cias especializadas.
BALANA DE PODER
Traduz uma condio de equilbrio geral, de tal modo
que nenhum Estado tenha capacidade para dominar
os outros, evitando uma situao de hegemonia ou
predominncia. Desta forma, mantm-se intacta a mul-
tiplicidade de Estados numa condio de equilbrio
que permite a manuteno do status quo. Conceito
central ao realismo, onde ordem e estabilidade esto
acima de consideraes de justia ou legitimidade.
BALCANIZAO
Termo utilizado para descrever a fragmentao de
uma unidade poltica num conjunto de entidades
independentes. O termo balcanizao foi, na sua
forma original, usado para descrever a poltica russa
de finais do sculo XIX nos Estados da pennsula bal-
cnica (Albnia, Bulgria, Grcia, Romnia e Jugos-
lvia), na altura, parte integrante do Imprio
Otomano, donde deriva o termo balc, palavra turca
para montanha arborizada. Aps a desagregao da
Jugoslvia entre 1992 e 1996, o termo balcanizao
assumiu conotaes mais negativas, sendo muitas
vezes associado a genocdio e limpeza tnica, e reflec-
tindo uma poltica deliberada de diviso para dominar.
BANCO AFRICANO DE
DESENVOLVIMENTO (BAfD)
African Development Bank (AfDB)
Foi criado a 4 de Agosto de 1963, em Khartoum (Sudo).
O objectivo do Banco consiste em contribuir para
o desenvolvimento econmico e o progresso social
dos seus membros, individualmente e em conjunto.
No desempenho das suas funes, o Banco procura
cooperar com instituies de desenvolvimento nacio-
nais, regionais e sub-regionais de frica. Com o mesmo
propsito, coopera com organizaes internacionais
que visem uma finalidade semelhante e com outras
instituies que se relacionem com o desenvolvi-
mento em frica.
Tem como rgos um conselho de governadores,
que rene os representantes de todos os Estados, um
conselho de administrao, composto por nove mem-
B
Trata-se de uma instituio sem fins lucrativos, que
no aceita depsitos de poupana ou de contas cor-
rentes. O BEI financiado por emprstimos con-
trados nos mercados financeiros e pelos capitais dos
seus accionistas os Estados-membros da Unio
Europeia. Estes subscrevem em conjunto o capital
do banco, sendo a contribuio de cada pas pro-
porcional ao seu peso econmico na Unio.
Os projectos financiados pelo Banco so seleccio-
nados de acordo com os seguintes critrios: devem
contribuir para concretizar os objectivos da UE, nomea-
damente o reforo da competitividade das indstrias
e das pequenas e mdias empresas europeias; criar
redes transeuropeias (transportes, telecomunicaes
e energia); impulsionar o sector das tecnologias da
informao; proteger o ambiente natural e urbano;
e melhorar os servios da sade e educao. Devem
ainda beneficiar principalmente as regies mais des-
favorecidas e atrair outras fontes de financiamento.
Estes critrios aplicam-se tanto s actividades rea-
lizadas na UE como em pases terceiros. Embora cerca
de 90% das actividades do BEI tenham lugar na Unio
Europeia, uma parte significativa dos financiamen-
tos canalizada para os novos Estados-membros. O
BEI promove igualmente o desenvolvimento susten-
tvel nos pases do Mediterrneo, frica, Carabas e
Pacfico, e apoia projectos na Amrica Latina e na sia.
Por ltimo, o BEI accionista maioritrio do Fundo
Europeu de Investimento, criado em 1994 para finan-
ciar investimentos em pequenas e mdias empresas.
O BEI uma instituio autnoma, o que lhe per-
mite tomar as suas decises no que respeita acti-
vidade creditcia unicamente em funo dos mri-
tos dos projectos e das oportunidades oferecidas pelos
mercados financeiros. O banco apresenta todos os
anos um relatrio com um balano completo das suas
actividades.
As decises do Banco so tomadas atravs dos seus
rgos. O conselho de governadores constitudo pelos
ministros designados pelos Estados-membros, geral-
mente os ministros das finanas. Compete-lhe definir
as linhas gerais da poltica de crdito, aprovar o balano
e o relatrio anual, autorizar o banco a financiar pro-
jectos fora da Unio e decidir sobre os aumentos de
capital. O conselho de administrao, presidido pelo
presidente do banco, composto por 24 membros desig-
nados pelos Estados-membros e um designado pela
Comisso Europeia. Compete-lhe aprovar as operaes
de crdito e velar pela boa gesto do BEI. Por fim, o
comit executivo, que o rgo executivo a tempo
inteiro do banco, assegura a gesto corrente do BEI.
BANCO EUROPEU DE RECONSTRUO
E DESENVOLVIMENTO (BERD)
European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD)
Criado em 29 de Maio de 1990 por trinta pases, o
BERD entrou em vigor a 15 de Abril de 1991.
De iniciativa francesa, o objectivo do Banco con-
siste em contribuir para o progresso e a reconstru-
o econmica dos pases da Europa Central e Orien-
24 BANCO CENTRAL EUROPEU (BCE)
O Banco tem 61 Estados-membros, dos quais 43
so Estados asiticos e 17 europeus e da Amrica do
Norte. Portugal membro no regional desde 20 de
Dezembro de 2001. Tem sede em Manila.
BANCO CENTRAL EUROPEU (BCE)
European Central Bank (ECB)
O Banco Central Europeu (BCE) foi institudo em 30
de Junho de 1998 e est em vigor desde Janeiro de
1999. O Banco tem personalidade jurdica e cons-
titudo pelos seguintes rgos de deciso: um con-
selho, uma comisso executiva e um conselho
geral. O conselho o rgo mximo composto pelos
membros da Comisso Executiva (o presidente e o
vice-presidente so comuns aos dois rgos) e pelos
governadores dos bancos centrais dos Estados-mem-
bros da UEM, que define a poltica monetria e esta-
belece as orientaes necessrias para a sua execu-
o. A comisso executiva, composta pelo presidente,
pelo vice-presidente e por dois a quatro vogais, todos
eles nomeados pelos governos dos Estados-membros
da UEM durante um perodo de oito anos, no sendo
o mandato renovvel, tem a seu cargo a gesto quo-
tidiana do BCE e, em particular, a execuo da pol-
tica monetria, de acordo com as decises do con-
selho do BCE. Por fim, o conselho geral composto
pelo presidente e pelo vice-presidente do BCE e pelos
Governadores dos bancos centrais de todos os Estados-
-membros da Unio Europeia, o qual assegura o tra-
balho necessrio para a eventual adeso de outros pa-
ses. Estes rgos so independentes das instituies
comunitrias e das autoridades nacionais.
O BCE a nica entidade habilitada a autorizar a
emisso de notas de banco na Comunidade, podendo
essas notas ser emitidas pelo prprio BCE ou pelos
bancos centrais nacionais. Compete-lhe intervir no
mercado cambial, ou solicitar essa interveno a um
banco central; adoptar regulamentos sobre a defini-
o e execuo da poltica monetria da Comunidade
e sobre a poltica de superviso prudencial das ins-
tituies de crdito e de outras instituies finan-
ceiras, com excepo das empresas de seguros; tomar
decises necessrias realizao das atribuies
cometidas ao Sistema Europeu de Bancos Centrais;
formular recomendaes e emitir pareceres sobre tais
matrias. Tem sede em Frankfurt.
BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS
(BEI)
Investment European Bank (IEB)
Criado em 1958 pelo Tratado de Roma, o Banco Euro-
peu de Investimentos (BEI) contribui para a reali-
zao dos objectivos da Unio Europeia atravs do
financiamento de certo tipo de projectos de investi-
mento: os que promovem a integrao europeia, o
desenvolvimento equilibrado, a coeso econmica e
social e uma economia baseada no conhecimento e
na inovao.
25
Saudita), com o fim de promover um sistema de
financiamento baseado na lei islmica (charia), e de
assegurar uma solidariedade financeira entre os
Estados-membros da Organizao da Conferncia
Islmica e as minorias muulmanas dos Estados-
-membros. Tem 54 Estados-membros e a sua sede
localiza-se em Jiddah.
BANCO MUNDIAL (GRUPO)
World Bank
O Banco Mundial constitudo por trs organizaes
intergovernamentais: o Banco Internacional para a
Reconstruo e Desenvolvimento (BIRD), a Associa-
o Internacional para o Desenvolvimento (AID) e a
Sociedade Financeira Internacional (SFI). O Banco
Internacional para a Reconstruo e Desenvolvi-
mento, popularmente conhecido como Banco
Mundial, foi criado na Conferncia de Bretton
Woods, de 1944. As actividades do Banco comearam
em Junho de 1946, com 41 pases, tendo sido defi-
nidos os seguintes objectivos: auxiliar a reconstru-
o e o desenvolvimento dos territrios dos Estados-
-membros, facilitando o investimento de capitais para
fins produtivos, inclusivamente para restaurar as eco-
nomias destrudas ou desorganizadas pela guerra,
readaptar os meios de produo s necessidades do
tempo de paz e encorajar o desenvolvimento dos
meios de produo e dos recursos nos pases menos
desenvolvidos; promover os investimentos privados
no estrangeiro, atravs de garantias ou participaes
em emprstimos e outros investimentos realizados
por capitalistas particulares e, na falta de capitais pri-
vados disponveis em condies razoveis, suprir o
investimento privado, fornecendo, em condies
apropriadas, meios de financiamento para fins pro-
dutivos provenientes do seu prprio capital, de fun-
dos que reunir e dos seus recursos; promover o
desenvolvimento equilibrado a longo prazo do
comrcio internacional e manuteno do equilbrio
das balanas de pagamentos, encorajando os investi-
mentos internacionais.
O Banco Mundial d apoio apenas aos Estados-
-membros e a projectos dos Estados ou com garan-
tias dadas por estes ou pelos bancos centrais, estando
o apoio ao sector privado cometido Sociedade Finan-
ceira Internacional.
Podem distinguir-se vrias fases na filosofia e no
modo de actuao do Banco Mundial. Numa primeira
fase, a fase da reconstruo logo a seguir Guerra,
estava em causa, fundamentalmente, um problema
de financiamento a pases de tradio industrial. At
1954, foram afectadas Europa mais de 50% das ver-
bas totais. O papel do Banco foi perdendo todavia relevo
face ao maior volume de verbas da ajuda do Plano
Marshall. Ainda nos anos de 1950 e principalmente
nos anos 1960, houve uma mudana sensvel na pol-
tica do Banco, passando-se para a promoo de pa-
ses menos desenvolvidos, com a Amrica Latina a
absorver a parcela mais significativa dos fundos.
A Associao Internacional para o Desenvol-
vimento foi criada em Setembro de 1960, em resul-
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID)
tal que se comprometam a respeitar e aplicar os prin-
cpios de democracia multipartidria, do pluralismo
e da economia de mercado, em favorecer a transio
das economias desses pases para economias de mer-
cado e neles promover a iniciativa privada e o esp-
rito empresarial.
O Banco trabalha em estreita colaborao com todos
os seus membros, com o Fundo Monetrio Interna-
cional, o Banco Internacional de Reconstruo e
Desenvolvimento, a Sociedade Financeira Internacio-
nal, a Agncia Multilateral de Garantia dos Investi-
mentos e a Organizao de Cooperao e Desenvolvi-
mento Econmicos. Tambm coopera com a Organi-
zao das Naes Unidas, as suas agncias especializadas
e qualquer outro organismo conexo, bem como com
qualquer outra entidade, pblica ou privada, interessada
no desenvolvimento econmico dos pases da Europa
Central e Oriental e no investimento nesses pases.
So 62 os membros do Banco: 60 pases da Europa,
da sia-Pacfico, da frica e da Amrica assim como a
Unio Europeia e o Banco Europeu de Investimento.
Ao nvel da estrutura composto por um conse-
lho de governadores, um conselho de administrao
e um presidente.
O BERD mais um banco comercial do que um
banco de desenvolvimento. um organismo finan-
ceiro misto em termos de operaes activas, na
medida em que no s concede emprstimos e garan-
tias, mas tambm pode participar no capital de
empresas privadas. Portugal membro desde 7 de
Maro de 1991. Tem sede em Londres.
BANCO INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO (BID)
Inter-American Development Bank (IDB)
Criado em 8 de Abril de 1959, o Banco tem por objec-
tivo contribuir para o processo de desenvolvimento
econmico e social, individual e colectivo, dos pa-
ses membros em vias de desenvolvimento. Financia
projectos de desenvolvimento que tm pouco capi-
tal privado e fornece uma assistncia tcnica para a
execuo de projectos.
Ao nvel da estrutura, o Banco composto por uma
assembleia de governadores, rgo plenrio e ins-
tncia suprema; um conselho de administrao,
rgo restrito e permanente, composto por 12 mem-
bros, responsvel pela execuo das operaes do
Banco; e um presidente do conselho de administra-
o, tambm presidente do Banco. O BID composto
por 46 Estados-membros regionais e extra-regionais:
28 pases americanos e 18 da Europa, sia e Mdio
Oriente. Portugal membro extra-regional desde 9
de Maio de 1996. Tem sede em Washington.
BANCO ISLMICO DE
DESENVOLVIMENTO (BID)
Islamic Development Bank (IDB)
O BID foi criado em 1974, pelos ministros das finan-
as da Conferncia Islmica, em Jiddah (Arbia
So ainda instituies do grupo, o Centro Interna-
cional para a Resoluo de Diferendos Relativos a
Investimentos (CIRDI) e a Agncia Multilateral para
a Garantia dos Investimentos (AMGI).
O CIRDI pertence ao Grupo do Banco Mundial e
foi criado em 1966, com o objectivo de promover a
arbitragem e a conciliao entre os investidores
estrangeiros e os pases de acolhimento. Embora o
recurso ao CIRDI seja facultativo, as suas decises
so vinculativas. Recentemente, o CIRDI tem vindo
a desenvolver tambm uma importante tarefa de
investigao e informao na rea do Direito
Internacional dos investimentos directos.
A AMGI foi criada em 1985, na Conveno de Seul,
entrando em vigor a partir de 1988. Tem hoje mais
de 150 membros. Foi determinada pela necessidade
de se dar cobertura ao chamado risco poltico (de
guerras, perturbaes sociais, expropriaes, etc.),
em especial nos pases mais sensveis a perturbaes
sociopolticas. Tem tambm um papel de promoo
e acolhimento do investimento estrangeiro. Os
investidores requerem os seguros junto da Agncia,
que, antes de os conceder, faz uma avaliao tendo
em conta a qualidade dos investimentos e a sua ade-
quao ao desenvolvimento dos pases a que se des-
tinam. A sua estrutura inclui um conselho de gover-
nadores, um conselho de administradores e um pre-
sidente.
BANCO MUNDIAL PARA A
RECONSTRUO E
DESENVOLVIMENTO (BIRD)
Banco Mundial (Grupo)
BANCO DE PAGAMENTOS
INTERNACIONAIS (BIS)
Bank for International Settlements (BIS)
Foi criado em 20 de Janeiro de 1930, em Basileia,
para gerir as indemnizaes pagas pela Alemanha
s potncias aliadas, de modo a que as transfern-
cias no causassem perturbaes no mercado de
capitais.
Tem como objectivos, promover a cooperao entre
bancos centrais; providenciar facilidades adicionais
para operaes financeiras internacionais; e, agir
como garantia ou agente em relao a acordos finan-
ceiros internacionais com risco atravs de acordos
entre as partes.
Tem como rgos um conselho de directores e um
presidente, e a sede em Basileia (Sua).
BEHAVIORISMO
Abordagem ao estudo da Cincia Poltica e de outras
Cincias Sociais que centra a sua anlise nas aces
e interaces entre unidades, atravs do uso de mto-
dos cientficos de observao que incluem, sempre
que possvel, a quantificao de variveis. Esta abor-
BANCO MUNDIAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO (BIRD) 26
tado da constatao de que, sendo os capitais do BIRD
obtidos no mercado de capitais, os juros no pode-
riam ser suportados pelos pases mais desfavoreci-
dos. Nos termos do Convnio Constitutivo, compete-
-lhe promover o desenvolvimento econmico, aumen-
tar a produtividade, melhorando dessa forma o nvel
de vida em regies menos desenvolvidas do mundo
cujos pases sejam membros da Associao e em par-
ticular prestando-lhes auxlio financeiro de modo a
satisfazerem as suas necessidades bsicas de desen-
volvimento, em termos mais flexveis e com reflexos
menos gravosos na balana de pagamentos do que
os originados por emprstimos convencionais, favo-
recendo desse modo a prossecuo dos objectivos de
desenvolvimento do BIRD e complementando as suas
actividades.
A deciso de financiar os projectos atravs da
Associao ou do Banco depende do nvel de desen-
volvimento dos pases: h pases que, pelo seu escasso
desenvolvimento, apenas so financiados pela AID;
outros podem ter tambm financiamento do BIRD;
alguns ainda podem recorrer a este ltimo (mesmo
ento tm de registar valores reduzidos de rendi-
mento per capita).
A Sociedade Financeira Internacional foi criada em
Maio de 1955, e entrou em funcionamento em Julho
de 1956. A SFI est associada ao Banco Mundial, mas
uma entidade jurdica distinta. De acordo com o
seu Acordo constitutivo, a SFI auxiliar, em asso-
ciao com o capital privado, o financiamento da cria-
o, melhoria e expanso de empresas produtivas do
sector privado, de modo a contribuir para o desen-
volvimento dos Estados-membros (esses investi-
mentos sero efectuados sem garantia de reembolso
pelo governo membro interessado e apenas nos casos
em que se no encontre disponvel capital privado
suficiente em condies razoveis); procurar reu-
nir oportunidades de investimento, capital privado
nacional e estrangeiro e experincia de direco; pro-
curar estimular e ajudar a criar as condies que
orientem o fluxo do capital privado nacional e estran-
geiro para investimentos produtivos nos Estados-
-membros. A SFI destina-se, assim, a fornecer apoio
financeiro ao sector privado, com emprstimos ou
com a participao no capital das empresas. Na sua
actuao, a SFI obedece aos princpios do cataliza-
dor, de acordo com o qual procura dinamizar e asso-
ciar os investidores privados; do negcio, de acordo
com o qual assume os riscos do sector privado (no
dispondo de garantias especiais); e da contribuio
especial, de acordo com a qual s participa quando
acrescenta algo de novo, levando investimento a um
pas de grande risco ou num sector que de outro
modo no iniciaria a sua actividade.
A SFI constitui a mais importante fonte de inves-
timento, no sector privado, dos pases em vias de
desenvolvimento. As ajudas efectuam-se sob a forma
de emprstimos, de participaes ou de garantias
de emisso, e no se realizam seno quando os
fundos no possam ser obtidos pelas vias priva-
das. A durao dos emprstimos cerca de 10 anos
e taxa de 7% acrescida de uma participao nos
lucros.
o de recursos e polticas ao nvel global. Assim, os
bens que no podem ser reclamados por nenhum
Estado em particular e pertencentes de facto huma-
nidade, como a gua da chuva, o ar, a atmosfera, a
estratosfera, so tradicionalmente considerados
bens comuns.
As discusses sobre a proteco do meio ambiente
resumem por si s todo o interesse e todas as difi-
culdades da nova noo de governao mundial.
A governao mundial seria um meio de gerir os bens
comuns da humanidade pela regulao de siste-
mas de interaces, implicando actores de natureza
muito diferente e assentando na necessidade de se
implementar numa nova tica de responsabilidade
comum.
BENELUX
Unio Aduaneira entre a Blgica, Pases Baixos e
Luxemburgo estabelecida em 1 de Janeiro de 1948,
a qual constituiu um importante passo para a recons-
truo econmica da Europa, aps a Segunda
Guerra Mundial. Em 1958, foi assinado o Tratado que
deu corpo unio econmica dos pases do Benelux,
seguido de diversas medidas como a livre circulao
de bens e capitais, que representaram uma expe-
rincia pioneira em matria de cooperao econ-
mica entre pases vizinhos. A importncia do Benelux
foi atenuada pelo aparecimento da Comunidade
Econmica Europeia, da qual todos os pases do
Benelux so membros.
BILATERALISMO
Refere-se a assuntos que afectem duas partes, por
oposio ao unilateralismo (uma parte) e ao
multilateralismo (muitas partes). Nas Relaes
Internacionais geralmente usado para indicar pol-
ticas conjuntas adoptadas por dois actores, Estados
ou organizaes internacionais, em particular, rela-
tivamente a relaes comerciais, de defesa e diplo-
mticas.
BINRIO
Sistema de numerao de base dois, em que apenas
se utilizam dois algarismos: o 0 (zero) e o 1 (um).
Toda a informao armazenada ou processada nos
computadores representada neste sistema.
BIPOLARIDADE
Termo associado ao perodo da guerra fria, marcado
pela existncia no sistema internacional de duas
potncias ou plos dominantes os Estados Unidos
da Amrica e a Unio Sovitica. Contrasta com o con-
ceito de multipolaridade ou policentrismo que tra-
duz a existncia no sistema internacional de vrios
centros de poder dominantes.
BELIGERANTE 27
dagem behaviorista, tambm conhecida por escola
cientfica por oposio escola tradicional , con-
sidera que apenas o comportamento observado e
observvel relevante para o trabalho cientfico.
Desta forma, os behavioristas tm uma profunda
preocupao em utilizar a metodologia cientfica
geral nas Cincias Sociais e rejeitar todas as abor-
dagens que analisam conceitos ou problemas no
passveis de observao comportamental verificvel.
Os adeptos desta corrente metodolgica das
Relaes Internacionais empregam rigorosos mto-
dos das Cincias Sociais, nomeadamente de natureza
estatstica, para desenvolver e pr prova teorias que
expliquem o comportamento dos actores das Relaes
Internacionais.
BELIGERANTE
O beligerante surge em situaes em que a unidade
e integridade do Estado questionada atravs do uso
de meios militares. O beligerante apresenta um grau
de organizao superior ao insurrecto, na medida
em que tem um comando organizado e controlando
parte do territrio, desenvolve dentro deste, outras
funes que no exclusivamente militares (admi-
nistrativas, sanitrias, educacionais, etc.).
um sujeito de Direito Internacional cujo reconhe-
cimento tem carcter constitutivo e que , frequente-
mente, realizado pelo prprio Estado cuja integridade
ameaada, por forma a irresponsabilizar-se pelos
actos cometidos por este.
BEM COMUM
Originalmente introduzido por S. Toms de Aquino,
segundo o qual o bem comum significava uma sn-
tese entre a ordem e a justia, o ponto mais acabado
do desenvolvimento pessoal e, ao mesmo tempo,
comunitrio.
Na concepo liberal norte-americana, o bem
comum refere-se ao bem pblico e ao progresso e
melhoria das condies de vida da humanidade, pela
virtude, criatividade e esprito empreendedor dos
cidados livres. A sua essncia reside na procura de
garantir na vida social os benefcios da cooperao
voluntria. Com razes nestas duas tradies uni-
versalistas, catlico-romana e liberal-americana,
actualmente, o tema dos global commons tem domi-
nado os debates nas organizaes internacionais.
Aqui, o conceito vai muito alm da concepo que
faz referncia prtica dos bens comuns da Europa
feudal, ou dos bens comunais, e assume a viso pla-
netria globalista onde todos os seres humanos par-
tilham os mesmos bens. Os bens comuns pertencem
ao conjunto da humanidade e devem ser considera-
dos como elementos de responsabilizao de uma
relao interdependente entre o individual e o glo-
bal, ou seja, onde cada um responsvel pela sobre-
vivncia de todos. Deste modo, este conceito actual-
mente utilizado como princpio legitimador de uma
autoridade, e consequente regulamentao jurdica,
com intuito de uma melhor distribuio e governa-
nacionais. Em qualquer caso, consiste em impedir
as comunicaes, por terra ou mar, de um Estado ou
regio. A sua finalidade ltima visa impedir as rela-
es entre uma potncia inimiga e os outros Estados.
Pode ser total ou abranger apenas o comrcio de cer-
tos bens.
BOA-F
A exigncia da boa-f, surge referida no regime rela-
tivo ao direito dos tratados, em dois momentos: na
fase pr-convencional (sendo impostas s partes
obrigaes decorrentes da boa-f, tal como a de no
privar o tratado do seu objecto ou fim aps a assi-
natura e enquanto se aguarda a ratificao) e na fase
convencional, relativamente execuo (j que
regra geral deverem ser os tratados executados de
boa-f). O sentido a atribuir parece ser o de agir sem
fraude lei, com fidelidade e lealdade aos com-
promissos assumidos. A regra convencional que mais
precisa essa noo de execuo de boa-f (da conven-
o) parece ser a constante no Tratado de Roma,
quando no artigo 10. se impe s partes (Estados-
-membros) uma dupla obrigao positiva de adop-
o das medidas necessrias ao cumprimento e de
facilitao da aco das outras partes e das institui-
es e uma obrigao de absteno (dos actos que
possam perturbar a boa execuo do tratado, ou seja,
a realizao dos objectivos fixados para a Comuni-
dade).
BOICOTE
A palavra nasce em 1880, de Boycott, nome de um
proprietrio rural irlands que exigia rendas dema-
siado elevadas pela terra e a quem os camponeses
opuseram resistncia, obrigando-o a abandonar essa
regio. , por isso, uma fora de presso que con-
siste em provocar o isolamento de uma pessoa, grupo,
empresa, instituio ou mesmo de um pas atravs
do corte de relaes sociais, econmicas ou polti-
cas, de forma a lev-lo a ceder naquilo que se pre-
tende. O boicote pode ser primrio ou directo, no
caso de se tratar de um corte de relaes entre ata-
cante e atacado, e pode ser secundrio ou indirecto
quando visa induzir terceiros a aderir poltica de
bloqueio em relao ao objecto atacado. Quando
transcende o mbito nacional, o boicote levanta pro-
blemas do Direito Internacional e pode ser exercido
de diversas maneiras: diplomtico (retirada de
embaixadores), blico (bloqueio martimo), etc.
BONS OFCIOS
Mecanismo poltico de regulao pacfica de confli-
tos (tpico, j que expressamente previsto no artigo
33. da Carta das Naes Unidas), que consiste na
interveno de um terceiro que oferece os seus servi-
os (ou convidado), apenas tendo em vista o es-
tabelecimento ou restabelecimento do dilogo entre
as partes, sem que venha a tomar parte nas nego-
ciaes.
BIT 28
BIT
Abreviatura de Binary Digit (dgito binrio) que repre-
senta um 0 (zero) ou um 1 (um). Um conjunto de 8
bits designado por byte e usado como unidade de
medida de quantidade de informao digital. Os ml-
tiplos do byte mais comuns so: o Kilobyte (1 Kbyte
= 1024 bytes), o Megabyte (1 Mbyte = 1024 Kbyte)
e o Gigabyte (Gbyte = 1024 Mbyte). Um caracter
representado segundo a norma ASCII por um valor
numrico entre 0 e 255 e armazenado num byte.
BITS PER SECOND (BPS)
Unidade de medida da velocidade de transmisso de
informao digital, tambm designada algumas
vezes por largura de banda (bandwidth). Esta
medida representa o nmero de bits de informao
enviados por segundo.
BLITZKRIEG
Termo estratgico alemo que designa guerra
relmpago. Estratgia adoptada por Hitler na
Segunda Guerra Mundial, implicando uma srie de
ataques rpidos e curtos contra alvos isolados, e que
representou uma nova era na arte da guerra. Previa
uma vitria esmagadora antes de qualquer reaco
ou resposta organizada e coordenada. O exemplo mais
ilustrativo prende-se com a invaso da Polnia. A 1
de Setembro de 1939, tanques e infantaria de 52 divi-
ses do exrcito alemo entraram de rompante pela
fronteira ocidental da Polnia e em apenas trs sema-
nas derrotaram o inimigo. Para alm da dimenso
militar, a Blitzkrieg envolve tambm aspectos diplo-
mticos e econmicos, procurando evitar a forma-
o de alianas militares na Europa que pudessem
pr em risco a estratgia, e evitando a mobilizao
de toda a economia domstica alem para o esforo
de guerra, como acontece em conflitos prolongados,
alm de permitir o acesso e controlo de novas fon-
tes de matrias-primas. Apesar dos seus sucessos ini-
ciais, a Alemanha acabou por ser derrotada no con-
flito mundial devido entrada dos Estados Unidos
da Amrica na guerra, ao lado dos Aliados.
BLOCO
Termo utilizado nas Relaes Internacionais para des-
crever um conjunto de Estados reunidos por uma
causa ou interesse especfico, seja militar, econmico,
ideolgico ou poltico, como por exemplo o bloco oci-
dental e o bloco comunista no perodo da guerra fria.
Diferentemente de uma aliana, no requer adeso
a um tratado formal.
BLOQUEIO
O bloqueio tanto pode ser uma modalidade opera-
cional de guerra como uma soluo coerciva, mas
pacfica, de tentativa de resoluo de conflitos inter-
se alarga, caracterizando-se o mundo moderno pela
racionalizao. A empresa econmica racional, a
gesto do Estado pela burocracia racional; a socie-
dade moderna tende para a organizao.
A burocracia um dos sintomas da racionalizao
prpria da modernidade, consistindo numa organi-
zao hierrquica em que a legitimidade do controlo
social assenta numa referncia simultnea racio-
nalidade e legalidade. A burocracia no mundo
moderno caracteriza-se por uma organizao que
detm regras escritas e pblicas; por procedimentos
de aco racional e de deciso annima; por um sis-
tema de nomeao e no de eleio; pela existncia
de hierarquia nas relaes sociais; pela procura da
mxima objectividade. Mas esta objectividade e a
racionalidade so tambm possveis porque a buro-
cracia se baseia na diferenciao entre esfera privada
e vida profissional; entre opinio pessoal e cdigo
prescrito pela profisso; na distino entre a pessoa
e o lugar que ocupa; entre subalternos e superiores.
Na actualidade, podemos admitir que a hierarquia
burocrtica sofre presses no sentido de uma des-
centralizao, tendendo a vigorar uma outra forma
de organizao que a rede. Na rede, normas infor-
mais e uma certa auto-organizao tomam o lugar
da organizao formal, apontando para um certo
declnio da hierarquia burocrtica, ou ento consti-
tui-se um tipo de organizao formal em que est
ausente uma fonte formal de autoridade. Numa outra
perspectiva, Fukuyama entende a rede no como um
tipo de organizao formal, mas como uma relao
moral de confiana, no sentido dos valores informais
partilhados por um grupo, possibilitando a coope-
rao. A ser assim, s em sociedades ou grupos de
elevado capital social possvel o funcionamento em
rede, sendo todavia necessria a autoridade do
Estado, sob a forma da lei formal e do regulamento,
como garantia da ordem e da existncia de um cri-
trio de justia. Tambm certo que Fukuyama con-
sidera que as redes tendem a ser cada vez mais impor-
tantes no mundo tecnolgico, mas a hierarquia per-
manecer necessria nas organizaes.
BRETTON WOODS 29
BRETTON WOODS
Os acordos de Bretton Woods, em 1944, no s esta-
beleceram um sistema de cmbio fixo, mas tambm
as bases de uma ordem de comrcio multilateral,
inaugurando uma nova ordem mundial financeira.
O primeiro artigo do Acordo do Fundo Monetrio
Internacional (FMI), o cerne do sistema de Bretton
Woods, assumia o compromisso da promoo e
manuteno de nveis elevados de emprego e rendi-
mentos reais, e o desenvolvimento dos recursos pro-
dutivos de todos os membros como objectivos pri-
mrios da poltica econmica. O sistema Bretton
Woods requeria que todas as moedas tivessem uma
taxa de cmbio fixada ao dlar, tornando-se um
sistema dlar, uma vez que os Estados Unidos da
Amrica emergiram aps a Segunda Guerra Mun-
dial como a economia lder e a nica grande nao
credora. As transaces internacionais passaram a
fazer-se na sua esmagadora maioria em dlares. Mas
o sistema tinha extenso limitada na medida em que
exclua todos os pases comunistas, que constituam
uma parte significativa dos Estados e populao mun-
diais.
O sistema Bretton Woods estava altamente insti-
tucionalizado pois o FMI actuava na gesto do sis-
tema financeiro internacional que estava, na altura,
restringido a fluxos de capital a nvel oficial (de
governo para governo) e de investimento directo
estrangeiro limitado. Neste contexto, os pases
podiam implementar polticas macro-econmicas de
expanso e retinham autonomia significativa com
respeito estratgia econmica nacional. Com o cres-
cimento da finana internacional privada a partir dos
anos 1960, as condies subjacentes ao sistema
Bretton Woods tornaram-se insustentveis. A 15 de
Agosto de 1971, o presidente norte-americano Nixon
chocou os mercados financeiros mundiais ao anun-
ciar que o dlar deixaria de ser livremente conver-
tido em relao ao ouro, assinalando efectivamente
o fim das taxas de cmbio fixas e o fim do sistema
Bretton Woods. De facto, os Estados Unidos da
Amrica desvalorizaram o dlar para melhorar a sua
posio comercial em declnio, mas, como detento-
res da moeda internacional principal, foram inca-
pazes de o fazer sem provocar o colapso do sistema
Bretton Woods. Isto anunciou uma era de taxas
de cmbio flutuantes, na qual o valor das moedas
determinado pelas foras do mercado global, isto
, a procura e oferta mundial de uma moeda parti-
cular.
BROWSER
Termo usado para designar as aplicaes que per-
mitem a consulta de pginas de Internet, por exem-
plo o Internet Explorer da Microsoft.
BUROCRACIA
Max Weber considera que nas sociedades modernas
a esfera das aces racionais por relao a um fim
CARCTER NACIONAL
As diferenas de atitude entre as naes so o meio
em que o estudo das Relaes Internacionais se
movimenta. Os Estados so desiguais; a nao s
existe se o seu povo pensar e sentir de forma prpria,
numa sede geogrfica exclusiva, isto , s existe se
tiver hbitos, atitudes e projectos que a distingam
das restantes e tiver um territrio onde possa ser o
que .
O carcter nacional respeita no s cultura, mas
tambm ideologia, aos mitos, s tradies, s expec-
tativas, disciplina, s instituies formais, opinio
pblica, imagem de si e do direito da sua defesa,
imagem dos outros.
CARISMA
O conceito de carisma significa o dom da graa e
retirado, diz Weber, do vocabulrio do cristianismo
primitivo. Weber define a autoridade carismtica da
seguinte forma: o termo carisma ser aplicado a uma
certa qualidade, de uma personalidade individual em
virtude da qual ela considerada extraordinria e tra-
tada como sendo dotada de poderes ou qualidades
sobrenaturais, sobre-humanas ou, pelo menos, espe-
cificamente excepcionais. Estes so de molde a no
serem acessveis pessoa vulgar, mas so encarados
como sendo de origem divina ou exemplares, e com
base neles o indivduo em questo tratado como um
lder.
CARTA
O termo, cuja origem remontar Magna Charta de
1215, uma das designaes utilizadas para as
convenes internacionais, normalmente refe-
rindo-se a instrumentos particularmente solenes,
como sejam actos institutivos de organizaes
internacionais (tal como acontece com a Carta das
Naes Unidas, a Carta da Organizao dos Estados
Americanos, etc.).
CAPITAL
Capital, na acepo tcnico-econmica, o conjunto
de bens (mquinas, utenslios, equipamentos, edif-
cios) utilizado no processo produtivo, cujo objectivo
a produo de outros bens para consumo por parte
das famlias ou para serem adquiridas por outras
empresas.
A totalidade dos bens, dinheiro ou patrimnio, pos-
sudos por um indivduo, empresa ou Estado num
dado momento.
Fora da terminologia corrente, esta palavra adquire
acepes diferentes, por exemplo: capital circulante
a parte do capital (tcnico) que desaparece num s
ciclo produtivo (so as matrias-primas); capital fixo
a parte do capital (tcnico) que possui uma dura-
o de vida de vrios ciclos produtivos ( o caso das
mquinas); capital humano o stock de conheci-
mentos tcnicos e de qualificao existente na popu-
lao activa de um pas; capital tcnico o conjunto
de todos os bens materiais que permitem a produ-
o de novos bens dotados de utilidade, como maqui-
naria, ferramentas, equipamentos e edifcios.
CAPITALISMO
Sistema de produo baseado no maquinismo e divi-
so do trabalho que se caracteriza pela economia de
mercado, em que a venda a um mercado alargado
o fim essencial das empresas que so livres de ven-
der; realizao do lucro, objectivo principal das
empresas; liberdade do trabalho; sistema de empre-
sas que o integra, sendo a empresa a clula activa do
sistema; evoluo do sistema e interveno gradual
do Estado; e pelo jogo da concorrncia.
O capitalismo familiar diz respeito s empresas
capitalistas de propriedade ou administradas por
famlias.
O capitalismo de gesto refere-se s empresas capi-
talistas administradas por gestores executivos e no
pelos seus proprietrios.
E o capitalismo institucional tem por base a empresa
capitalista organizada na base da participao insti-
tucional na aquisio de aces e ttulos.
C
mesma nulidade, devem os efeitos produzidos ser
tambm eles anulados, reconstituindo-se a situao
que existiria sem a dita vigncia (a declarao de nuli-
dade tem portanto efeitos retroactivos). Diver-
samente, o regime da cessao da vigncia assenta
na validade da dita vigncia que, no entanto, vai ces-
sar, em razo de qualquer uma das causas previstas,
deixando portanto a conveno de produzir efeitos
(mas apenas para o futuro).
So muitas as causas de cessao da vigncia
das convenes internacionais. A maioria delas vem
expressamente referida na Conveno de Viena de
1969, nomeadamente, desde logo, a cessao decor-
rente de previso no prprio tratado ou de acordo
posterior das partes nesse sentido, e ainda a denn-
cia e recesso, a concluso posterior de uma
conveno, a violao substancial, a impossibi-
lidade superveniente, a alterao fundamental das
circunstncias e a supervenincia de uma regra de
ius cogens.
Subsistem, segundo a doutrina pacfica, outras
causas, tais como o desuso (um costume negativo,
portanto) ou a ecloso de um conflito armado (que
far cessar a vigncia das convenes bilaterais que
vinculem as partes envolvidas no conflito, suspen-
dendo apenas as convenes multilaterais).
CHAT
Internet Relay Chat (IRC)
Conversao em tempo real entre duas ou mais pes-
soas usando uma rede de computadores. Esta comu-
nicao feita por troca de mensagens escritas atra-
vs da Internet.
CHEFE DE MISSO AD INTERIM
o membro do pessoal diplomtico que exerce pro-
visoriamente as funes de chefe de misso, face
vacatura do lugar ou ao impedimento do titular.
CHEFE DE MISSO DIPLOMTICA
a pessoa encarregada pelo Estado acreditante de
agir nessa qualidade. O papel central que assume o
chefe da misso no quadro do funcionamento das
relaes diplomticas levou a que a figura fosse
sujeita a um regime relativamente desenvolvido.
Assim, desde logo, esta apenas inicia funes depois
de obtido o agrment e aps a entrega das creden-
ciais ou a comunicao da sua chegada, conforme a
prtica do Estado acreditador. A sua recepo nor-
malmente sujeita a um cerimonial protocolar que
deve ser uniforme em relao a cada classe (no sen-
tido do princpio geral de no discriminao). So
reconhecidas as seguintes classes: embaixadores ou
nncios, enviados, ministros ou internncios e
encarregados de negcios. A classe dos representan-
tes determinada por acordo entre os Estados (acre-
ditante e acreditador) e no justifica a distino dos
chefes de misso, excepto em questes de precedncia
32 CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIO EUROPEIA
CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
DA UNIO EUROPEIA
Documento escrito onde se consagram os direitos
fundamentais dos cidados dos Estados da Unio
Europeia. Foi aprovada no Conselho Europeu de
Biarritz, reunido em Outubro de 2000, cumprindo
a deliberao do Conselho de Colnia, de Junho de
1998.
De referir ainda que a Assembleia da Repblica
Portuguesa aprovou uma resoluo (n. 69/2000),
atravs da qual os deputados se declararam a favor
da carta dos direitos fundamentais que possa ser
aprovada pelos governos e parlamentos dos Estados-
-membros como instrumento vinculativo, com valor
de direito originrio, cujas normas sejam garantidas
mediante tutela jurisdicional.
CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU)
Unidade de processamento central de um computa-
dor onde se realizam as operaes aritmticas e lgi-
cas que constituem a base de funcionamento das apli-
caes informticas.
CENTRO
Conjunto dos pases que na economia mundial ocu-
pam uma posio central, por serem os mais indus-
trializados e desenvolvidos (nomeadamente os EUA,
os pases da Europa ocidental e o Japo).
CENTRO INTERNACIONAL PARA
A RESOLUO DE DIFERENDOS
RELATIVOS A INVESTIMENTOS (CIRDI)
Banco Mundial (Grupo)
CESSAO DA VIGNCIA DAS
CONVENES INTERNACIONAIS
A cessao da vigncia das convenes internacionais
consiste, como decorre alis dos termos, no facto de
as convenes deixarem de vigorar, quaisquer que
sejam as razes ou justificaes.
A questo levanta-se no Direito Internacional em
termos de se identificarem as situaes que justifi-
cam e segundo que critrios essa cessao, por
forma a que (tal como no Direito Interno acontece
em relao aos contratos) se garanta o princpio do
cumprimento das obrigaes pacta sunt servanda
evitando os abusos ou interpretaes abusivas que
conduziriam fragilizao dos regimes convencionais.
A cessao da vigncia distingue-se todavia da
nulidade que tambm pe fim s convenes, mas
que as afecta ab initio, j que surge sempre em
momento anterior ou contemporneo com a entrada
em vigor da conveno. Assim, a eventual vigncia
de uma conveno que padea de uma nulidade
indevida e por isso, declarada ou verificada essa
33
Os actores principais deste mundo cultural sero
os Estados centrais de cada civilizao, ou seja, aque-
les Estados que formam o ncleo dessa civiliza-
o ou aqueles que, no sendo o seu ncleo, lhe
pertencem e tm condies para exercer essa lide-
rana.
A civilizao ocidental conta com dois centros de
poder (EUA e Europa); as civilizaes hindu, orto-
doxa, snica e japonesa, que s tm um Estado
central, respectivamente, a ndia, Rssia, China e
Japo, enquanto que a latino-americana, a africana
e a islmica carecem de Estados centrais categ-
ricos.
Teremos, portanto, um mundo multipolar e mul-
ticivilizacional e uma poltica de identidade cultu-
ral, em que, segundo Huntington, ao contrrio do
que acontecia na guerra fria, um pas no pode per-
manecer neutral, tendo de definir a sua identidade,
para poder definir os seus alinhamentos. Os pases
relacionar-se-o com as civilizaes como Estados-
-membros.
Os conflitos de maior alcance j no se do entre
naes da mesma civilizao, mas sim entre civili-
zaes. E a zona com maiores potencialidades para
este tipo de conflito a sia, j que a coexistem
vrias civilizaes diferentes.
Os conflitos na prxima era sero conflitos de iden-
tidade ou conflitos colectivos, de entre os quais
Huntington destaca as guerras que se situam nas
linhas de fractura. Estas guerras so as que se do
nas linhas que dividem populaes de diferentes cul-
turas, onde est quase sempre patente o factor reli-
gioso e a guerra faz-se em funo dele.
Adoptando duas formas, estes conflitos podem ser
a nvel micro que so aqueles que se do dentro de
um nico Estado ou entre Estados (de segunda
ordem) de civilizaes diferentes ou a nvel macro
aqueles que se do entre Estados centrais de civi-
lizaes.
No plano micro, o choque fundamental d-se entre
o Islo e as restantes; no plano macro entre a civili-
zao ocidental e as restantes. Os choques mais peri-
gosos no futuro podero surgir entre a arrogncia
ocidental, a intolerncia islmica e a auto-afirmao
snica.
CHOQUES PETROLFEROS
Conceito que traduz os aumentos sucessivos e maci-
os do preo do petrleo em 1973-1974 (primeiro
choque) e em 1979-1982 (segundo choque). A
guerra israelo-rabe dos seis dias e o conflito Iro
Iraque respectivamente, esto na origem destas altas
desordenadas do preo do petrleo, que vieram pr
a nu as fragilidades do Ocidente quanto a fontes de
energia.
CIBERESPAO
Espao de informao associado aos computadores
e s redes de computadores.
CHEFE DE POSTO CONSULAR
e etiqueta. Dentro de cada classe estabelece-se a pre-
cedncia de acordo com a data e hora em que assumi-
ram as suas funes, sem prejuzo de eventual pr-
tica com respeito precedncia do representante da
Santa S. Em caso de vacatura ou impedimento,
as funes podem ser desempenhadas provisoria-
mente por um encarregado de negcios ad interim,
e no havendo membro do pessoal diplomtico pre-
sente, os assuntos administrativos correntes da mis-
so podem ser desempenhados por um membro do
pessoal administrativo.
CHEFE DE POSTO CONSULAR
a pessoa encarregada de agir nessa qualidade pelo
Estado que envia. Os chefes de posto consular podem
assumir trs categorias distintas: cnsules-gerais,
cnsules, vice-cnsules e agentes consulares. O chefe
do posto consular deve obter o exequatur antes de
iniciar funes e munido, pelo Estado que envia,
de um documento, sob a forma de carta-patente ou
instrumento similar, feito para cada nomeao, que
ateste a sua qualidade e indique o nome e apelidos,
a classe e a categoria, a rea de jurisdio consular
e a sede do posto consular. A carta patente nor-
malmente transmitida por via diplomtica, podendo
ser substituda por notificao, se o Estado receptor
o aceitar.
CHOQUE DAS CIVILIZAES
Num artigo publicado em 1993, na revista Foreign
Affairs, e desenvolvido trs anos mais tarde na sua
obra The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Worder, Samuel P. Huntington coloca a
hiptese de que no mundo ps-guerra fria, os con-
flitos no tero origem ideolgica ou econmica. As
grandes causas da diviso da humanidade e as prin-
cipais fontes de conflito sero culturais. O choque
de civilizaes dominar a poltica mundial.
Huntington perspectiva um reavivar da Histria,
j que prev um renascer das vrias Histrias dos
povos do mundo, na busca das suas identidades mais
profundas, e um realinhamento dos Estados com base
em factores culturais. As culturas, que nas suas mani-
festaes mais amplas constituem civilizaes, mol-
daro, nos prximos tempos, as Relaes Internacio-
nais. O conflito entre ideologias substitudo pelo
conflito entre civilizaes e a Histria encontra um
novo motor. Desta forma, o autor refuta o paradigma
neo-hegeliano de Fukyama do fim da histria e a har-
monizao do mundo com base na universalizao
do regime demo-liberal.
Assim, o mundo ps-guerra fria ser um mundo
de sete ou oito civilizaes, em que as semelhanas
e diferenas culturais configuram os interesses, anta-
gonismos e associaes dos Estados. Essas civiliza-
es so: a Snica (Chinesa ou Confucionista), a Japo-
nesa, a Hindu, a Islmica, a Ortodoxa, a Ocidental,
a Latino-Americana (embora seja um rebento da civi-
lizao ocidental, tem elementos muito prprios) e,
possivelmente, a Africana.
CIDADE GLOBAL
Uma cidade que se tornou num plo centralizador
da nova economia global, como Londres, Nova Iorque
e Tquio.
CINCIA
A palavra cincia deriva etimologicamente, nas ln-
guas modernas, do vocbulo latino scientia. Em latim,
cincia tem um sentido muito amplo e significa
conhecimento, prtica, doutrina, erudio.
Representao intelectualmente construda da
realidade, pela qual se procura explicar os fenme-
nos, tornando-os inteligveis; todo o corpo de conhe-
cimento cientfico metodicamente organizado (sen-
tido lato); conjunto de conhecimentos estabelecido
de forma sistemtica, de referncia universal e sus-
ceptvel de ser verificado (sentido restrito, segundo
o modelo das cincias fsicas e naturais).
O conhecimento cientfico distingue-se do conhe-
cimento popular (superficial, acrtico, baseado nos
dados imediatos), do conhecimento filosfico (baseado
em hipteses que no so verificveis por processos
idnticos aos das outras reas cientficas), e do conhe-
cimento teolgico (assente em verdades infalveis e
indiscutveis, implcitas numa atitude de f).
A cincia pode definir-se, assim, como um conjunto
de conhecimentos sobre a realidade observada,
obtida atravs de um mtodo cientfico. Segundo esta
definio, so trs os elementos essenciais da cin-
cia que constituem a sua natureza: um contedo, um
campo de actuao e um procedimento ou forma de
actuao.
preciso ter em conta que, embora a cincia se
reporte realidade emprica, no est formada por
factos, mas sim por ideias. Conclui-se que o homem
s pode captar a realidade conceptualmente.
O campo de actuao da cincia a realidade obser-
vada, a realidade deste mundo em que vivemos. O que
no emprico, ou seja o transcendente, sai fora do
campo da cincia no sentido estrito.
A cincia utiliza como procedimento ou forma de
actuao, na formao do conjunto de conhecimen-
tos que a integram, o mtodo cientfico, que o que
a tipifica.
O mais caracterstico e especfico da cincia, aquilo
que a constitui como tal e a distingue dos demais
tipos de conhecimentos , com efeito, o mtodo cien-
tfico. Considera-se como cientista no aquele que
possui muitos conhecimentos sobre uma matria
determinada, mas sim aquele que sabe utilizar de
forma correcta e eficaz o mtodo cientfico no seu
campo de actuao.
Devido ao seu objecto, as cincias podem-se divi-
dir em cincias fsico-naturais e cincias sociais e
humanas. Nas primeiras, a realidade observada a que
se refere est constituda por toda a natureza, pelo
mundo, excepto o homem e a sua sociedade, que so
respectivamente o objecto, a realidade observvel e
peculiar das cincias humanas e sociais.
Saber como a realidade, que elementos a com-
pem, e quais as suas caractersticas, explic-la, esta-
CIDADANIA 34
CIDADANIA
Tradicionalmente, o vocbulo traduz a existncia de
um vnculo de natureza jurdica, estabelecido entre
um indivduo e um Estado. Atravs desse vnculo
adquirem-se direitos e contraem-se deveres, criando-
-se, assim, uma ligao fundamental com a comu-
nidade politicamente organizada.
Hoje, o termo cidadania aparece associado a novas
formas de organizao poltica dos povos, sendo disso
exemplo recente o conceito de cidadania europeia.
Para uns, o conceito no tem qualquer cabimento,
precisamente por lhe faltar esse elo de ligao a um
Estado; para alguns ele deve ser visto como com-
plemento das cidadanias nacionais, nomeadamente
em matria de direitos e garantias individuais; e para
outros ele apenas o embrio de um conceito mais
vasto de cidadania mundial, que dever surgir inde-
pendente dos Estados seja qual for o seu modelo de
organizao.
CIDADANIA DA UNIO
Conceito institudo pelo Tratado da Unio Europeia,
articulado em torno de direitos e deveres especficos,
que se juntam queles que derivam da qualidade de
cidados dos diferentes Estados-membros. Para ser
cidado da Unio condio fundamental ter a nacio-
nalidade de um Estado-membro. O estatuto de cida-
dania europeia baseia-se no princpio de incluso e
assenta no lao indissolvel entre cidadania da Unio
e cidadania nacional. Logo, as regras de aplicao da
cidadania nacional condicionam as regras de apli-
cao da cidadania europeia, no sendo esta mais do
que um acrscimo daquela, na justa medida em que
os Estados conservam a prerrogativa soberana de
definirem unilateralmente as regras de aquisio da
nacionalidade.
Ser cidado europeu significa gozar dos direitos e
estar sujeito aos deveres previstos no Tratado. A liber-
dade de circulao de pessoas o seu suporte prin-
cipal. Dela decorrem uma srie de benefcios para os
nacionais dos Estados-membros: direito de viver, tra-
balhar ou estudar no pas da sua escolha e ser tra-
tado como os nacionais desse pas; de circular, adqui-
rir os bens que quiser e de os trazer consigo para o
pas de origem; de ser reconhecido e protegido em
todo o mundo como cidado da Europa.
No Tratado de Maastricht inseriram-se disposies
relativas ao reconhecimento e proteco dos direi-
tos fundamentais do cidado, que constituram ver-
dadeiras inovaes nesta matria. A primeira consiste
na adopo do direito de proteco diplomtica e con-
sular, num qualquer pas terceiro, por parte de outro
Estado-membro e nas mesmas condies dos nacio-
nais desse Estado. A segunda inovao diz respeito
ao direito de petio ao Parlamento Europeu, para
defender os direitos decorrentes do Tratado e recurso
ao Provedor de Justia, nos casos de m adminis-
trao por parte das instituies comunitrias. A ter-
ceira inovao consiste no direito de eleger e ser
eleito nas eleies municipais e europeias do Estado
de residncia.
dade dos factos sociais, a sua originalidade, compa-
rativamente aos factos da natureza: a Natureza
explica-se, o Homem compreende-se (Dilthey). No
podemos compreender uma revoluo da mesma
forma que um tremor de terra.
CINCIAS SOCIAIS E HUMANAS
E CINCIAS DA NATUREZA
Durante muito tempo, as cincias da natureza, ditas
exactas, opuseram-se s cincias sociais e humanas,
ditas inexactas.
Esta oposio, contudo, no faz sentido. Em pri-
meiro lugar, porque as cincias da natureza e as cin-
cias humanas no diferem quanto sua validade cien-
tfica nem quanto ao objecto, mas to-somente quanto
aos mtodos. A distino estabelecida por Droysen
e retomada por Dilthey, entre explicar (erklren) e
compreender (verstehen) aparece a alguns como o
critrio metodolgico mais adequado para estabele-
cer uma distino lgica e sistemtica entre as duas
sortes de cincias (Freund).
Em segundo lugar, porque no podemos dizer que
existe cincia exacta: nem as cincias da natureza,
nem as matemticas o so; a cincia um conheci-
mento em constante rectificao, como lembrava
Bachelard, um conhecimento aproximado.
As cincias sociais tornam-se cada vez mais exac-
tas, por consequncia do aperfeioamento das tc-
nicas de observao e pesquisa, pela utilizao dos
mtodos quantitativos e pela construo de teorias
prprias.
As cincias sociais fazem, cada vez mais, uso da
chamada pesquisa de campo, o equivalente sociol-
gico experimentao e observao, na medida em
que este tipo de pesquisa permite recolher dados pas-
sveis de demonstrao explicativa de um determi-
nado sector do social. Fazem cada vez mais apelo aos
mtodos quantitativos: estatsticas que permitem o
tratamento dos dados recolhidos pela pesquisa
(sociometria, econometria); desenvolvem novas
tipologias matemticas, a constituio de uma
matemtica nova e original (o clculo das probabi-
lidades, a investigao operacional, teoria dos jogos,
etc.); determinadas teorias, como a da informao so
utilizadas tanto pelas Cincias Sociais como pelas
Cincias da Natureza. O mesmo acontece com a
noo de modelo que um esquema simplificado
mas operatrio dos fenmenos estudados.
De qualquer modo, no iludamos a dificuldade em
medir os fenmenos sociais em geral. Estes so
inquantificveis a maioria das vezes, e quando o so,
somente se podem fazer em termos pouco precisos
e generalistas. Esta dificuldade fere as cincias sociais
em matria de exactido, a qual constitui o ideal da
cincia, e a causa dos coeficientes de erro serem
mais elevados do que nas cincias fsicas.
Segue-se a multiplicidade de factores dos fen-
menos sociais. Isto implica que em todos eles inter-
vm um grande nmero de variveis, geralmente
em interaco mtua e no simplesmente causas ou
efeitos. Entre elas h que considerar o processo de
CINCIA POLTICA 35
belecendo como se relacionam as suas partes dis-
tintas, e tambm explicar como que a realidade,
a cincia implica a ordenao disciplinada de dados
empricos e a construo de abordagens tericas que
interpretam ou explicam os dados. A actividade cien-
tfica rene a criao de novos modos de pensamento
e o teste cuidadoso de hipteses e ideias. Uma das
caractersticas principais que permitem distinguir as
cincias de outros tipos de sistemas de ideias (como
o que a religio implica) o princpio geral de que
as ideias cientficas esto sempre abertas discus-
so e reviso crtica por parte dos membros de comu-
nidades cientficas.
CINCIA POLTICA
o estudo das relaes de poder, pela anlise siste-
mtica dos factos polticos nacionais, supranacionais
e internacionais e de todos os fenmenos de natu-
reza social relacionados com a actividade poltica.
Numa concepo dinmica, pode ser entendida
como a cincia do poder ou dos poderes, nos seus
aspectos mais diversos.
Numa concepo institucional a cincia do Estado,
instituio das instituies.
Duverger considera que, mesmo aqueles que defi-
nem a cincia poltica como a cincia do poder, reco-
nhecem que o poder atinge no Estado a sua forma
mais acabada, a organizao mais completa e que
deve ser estudada, sobretudo, nesse quadro.
No devemos confundir a Cincia Poltica, com a
Poltica, j que enquanto esta pode ser vista como
a arte de governar, aquela ter de ser olhada como
um conjunto de conhecimentos, recolhidos pela
observao para posterior estudo e melhor domnio
da realidade.
CINCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Cincias que tratam dos fenmenos sociais resul-
tantes da aco dos homens na sua relao com a
sociedade. As cincias sociais estudam o homem em
sociedade.
Definindo Cincias Sociais e Humanas como as
disciplinas que tm como objecto de investigao as
diversas actividades humanas, enquanto elas impli-
cam relaes dos homens entre si e dos homens com
as coisas, bem como as obras, instituies e relaes
que da resultam, Freund enumera entre elas a eco-
nomia, a sociologia, a antropologia, a geografia, a
etnologia, a lingustica, a histria (poltica, das ins-
tituies, da arte, etc.), a pedagogia, a politologia, a
arqueologia, etc.
Diferentemente das Cincias da Natureza, as Cin-
cias Sociais no utilizam o mtodo determinista (nas
mesmas condies, as mesmas causas produzem os
mesmos efeitos), mas sim o mtodo compreensivo
que consiste em compreender os factos sociais, e em
colocarmo-nos no lugar dos actores e dos protago-
nistas destes factos.
O mtodo compreensivo utilizado por Max Weber
(1864-1920), tem o mrito de procurar a especifici-
uma delas sediados. Este conceito de zonas de civi-
lizao seria o principal elemento da anlise poltico-
-geogrfica do mundo, defendendo La Blache que as
diferenciaes culturais seriam mais importantes do
que as divises inscritas pelos acidentes da geogra-
fia fsica. Esta valorizao dos aspectos culturais leva
este gegrafo a dar grande realce importncia das
relaes, das trocas e das comunicaes na vivncia
das regies e dos pases.
CLASSE POLTICA
Aqueles que se ocupam da actividade poltica. O
termo aparece tambm associado aos conceitos de
elite poltica e classe dirigente e h quem pretenda
ver nele a separao clara entre aqueles que fazem
poltica, no governo ou na oposio (os governantes,
os polticos), e aqueles que a no fazem (os gover-
nados, a sociedade civil). Independentemente do sen-
tido valorativo ou depreciativo que se queira dar
expresso, parece ser consensual identificar-se como
pertencendo classe poltica todos os que participam
activamente na vida poltica e disputam os lugares
elegveis, existentes nos partidos e nos rgos pol-
ticos do Estado.
CLUSULA COLONIAL
Tcnica convencional atravs da qual se exclui do
mbito de aplicao de uma conveno os territrios
de colnias ou provncias ultramarinas das partes.
O entendimento corrente o de que esta clusula se
presume, ou seja, salvo demonstrao de que seja
outra a vontade das partes, os tratados aplicam-se
apenas naquilo que pode designar-se o territrio
metropolitano dos Estados.
CLUSULA FEDERAL
Disposio convencional relativa aplicao (nos
termos da qual se excluem os Estados federados ou
o nvel federado) da obrigao de execuo/aplicao
de um tratado (concludo por um Estado federal e
cuja aplicao caber assim apenas s instituies
federais). Visa portanto a salvaguarda das competn-
cias federadas, j que nos Estados federais no existe
hierarquia entre os nveis (a repartio de compe-
tncias faz-se, segundo a teoria federalista, por acordo
e no por imposio).
CLUSULA DA NAO MAIS
FAVORECIDA
Estipulao convencional atravs da qual um Estado
se obriga perante outro Estado a conceder-lhe o tra-
tamento de maior favor numa dada esfera de relaes,
ou seja, o Estado que conceda esse regime a um outro
Estado, tem de alargar automaticamente a este, even-
tuais vantagens que venha a conceder (convencional-
mente) a outros Estados, se esse novo regime for mais
favorvel do que aquele que se encontra em vigor.
CIVILIZAO (PRINCPIOS DE) 36
investigao, o que constitui tambm uma varivel
influente na situao que se investiga.
Na investigao social regista-se um grau de varia-
bilidade dos fenmenos sociais no espao e no tempo.
Daqui que o estabelecimento de regularidades e gene-
ralizaes, tarefas fundamentais da cincia, obrigue
a uma atitude mais prudente e limitada do que nas
outras cincias.
Destaque-se, por outro lado, a limitao nas cin-
cias sociais da utilizao de instrumentos de obser-
vao to precisos como os que se verificam em cin-
cias fsico-naturais. Por exemplo, no existe ainda
nestas cincias um instrumento de observao que
se possa comparar, nem de longe nem de perto, com
o microscpio nas cincias biolgicas, fsicas e qu-
micas, do telescpio na astronomia, e dos raios X na
medicina. Nas cincias sociais somente se pode uti-
lizar de forma muito imperfeita e com muitas limi-
taes a experimentao, que a tcnica cientfica
de observao mais segura. Para alm do mais, des-
tacmos ainda outra caracterstica muito peculiar da
investigao social, que aumenta a dificuldade do
estudo cientfico dos fenmenos sociais, e que diz res-
peito inegvel influncia que tem no objecto de
investigao, a sociedade, e a difuso que dentro dela
os resultados da investigao possuem.
Por ltimo, no deve ser omitido o facto de que o
investigador forma parte da sociedade que investiga
e logo, participa dos seus valores, ideologias e cren-
as. Ele faz com que nunca possa ser totalmente inde-
pendente e neutral no que respeita sociedade que
investiga. Esta ltima peculiaridade, identifica-se
com os problemas dos juzos de valor na investiga-
o social. Max Weber defendia a neutralidade axio-
lgica do cientista social, de modo a no intervir
com os seus valores e os valores do seu tempo, no
objecto em estudo.
Seja como for, a investigao em cincias sociais
no s possvel, como consegue atingir resultados
seguros, de que so prova, muitos dos conhecimen-
tos adquiridos, descobertas realizadas e aplicaes
prticas. Acima de tudo, importa reduzir a distncia
entre o extraordinrio avano das cincias naturais
face ao desenvolvimento das cincias sociais.
CIVILIZAO (PRINCPIOS DE)
Conceito de Vidal La Blache que defende que em toda
a fluidez dos sucessivos factores registados pela his-
tria, os princpios de civilizao so os elementos
mais estveis, porque so fundamentadores e iden-
tificadores das grandes civilizaes, mais ou menos
comuns s diversas culturas nelas includas, os quais
seriam os orientadores das escolhas realizadas por
cada povo dentro da gama de possibilidades ofereci-
das pelo respectivo territrio.
CIVILIZAO (ZONAS DE)
Conceito de Vidal de La Blache que designa as gran-
des regies definidas em funo da civilizao em que
se inclui culturalmente a maioria dos povos em cada
CLUSULAS FINAIS
So um dos elementos tpicos da estrutura das
convenes internacionais. Surge aps o disposi-
tivo (ou seja, o conjunto de regras materiais que
constituem o essencial do regime acordado), apare-
cendo normalmente tambm sob a forma de articu-
lado. As clusulas finais dispem apenas em mat-
ria adjectiva (regulando matrias como a das verses
oficiais, a eventual nomeao de depositrio, a
entrada em vigor, etc., podendo ainda referir regras
especiais para efeitos de sucesso convencional e
outras matrias). As clusulas finais entram em
vigor com a adopo do texto, ou seja em regra com
a assinatura da conveno.
CLUBE DE PARIS
Criado em 1956, um grupo informal de pases
industrializados credores, sem estatuto nem exis-
tncia legal, junto do qual os pases em desenvolvi-
mento podem obter um reescalonamento da sua
dvida pblica. Os credores do Clube encontram-se
dez vezes por ano, sob presidncia do director do
Tesouro Francs. Tem 19 Estados-membros. O seu
secretariado encontra-se em Paris.
COACO ECONMICA E POLTICA
Apenas releva para o efeito, a ameaa ou uso da fora
(militar). Discute-se actualmente na doutrina e
principalmente no quadro das Naes Unidas, a
relevncia da coaco poltico-econmica que foi
objecto de uma declarao de condenao pela
Assembleia Geral das Naes Unidas e de uma resolu-
o da Conferncia das Naes Unidas sobre Direito
dos Tratados. Havendo consenso sobre o facto desta
apenas poder ser invocada por pases em desenvol-
vimento, mostra-se todavia difcil estabelecer o limite
a partir do qual as presses so ilcitas, j que no
parece desejvel retirar aos Estados (que no dispem
de mecanismos judiciais eficazes) a possibilidade de
exercerem alguma presso quando vejam os seus
interesses ameaados ou afectados.
A clivagem prtica , neste ponto, muito clara entre
os pases em desenvolvimento e no geral os Estados
do Terceiro Mundo e os Estados mais desenvolvi-
dos, em especial os ocidentais, que recusam a equipa-
rao entre coaco por meios militares e as diferen-
tes formas de presso poltica e econmica.
A distino entre a coaco sobre o Estado e a
coaco sobre o representante deve fazer-se, no em
razo do eventual destinatrio da ameaa ou agres-
so (que poder ser em ambos os casos um repre-
sentante do Estado), mas antes em razo dos interes-
ses ameaados (do representante ou do Estado).
COACO DO ESTADO
Consiste num vcio tpico (ou causa de nulidade)
das convenes internacionais, referindo-se ameaa
ou uso da fora na celebrao das mesmas.
CLUSULA DE RECEPO 37
A clusula da nao mais favorecida tem um mbito
estritamente comercial e a sua aplicao em termos
genricos depois da Segunda Guerra tem constitudo
um mecanismo central para garantir o contnuo
abaixamento dos obstculos tarifrios ao comrcio
internacional.
CLUSULA DE RECEPO
assim designada a regra constitucional que ao regu-
lar as relaes entre as ordens interna e internacio-
nal, admite a vigncia das normas de Direito Inter-
nacional na ordem interna, sujeitando-as apenas
(maxime no caso das regras convencionais) a even-
tuais exigncias formais, como seja a da publicao.
H portanto, da parte da ordem interna, uma
recepo do Direito Internacional, no sentido em
que a vigncia das suas regras admitida na quali-
dade de regras internacionais (e j no apenas na
medida em que sejam transformadas em normas
internas, como exigem as posies dualistas). Dentro
das clusulas de recepo, a doutrina distingue nor-
malmente as clusulas de recepo plena (quando
todo o Direito Internacional recebido nessa quali-
dade) das clusulas de recepo semiplena (quando
apenas parte recebido, mantendo-se a obrigao de
transformao para determinadas regras ou conjun-
tos de regras). Hoje em dia ainda frequente distin-
guir-se a recepo automtica (quando a ordem
interna no exige a prtica de qualquer acto de
recepo para que a vigncia se produza). Pode
ainda distinguir-se um outro mecanismo, o da apli-
cabilidade directa (que alguns autores afastam
mesmo dos mecanismos de recepo), que surge
quando a vigncia das regras dispensa qualquer
recepo por ocorrer em simultneo com as regras
internas.
CLUSULA DE SUJEIO
O mesmo que declarao de compatibilidade.
Designa uma disposio convencional nos termos da
qual um tratado deve ser interpretado e aplicado de
acordo em termos compatveis com uma outra
conveno, de onde decorre que esta prevalece sobre
aquele, em caso de conflito.
CLUSULA DE TRANSFORMAO
assim designada a regra constitucional que ao
regular as relaes entre as ordens interna e interna-
cional, recusa a vigncia deste enquanto tal, impondo
em consequncia que as respectivas regras sejam
transformadas (em actos internos), como condio
da vigncia do respectivo contedo. A clusula de
transformao corresponde a uma manifestao do
dualismo.
CLUSULA REBUS SIC STANTIBUS
Alterao fundamental das circunstncias
principais formas de civilizao e sistemas jurdicos
mundiais, como ainda um grande rigor tcnico e cien-
tfico.
Elaborado o projecto (eventualmente mais do que
um) a Assembleia Geral decide do destino a dar-lhe,
o qual pode variar: entre a mera chamada de aten-
o dos Estados para o seu contedo e importncia
e a sua adopo (com ou sem emendas), seguida do
convite vinculao dos Estados. A prtica mais cor-
rente no entanto intermdia, consistindo em convo-
car uma conferncia internacional que dever nego-
ciar e adoptar o texto em definitivo.
Este processo conseguiu, ao longo de cerca de cin-
quenta anos, promover a codificao de importants-
simos textos, logrando ultrapassar as dificuldades
resultantes da bipolarizao que caracterizou as
Relaes Internacionais e o funcionamento da ONU
at aos anos 1990.
COEFICIENTE DE CORRELAO
Medio da capacidade que uma varivel (ou conjunto
de variveis) tem para explicar uma outra varivel.
COESO ECONMICA E SOCIAL
As origens da coeso econmica e social remontam
ao Tratado de Roma cujo prembulo faz aluso
reduo das desigualdades entre as regies. Foi ape-
nas a partir da dcada de 1970, contudo, que foram
empreendidas iniciativas comunitrias a fim de coor-
denar e completar financeiramente os instrumen-
tos nacionais na matria. Estas medidas revelaram-
-se posteriormente insuficientes num contexto
comunitrio em que a criao do mercado interno
no tinha contribudo, contrariamente ao anteci-
pado, para a supresso das disparidades entre as
regies.
Em 1986, o Acto nico introduziu, para alm do
mercado nico, o objectivo da coeso econmica e
social propriamente dito. Na perspectiva da Unio
econmica e monetria, esta base jurdica permitiu
que a interveno comunitria se tornasse o eixo cen-
tral de uma poltica global de desenvolvimento desde
1998.
O Tratado de Maastricht institucionalizou final-
mente esta poltica no Tratado que institui a Comu-
nidade Europeia. A coeso econmica e social
exprime a solidariedade entre os Estados-membros
e as regies da Unio Europeia, favorece o desen-
volvimento equilibrado e duradouro, a reduo das
diferenas estruturais entre regies e pases, bem
como a promoo de uma verdadeira igualdade de
oportunidades entre as pessoas e concretiza-se atra-
vs de diversas intervenes financeiras, nomeada-
mente dos Fundos Estruturais.
COLONIALISMO
Teoria ou prtica de estabelecer controlo sobre um
territrio estrangeiro e transform-lo numa colnia.
COACO DO REPRESENTANTE 38
S muito recentemente a coaco sobre os Esta-
dos se tornou ilcita. Historicamente esse uso era
legtimo, surgindo apenas o primeiro esforo glo-
bal de enquadramento no Pacto da Sociedade das
Naes (o qual sujeitava o recurso fora verifi-
cao prvia de determinados requisitos, operando
assim pela primeira vez, uma distino entre situa-
es de recurso legtimo de situaes de recurso ile-
gtimo). Actualmente a sua ilicitude decorre da proi-
bio do uso da fora (artigo 2. da Carta das Naes
Unidas).
COACO DO REPRESENTANTE
Causa de nulidade das convenes internacionais
(desde sempre reconhecida como tal, ao contrrio do
que acontece com a coaco sobre o Estado) cujo
contedo no especificado no texto do normativo
aplicvel, mas que em termos pacficos se aceita tra-
tar-se de qualquer tipo de violncia (directa ou indi-
recta) ou chantagem.
Trata-se de uma situao corrente na Histria:
Francisco I foi forado por Carlos V a ceder a
Borgonha em 1526; os Japoneses ocupando Seul,
obrigaram assinatura do protectorado em 1905; em
1939 os alemes foraram o chefe de Estado e o
Ministrio dos Negcios Estrangeiros checos assi-
natura do tratado que criava o protectorado da
Bomia e da Morvia, etc.
CODIFICAO DO DIREITO
INTERNACIONAL
Formulao mais precisa e sistemtica de regras de
Direito Internacional nos domnios em que exista
uma prtica estadual consequente, precedentes
judiciais e/ou opinies doutrinais. Trata-se portanto
da converso de grupos de regras consuetudinrias
sobre determinadas matrias em regras escritas (posi-
tivao), organizando-as de forma sistemtica e coe-
rente (essa coerncia poder mesmo justificar o seu
desenvolvimento).
A codificao implica sempre um risco de cris-
talizao dos contedos (perdendo-se assim a adap-
tabilidade caracterstica da regra consuetudinria);
no entanto, a diminuio da incerteza sobre a exis-
tncia e contedo das normas parece sobrepesar no
Direito Internacional contemporneo.
O processo de codificao tem sido levado a cabo
pela Assembleia Geral das Naes Unidas (por fora
da prpria Carta das Naes Unidas) e inicia-se com
a deciso desta sobre o mbito em relao ao qual
esse processo se dirigir (podendo j aqui acolher
sugestes da Comisso de Direito Internacional).
Seguidamente, a mesma assembleia confiar a pre-
parao de um projecto a um rgo permanente
ou a um comit temporariamente constitudo para
o efeito. A preferncia vai normalmente para a refe-
rida Comisso de Direito Internacional, rgo
composto por trinta e quatro juristas independen-
tes, que garante no apenas a representao das
capacidade tcnica e formao de pessoal, bens
manufacturados e mercados so entendidos por mui-
tos pases em desenvolvimento como produtos deli-
berados do colonialismo. Deste modo, a ajuda no
humanitria ou altrusta. pagamento atrasado pela
explorao passada ou uma tentativa por parte do
dador em obter concesses polticas. Em qualquer
dos casos, o desenvolvimento desigual persiste. Outra
variante do termo, colonialismo interno, refere-se
a casos onde o segmento econmico dominante de
um Estado trata a regio perifrica como subordi-
nada e dependente. Os povos asiticos da ex-Unio
Sovitica, por exemplo, eram entendidos como vti-
mas desta prtica. O Estado Sul Africano sob o regime
de apartheid (1948-94) apresentava muitas das
caractersticas associadas com o conceito e o seu sis-
tema poltico-social era muitas vezes referido como
colonialismo de tipo especial.
COLONIALISMO INTERNO
Este termo usado em Relaes Internacionais em
sentido econmico e em sentido poltico. Econo-
micamente, o colonialismo interno refere-se ao sub-
desenvolvimento de um Estado ou regio resultante
de trocas desiguais entre a periferia e o centro.
Empregue por Gramsci e Lenine, sublinhava as pol-
ticas econmicas discriminatrias do Estado central
(Itlia e Rssia) e as suas consequncias para as
regies. Basicamente, envolvia um contraste claro
entre a riqueza das reas centrais urbanas e a pobreza
das reas rurais perifricas. Est particularmente
associado a teorias de desenvolvimento e era fre-
quentemente empregue por analistas marxistas e
neomarxistas do apartheid na frica do Sul, para
explicar as disparidades de riqueza e privilgios entre
brancos e negros.
No segundo sentido, o termo usado para des-
crever divises culturais e polticas, mais do que divi-
ses puramente econmicas. Por exemplo, no Reino
Unido, o colonialismo interno refere-se relao
entre Inglaterra (o centro) e a Esccia, Irlanda e Pas
de Gales. Estes trs Estados tenderam a desenvolver
economias de exportao especializadas s necessi-
dades do centro, e em vez de assimilao poltica
mantiveram tradies culturais e polticas separadas.
Ento, politicamente o termo est prximo das teo-
rias do imperialismo, nacionalismo e secessio-
nismo.
COMRCIO ELECTRNICO
E-commerce
O comrcio electrnico designa a compra e venda de
bens e servios atravs de meios electrnicos e em
particular atravs da Internet. O termo B2B (Business
to Business) designa as relaes comerciais entre
empresas e o termo B2C (Business to Consumer)
designa as relaes comerciais entre empresas e con-
sumidores finais.
COLONIALISMO INTERNO 39
O colonialismo , ento, uma forma particular de
imperialismo. Na sua essncia envolve direitos desi-
guais, separao e explorao deliberada.
O colonialismo geralmente caracterizado pelo
povoamento e domnio econmico. Envolve a colo-
nizao de territrios estrangeiros, a manuteno de
poder sobre uma populao subordinada, e a sepa-
rao do grupo dominante da populao. A relao
entre o pas-me e a colnia geralmente de explo-
rao. O governo colonial controlado por uma
comunidade estabelecida no pas colonizado, oriunda
da metrpole, etnicamente distinta da populao
nativa. Marcas caractersticas incluem domnio
poltico e legal por uma minoria estrangeira, explo-
rao e dependncia econmica, e desigualdade racial
e cultural. A justificao para a aquisio de colnias
radica na inteno de aumentar a riqueza e bem-estar
do poder colonial, atravs da extraco de recursos
naturais e matrias-primas a melhor preo do que
aquele a que seriam adquiridos no mercado tradi-
cional, ou ainda atravs da manuteno de merca-
dos para os seus produtos com tarifas vantajosas.
Contrariamente ao imperialismo, que pode envol-
ver assimilao total, o colonialismo envolve uma
separao mais ou menos estrita do centro metro-
politano, pelo facto das colnias servirem as neces-
sidades do poder colonial e dessa forma ocuparem um
lugar de subjugao.
Historicamente, o fenmeno est associado
Europa. As maiores potncias coloniais entre os scu-
los XV e XIX foram Portugal, Espanha, Holanda, Gr-
-Bretanha e Frana. Mais tarde, a estes se juntaram,
j em finais do sculo XIX, incios do sculo XX, a
Blgica, Alemanha, Itlia, Estados Unidos da Amrica,
Japo e Rssia. Os alvos destes movimentos de com-
petio e penetrao eram as Amricas, frica, sia
e Australsia.
O colonialismo e a sua anttese, o anticolonia-
lismo, tm sido foras maiores na formao do carc-
ter poltico e econmico do mundo moderno. At ao
sculo XIX, entendido como consequncia inevitvel
da poltica das grandes potncias, era prtica comum,
gerando pouca oposio. Com a ascenso do libe-
ralismo, nacionalismo e especialmente com a cr-
tica marxista/leninista aos procedimentos socioeco-
nmicos e polticos convencionais, o conceito e as
prticas associadas ao colonialismo comearam a ser
entendidas como ilegtimas. De facto, o sucesso do
movimento anticolonial esteve directamente rela-
cionado com as doutrinas e ideologias desenvolvidas
nos prprios pases colonizadores.
A incorporao de ideias de autodeterminao,
soberania, independncia e igualdade formal nas
maiores instituies da comunidade internacio-
nal assegurou o fim do ideal colonial. As Naes
Unidas tm liderado o movimento anticolonial e a
Assembleia Geral; em particular, tm sido o actor
mais importante na efectivao da sua quase total
rejeio.
Estes temas so ecoados no termo neocolonialismo,
que se refere continuidade de dominao dos
Estados independentes ps-coloniais pelo mundo
desenvolvido. A dependncia do investimento externo,
cura atravs dos seus prprios meios, mas decidem
obt-los de produtores estrangeiros, visto serem mais
baratos para os consumidores. Assim como os pa-
ses importam determinados bens por diversas razes,
tambm exportam por vrias razes, sendo uma delas
simplesmente a de obter os recursos necessrios para
pagar as suas importaes. Os pases tambm pro-
curam ampliar as suas exportaes porque os mer-
cados estrangeiros oferecem oportunidades adicio-
nais para o crescimento das suas indstrias doms-
ticas, incluindo um maior nmero de empregos den-
tro do pas.
O comrcio internacional est a evoluir rapida-
mente para um comrcio global. A globalizao do
comrcio envolve mais do que uma simples troca de
bens e servios entre diferentes economias, uma vez
que sugere a emergncia de mercados mundiais para
os bens e servios comercializados. Certamente, isto
no obriga a que todos os pases negoceiem com
todos os outros; apenas revela a existncia de um sis-
tema de negcios no qual a actividade comercial
entre dois pases possa afectar as relaes comerciais
entre os outros. Mais especificamente, a globaliza-
o do comrcio implica a existncia de nveis signi-
ficativos de comrcio inter-regional, de tal modo que
os mercados que negoceiam bens funcionem mais a
nvel global do que a nvel intra-regional.
Assim, para que um mercado global exista, tem de
haver nveis significativos de troca de bens ou ser-
vios a nvel inter-regional. medida que a compe-
tio transregional evolui, a procura e oferta de bens
desenvolve-se progressivamente a nvel global: as
empresas disponibilizam os bens em todo o globo e
tm que responder competio de outros. Certa-
mente, esta competio pode assumir diferentes for-
mas, de tal modo que os mercados globais podem
reflectir condies de oligoplio, mais do que de com-
petio perfeita, com alguns grandes produtores a
dominar o sector comercial.
A globalizao do comrcio implica a existncia de
mercados globais para produtos e servios que trans-
formam as economias nacionais, na medida em que
a produo crescentemente condicionada por for-
as competitivas globais. Dentro das economias, o
comrcio tambm tem impacto a nvel distributivo,
na medida em que torna alguns grupos mais ricos
que outros. Os pases ligados pelo comrcio podero
tambm ter diferentes nveis de rendimento, enquanto
que a natureza e acesso aos mercados tambm varia.
O desenvolvimento das infra-estruturas de transporte
facilitou grandemente o comrcio. Alm do mais, as
dificuldades relativas garantia dos direitos de pro-
priedade em mercados distantes tambm culmina-
ram na institucionalizao de acordos de comrcio.
Redes e mercados de comrcio global tm surgido
ao longo dos tempos, assumindo diferentes formas
histricas. As relaes comerciais tambm tm sido
institucionalizadas, uma vez que padres legais glo-
bais emergiram para regular a conduo e a poltica
comercial das naes e empresas (David Held, et al.).
O livre comrcio traz consigo numerosos benef-
cios, mas tambm possveis custos. Se os pases esto
interessados em desenvolver no seu territrio
COMRCIO INTERNACIONAL 40
COMRCIO INTERNACIONAL
Compra e venda de bens e servios, especialmente
entre pases, com a particularidade de o comrcio
internacional envolver, regra geral, a utilizao de
diversas moedas e estar sujeito a regulamentaes
adicionais tais como tarifas, quotas e controlos cam-
biais.
O comrcio internacional compreende quatro
grandes categorias: as mercadorias, isto , todos os
bens materiais como gneros alimentcios, vestu-
rio, matrias-primas e maquinaria; os servios, que
abrangem produtos como o turismo, os servios ban-
crios e as telecomunicaes; a propriedade inte-
lectual, que diz respeito ao comrcio e ao investi-
mento em ideias e criatividade (direitos de autor,
design industrial, direitos dos artistas, etc.); e o inves-
timento direito estrangeiro (IDE), que ocorre quando
uma empresa de um pas adquire ou cria uma
empresa noutro pas cerca de 48% dos fluxos de
IDE dizem respeito aos servios, 42% indstria
manufactureira e 4% ao sector mineiro (incluindo
o petrleo).
O comrcio, no sentido da troca de bens e servi-
os (respectivamente, 80% e 20% do comrcio inter-
nacional) entre pessoas distncia, tem uma longa
histria. Grandes imprios comerciais surgiram
desde que viagens regulares de longo curso se tor-
naram possveis. Mas o comrcio internacional, a
troca de bens e servios entre naes, por definio,
surgiu apenas com o estabelecimento do Estado-
-nao, uma vez que estes, necessitando de receitas,
principalmente para financiar as suas campanhas
militares, viam no comrcio uma boa fonte de ren-
dimento.
Hoje todos os pases negoceiam internacional-
mente e, excepo de casos como a Coreia do Norte,
negoceiam propores significativas do seu rendi-
mento nacional. Cerca de 20% da produo mundial
negociada e uma proporo bastante maior poten-
cialmente objecto de competio internacional,
levando a que o comrcio alcanasse nveis sem pre-
cedentes. O comrcio um mecanismo central para
o movimento de bens e, cada vez mais, de servios,
volta do globo, e tambm central na transfern-
cia de tecnologia. Ligando mercados nacionais a mer-
cados internacionais a abertura de mercados nacio-
nais ao comrcio teve efeitos fundamentais no desen-
volvimento de novas formas de competio e na
transformao das economias domsticas , o comr-
cio, ao presente, constitui parte integral da estrutura
de produo nacional dos Estados modernos.
Existem muitas razes pelas quais os pases
desenvolvem o comrcio internacional. Em muitos
casos, certos bens como petrleo ou caf no exis-
tem a nvel domstico. Outras vezes, apesar do pas
ter recursos prprios, estes podem ser insuficientes
para responder procura da populao. No caso de
produtos como computadores e reactores nucleares,
os pases no dispem de capacidade tecnolgica para
os produzir dentro das suas fronteiras. Noutros casos
ainda, como acontece com os sapatos e os txteis, os
pases podem ter capacidade para responder pro-
de 1997 demonstrou. A autarcia est tambm apa-
gada da agenda poltica.
O entusiasmo recente por polticas de capital
humano educao e formao reflecte no s o
interesse acadmico e poltico no potencial destas
medidas para melhorar algumas das consequncias
adversas do comrcio global livre, mas tambm a apa-
rente excluso de outras opes polticas. A este res-
peito, a globalizao contempornea do comrcio
transformou a autonomia do Estado e induziu mudan-
as nas polticas estatais. Alm do mais, a regulao
global do comrcio, atravs da Organizao Mundial
de Comrcio (OMC), implica uma renegociao signi-
ficativa da noo vestefaliana de Estado soberano
(David Held).
COMISSO DO OCEANO NDICO (COI)
Indian Ocean Commission
Criada em 1984 por Madagscar, Ilhas Maurcias e
Seicheles, tem por objectivo reforar os laos entre
os pases do Sudoeste do Oceano ndico, principal-
mente nos domnios econmico, social, cultural e
tcnico. Para o financiamento dos seus projectos, a
COI recebe uma ajuda importante da Unio Europeia,
atravs do Fundo Europeu para o desenvolvimento.
Actualmente, so membros os Estados fundadores,
os Camares e Reunio.
COMMONWEALTH
Conjunto de Estados que fizeram parte do Imprio
Britnico. O termo apareceu pela primeira vez em
1921, no Tratado de Londres que reconheceu a exis-
tncia de um novo domnio, o Estado livre da Irlanda,
que se juntou a outros domnios: Canad, Austrlia,
Nova-Zelndia e Unio Sul Africana. Em 1931, o esta-
tuto de Westminster, preparado pelo relatrio
Balfour, substitui o imprio por uma comunidade de
naes britnicas (British Commowealth of Nations)
ligadas coroa britnica, por sua livre vontade de
associao. Em 1932, os acordos de Otava estabele-
ceram o princpio de uma preferncia imperial. A
descolonizao obrigou a reconsiderar as definies
anteriores: todos os territrios que se encontravam
sob jurisdio britnica no se juntaram Common-
wealth. Em 1949, a Commonwealth definiu-se como
um conjunto multitnico e multilingustico sem fide-
lidade coroa, o que permitiu manter neste conjunto
Estados republicanos como a ndia.
Com o desaparecimento do Imprio Britnico em
1949, seguida da descolonizao, a Commonwealth
reagrupa a maior parte dos antigos territrios que
estiveram sob domnio britnico e que se tornaram
independentes. Reconhecem o Reino Unido como o
pas lder da Commonwealth. Tem 54 membros: frica
do Sul, Antgua e Barbuda, Austrlia, Baamas,
Bangladesh, Barbados, Belize, Botswana, Brunei,
Camares, Canad, Chipre, Dominica, Fiji, Gmbia,
Gana, Granada, Guiana, ndia, Jamaica, Kiribati,
Lesoto, Malsia, Malawi, Maldivas, Malta, Maurcias,
COMISSO DO OCEANO NDICO (COI) 41
indstrias nascentes que ainda no so competi-
tivas com os produtores estrangeiros, melhor esta-
belecidos e mais eficientes, o livre comrcio pode
resultar num fluxo de importaes baratas que supe-
ram as linhas domsticas e impedem que as novas
empresas locais cresam. Em muitos casos, a opo-
sio interna ao livre comrcio vem, no das inds-
trias nascentes, mas dos trabalhadores e gerentes de
algumas indstrias antigas que no se adaptaram s
condies de mudana e se tornaram ineficientes face
aos seus concorrentes estrangeiros. Pelo menos no
curto prazo, o mercado livre pode afectar desfavorvel
e severamente estas indstrias locais, levar ao encer-
ramento de empresas e aumentar o desemprego.
Especializando-se em certas reas econmicas
(como a alta tecnologia) e dependendo das indstrias
estrangeiras para a obteno de outros bens neces-
srios (como a construo de barcos), os pases arris-
cam-se a ficar excessivamente dependentes das fon-
tes externas de bens e servios que em certos momen-
tos podem ser suspensas, nomeadamente em situa-
es de guerra ou de crise. As presses tendentes
restrio de importaes podem tambm originar-se
quando os pases se encontram em situao de
balana comercial negativa, isto , quando o valor das
suas importaes excede o das suas exportaes, o
que significa que o pas pode estar a viver para alm
das suas capacidades e meios. Mesmo as exportaes
que se esperaria que os governos promovessem da
melhor forma possvel, podem ver-se reduzidas se o
efeito de vender certos bens (por exemplo, o trigo)
no mercado mundial, produzir escassez e aumento
dos seus preos a nvel local. Por todas estas razes
os governos nacionais optam, por vezes, por res-
tringir em vez de expandir o comrcio.
Existem diversos sistemas mediante os quais os
governos tentam proteger os produtores nacionais
da concorrncia estrangeira, todos com o objectivo
de limitar o comrcio internacional. O aspecto mais
elementar consiste em proibir que entrem em ter-
ritrio nacional certos produtos estrangeiros ou
impor quotas respectivas ao volume mximo de
importaes permitidas (por exemplo, o nmero de
automveis). Instrumento mais comum so as tari-
fas ou impostos s importaes, as quais tm por
efeito incrementar o preo de venda de tais bens em
relao aos produtos nacionais, tornando estes lti-
mos mais atractivos para os consumidores.
Desde a sua criao, o Estado-nao tem usado a
proteco comercial como forma de aumentar ren-
dimentos, gerir dificuldades na balana de paga-
mentos e promover a indstria nacional. Em finais
do sculo XX, constrangimentos institucionais,
bem como custos econmicos, limitaram severa-
mente o mbito do proteccionismo nacional. Hoje,
no s as tarifas e restries de quotas, mas tambm
polticas de apoio indstria nacional e mesmo leis
internas relativas competio negocial e regras de
segurana, so sujeitas ao crescente escrutnio e
regulao nacional. Em adio, a experincia hist-
rica de alcanar desenvolvimento econmico atravs
do proteccionismo, apesar de mista, agora uma
opo poltica diminuda, tal como a crise asitica
COMPACT DISC-READ
ONLY MEMORY (CD-ROM)
Discos compactos de gravao ptica permitindo o
armazenamento de cerca de 650 Mb de dados,
msica, imagens ou vdeo. Semelhantes aos vulga-
res CD de udio (12 cm), permitem apenas a leitura
de informao. Os CD-R permitem a gravao uma
nica vez e os CD-RW (rewritable) permitem a gra-
vao mltiplas vezes.
COMPROMISSO ARBITRAL
o acordo entre dois ou mais sujeitos de direito, no
sentido de aceitarem a submisso de um dado lit-
gio (ou de um conjunto de litgios potenciais den-
tro de determinado mbito) a uma instncia arbitral.
Existem fundamentalmente trs formas de estabe-
lecimento desse compromisso: atravs de uma deci-
so concreta no mbito de um litgio existente; atra-
vs de uma clusula compromissria inserida numa
conveno (para efeitos de alguns ou todos os lit-
gios que possam surgir no mbito da mesma); e atra-
vs de um tratado de arbitragem, que estipula as
regras de funcionamento e anexa os compromissos
dos Estados ou outros sujeitos de sujeitarem a esse
mecanismo (todos ou alguns dos) litgios entre si.
O compromisso arbitral h-de determinar ainda a
composio do rgo arbitral, as principais regras de
funcionamento e os seus poderes. Normalmente
incluir tambm a definio concreta do objecto do
litgio, ou seja, especificar as questes em relao
s quais o rgo arbitral se deve pronunciar.
A prtica tem demonstrado ser necessrio reconhe-
cer-se em princpio ao rgo arbitral uma competn-
cia genrica de interpretao do prprio compro-
misso arbitral (aquilo que se designa correntemente
como a competncia das competncias), sem o que
qualquer parte sempre poderia bloquear em concreto
o recurso arbitragem, questionando o facto de o
litgio enquadrar o compromisso (principalmente
quando este seja genrico). O rgo arbitral dispe
ainda de uma competncia genrica para determinar
em concreto do direito aplicvel (sem prejuzo de
limitaes eventualmente estabelecidas pelas partes
no compromisso arbitral), podendo ainda ver-lhe atri-
budos poderes especiais (como sejam os de concilia-
o, de recorrer equidade, etc.).
COMUNICAO POLTICA
Por comunicao poltica entendemos o espao onde
se trocam os discursos contraditrios dos trs agen-
tes que tm legitimidade para se exprimir publica-
mente acerca da poltica, isto os polticos, os jor-
nalistas e a opinio pblica.
No incio, a comunicao poltica designava o
estudo da comunicao feita a partir do governo para
o eleitorado e a troca de discursos polticos entre a
maioria e a oposio.
Actualmente, a comunicao poltica engloba o
estudo do papel da comunicao na vida poltica em
COMPACT DISC-READ ONLY MEMORY (CD-ROM) 42
Moambique, Nambia, Nauru, Nigria, Nova
Zelndia, Papusia-Nova Guin, Paquisto, Qunia,
Reino Unido, Saint Kitts e Nevis, Salomo (Ilhas),
Samoa Ocidental, Santa Lcia, So Vicente e
Granadinas, Seicheles, Serra Leoa, Singapura,
Sri Lanka, Suazilndia, Tanznia, Tonga, Trindade
e Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zmbia e
Zimbabwe.
O seu secretariado est sediado em Londres.
O grupo rene Estados de todos os continentes,
heterogneos, quer em termos econmicos, quer em
termos culturais e sociais; contudo, unidos por uma
herana comum e uma vontade unnime de coope-
rar ao servio de uma organizao por eles criada e
de acordo com princpios que defendem. A declarao
de princpios da Commonwealth, redigida em Singa-
pura em 1971, precisa a este respeito: a Common-
wealth associa os esforos dos seus membros para
trabalhar na prossecuo de um mundo governado
pela cooperao internacional e o respeito das naes,
porque estes so os fundamentos necessrios paz
e ao desenvolvimento econmico e social.
Os 54 Estados-membros so iguais em direitos e
tm um estatuto idntico; s Nauru e Tuvalu tm um
estatuto especial. Os 26 territrios dependentes ou
associados Austrlia, Nova Zelndia e Reino Unido
participam nas actividades de cooperao. Ser mem-
bro significa reconhecer a rainha do Reino Unido
como chefe da Commonwealth, porque ela simbo-
liza a legitimidade, continuidade e lealdade relati-
vamente aos princpios proclamados. Os membros
pertencem mesma famlia de direitos, tm insti-
tuies similares, uma histria partilhada, e a per-
sistncia de uma solidariedade ao nvel cultural, cien-
tfico e militar.
Os membros comprometem-se a respeitar as deci-
ses comuns, uma vez que elas so a expresso do
interesse colectivo que os rgos tm por misso
defender.
Os rgos principais (reunio dos chefes de Estado
e secretariado) decidem e coordenam as actividades
de cooperao; os rgos subsidirios, assim como
as instituies especializadas, esto encarregados de
as colocar em prtica.
ainda de destacar a Fundao da Commonwealth,
que se tornou uma organizao internacional,
quando o seu acto constitutivo foi modificado pelo
acordo de 15 de Julho de 1982. Tem por misso coor-
denar, promover e encorajar a aco de 250 ONG
que canalizam as solidariedades privadas para a
Commonwealth.
Com o aumento da cooperao poltica e funcio-
nal, o regionalismo e o universalismo dos seus objec-
tivos e das suas realizaes, a diplomacia da Common-
wealth hoje credvel. Ponto de solidariedade entre
o norte e o sul, intrprete do terceiro mundo junto
de organizaes internacionais, canal diplomtico de
microestados, a Commonwealth coopera com todas
as organizaes regionais s quais pertencem os seus
membros. Trabalha especialmente com os rgos
subsidirios e as instituies especializadas das Naes
Unidas. A lngua inglesa, lngua oficial, um forte
factor de unidade e de coeso.
de 2003. Tambm est previsto um Mercado Comum
para 2005, com liberdade de bens, servios, capitais
e pessoas.
So cinco os Estados-membros: Bolvia, Colmbia,
Equador, Peru e Venezuela. Tem sede em Lima.
COMUNIDADE PARA
O DESENVOLVIMENTO
DA FRICA AUSTRAL
Southern African Development Community (SADC)
Criada em 1979 sob o nome de Conferncia de
Coordenao do Desenvolvimento da frica Austral,
adoptou o nome de Comunidade de Desenvolvimento
da frica Austral, pelo tratado de Windhoek (Nam-
bia), em Agosto de 1992. So Estados-membros: frica
do Sul, Angola, Botswana, Ilhas Maurcias, Lesoto,
Malawi, Moambique, Nambia, Seicheles, Suaziln-
dia, Tanznia, Zmbia e Zimbabwe. A entrada da frica
do Sul, em 1994, veio reforar o seu peso regional.
Tem como objectivos o crescimento e desenvolvi-
mento econmico, o combate pobreza e a maxi-
mizao da produo e emprego. Visa a constituio
de uma zona econmica integrada e adoptou, desde
2001, instituies baseadas no modelo da Unio
Europeia. Possui igualmente um rgo de defesa e
de segurana. Tem sede em Gaborone (Botswana).
COMUNIDADE ECONMICA DOS
ESTADOS DA FRICA OCIDENTAL
(CEDEAO)
Economic Community of West African States (ECOWAS)
Criada em Maio de 1975, na cidade de Lagos, entrou
em vigor em Fevereiro de 1976. Tinha como objec-
tivo inicial favorecer a integrao econmica na
frica Ocidental. Os seus objectivos consistem em
promover a cooperao e a integrao atravs do
estabelecimento de uma unio econmica, com vista
melhoria do nvel de vida das populaes e manu-
teno de uma estabilidade econmica por forma a
contribuir para o desenvolvimento do continente afri-
cano.
Mais tarde, estendeu as suas competncias ao dom-
nio militar e, face ao aumento dos conflitos regio-
nais, adoptou desde 1990 uma fora de interposio
africana, o ECOMOG, que interveio na Libria,
Guin-Bissau e Serra Leoa.
O tratado foi revisto em Julho de 1993, o que veio
dar um novo impulso regio em matria de coope-
rao econmica e opes de integrao.
Pretende facilitar a livre circulao de mercado-
rias, e possibilitar que as moedas nacionais tenham
aceitao em certos tipos de pagamento, visando esta-
belecer uma unio econmica, com um perodo tran-
sitrio de 15 anos, a contar de Janeiro de 1990.
Entre os projectos cuja preparao est mais avan-
ada encontram-se a moeda nica, uma zona de
comrcio livre e uma pauta aduaneira comum.
COMUNIDADE DE FRICA ORIENTAL (CAO) 43
sentido amplo, integrando tanto os mdia como as
sondagens, o marketing poltico e a publicidade, com
interesse particular nos perodos eleitorais.
COMUNIDADE DA FRICA ORIENTAL
(CAO)
East African Community
Relanada em 1996, aps 10 anos de existncia entre
1967 e 1977, a nova Comunidade de frica Oriental
foi institucionalizada por um tratado, celebrado em
Novembro de 1999. Os trs pases que a compem
so membros da SADC (Uganda e Tanznia), e do
COMESA (Qunia e Uganda). Est prevista entre
estes pases uma zona de comrcio livre. So
Estados candidatos adeso, o Burundi e o Ruanda.
Tem sede em Arusha (Tanznia).
COMUNIDADE ANDINA
uma organizao sub-regional com personalidade
jurdica internacional.
Criada em Maio de 1996 pela Acta de Trujillo, a
Comunidade Andina sucedeu ao Pacto Andino, for-
mado pelo Acordo de Cartagena assinado em Maio
de 1966 e que entrou em vigor a 16 de Outubro de
1969. Acontecimentos polticos em 1992 na regio,
como foi o caso da tentativa de golpe militar na
Venezuela, o golpe de estado contra a ordem cons-
titucional no Peru e a ruptura das relaes diplo-
mticas entre o Peru e a Venezuela, vieram pr em
causa o futuro do Grupo Andino provocando mesmo
a sua paralisao.
Apesar das vicissitudes que marcaram a sua his-
tria, o Grupo Andino constituiu uma ambiciosa
experincia de integrao e cooperao na Amrica
do Sul.
A Comunidade Andina tem por objectivo estabe-
lecer um mercado comum e promover a integrao
e a cooperao econmica e social na regio.
O Sistema Andino de Integrao (SAI) o conjunto
de rgos e instituies que trabalham estreitamente
vinculados entre si e cujas aces esto encaminha-
das para os mesmos objectivos: aprofundar a inte-
grao sub-regional andina, promover a sua projec-
o externa e fortalecer as aces relacionadas com
o processo.
O rgo mximo do Sistema Andino de Integrao
o conselho presidencial andino, constitudo pelos
presidentes da repblica dos Estados-membros. Tem
tambm um rgo de direco poltica, o conselho
andino de ministros de relaes externas, uma comis-
so, uma secretaria geral, um parlamento e um tri-
bunal de justia andino.
A Comunidade Andina uma unio aduaneira
desde 1995, ano em que entrou em vigor uma tarifa
externa comum adoptada pela Colmbia, Equador
e Venezuela. O Peru no subscreveu este acordo.
Contudo, a Declarao de Santa Cruz, de Janeiro de
2002, afirma que todos os Estados-membros tero uma
tarifa externa comum, o mais tardar em Dezembro
saram a fazer parte desta Comunidade, constituda
a partir de ento, por quinze Estados. Aps 1 de Maio
de 2004, a Comunidade viu-se alargada a 25 Estados,
com a adeso dos Estados do Bltico (Estnia, Letnia
e Litunia), quatro pases da Europa central (Eslo-
vquia, Hungria, Polnia e Repblica Checa), um
Estado da antiga Jugoslvia a Eslovnia e ainda
2 pases do Mediterrneo Chipre e Malta.
A Comunidade Econmica Europeia (1957-1992)
transformou-se na Comunidade Europeia (1992-
-1993) e aps Novembro de 1993, deu lugar Unio
Europeia.
COMUNIDADE ECONMICA E
MONETRIA DA FRICA CENTRAL
(CEMAC)
Economic and Monetary Community of Central Africa
(EMCCA)
Criada em 1994 e institucionalizada por um tratado
assinado em Julho de 1996, a CEMAC sucedeu ofi-
cialmente, em 1998, Unio Aduaneira e Econmica
da frica Central, instituda pelo Tratado de Brazza-
ville de 1964. A CEMAC forma uma unio aduaneira
e monetria entre os pases da regio, sendo todos
membros da zona franco. Tem como banco central,
o Banco de Desenvolvimento dos Estados da frica
Central (BEAC), criado para financiar o desenvolvi-
mento econmico e social dos Estados-membros:
Camares, Congo, Gabo, Guin Equatorial, Rep-
blica Centro Africana e Chade. So Tom e Prncipe
est economicamente ligado CEMAC atravs de um
acordo de Comrcio Livre. Tem sede em Bangui
(Repblica Centro Africana).
COMUNIDADE ECONMICA DOS
PASES DOS GRANDES LAGOS
(CEPGL)
Economic Community of the Great Lakers Countries
O Tratado CEPGL entrou em vigor a 6 de Abril de
1977. Fazem parte desta Comunidade, o Burundi, o
Ruanda e a Repblica Democrtica do Congo. O seu
objectivo o de encorajar a criao e desenvolvi-
mento de actividades comuns, intensificar o comr-
cio de bens e estreitar a cooperao nos mais varia-
dos domnios.
COMUNIDADE DE ESTADOS
INDEPENDENTES (CEI)
Commonwealth of Independent States (CIS)
A Comunidade de Estados Independentes (CEI) foi
estabelecida a 8 de Dezembro de 1991, aps a desa-
gregao da Unio Sovitica, como uma associao
voluntria, atravs da assinatura do Acordo Belo-
vezhskaia Pushcha, pelos chefes de Estado da Bielor-
COMUNIDADE ECONMICA DOS ESTADOS DA FRICA CENTRAL (CEEAC) 44
Tem 15 Estados-membros: Benin, Burkina-Faso,
Cabo Verde, Costa do Marfim, Gambia, Gana, Guin,
Guin-Bissau, Libria, Mali, Nger, Nigria, Senegal,
Serra Leoa e Togo. A Mauritnia deixou a organiza-
o em 2001.
Tem sede em Abuja (Nigria).
COMUNIDADE ECONMICA
DOS ESTADOS DA FRICA CENTRAL
(CEEAC)
Economic Community of Central African States (ECCAS)
Foi criada por um tratado assinado em Libreville em
Outubro de 1983.
Tem como Estados-membros: Angola, Burundi,
Camares, Chade, Gabo, Guin Equatorial, Prn-
cipe e Repblica Democrtica do Congo, Repblica
Centro Africana, Repblica do Congo, Ruanda e
S. Tom. Tem como objectivos a liberalizao do
comrcio, a adopo de uma pauta aduaneira comum
e de uma poltica comercial comum para pases ter-
ceiros, e ainda a livre-circulao das pessoas, acom-
panhados de uma liberdade de residncia e de esta-
belecimento.
Tem sede em Libreville (Gabo).
COMUNIDADE ECONMICA
EUROPEIA (CEE)
European Economic Community (EEC)
Tambm conhecida por Mercado Comum, foi criada
a 25 de Maro de 1957, atravs do Tratado de Roma,
pela Blgica, Frana, Itlia, Luxemburgo, Pases
Baixos e Repblica Federal da Alemanha.
O Tratado constitutivo da CEE definiu como prin-
cipais objectivos: estabelecer os fundamentos de uma
unio cada vez mais estreita entre os povos europeus;
assegurar, mediante uma aco comum, o progresso
econmico e social e a melhoria das condies de vida
e trabalho dos seus povos, de forma a atenuar e eli-
minar as barreiras que dividem a Europa; reforar a
unidade das suas economias e assegurar o seu desen-
volvimento atravs da reduo das desigualdades
entre as diversas regies; e consolidar, pela unio dos
seus recursos, a defesa da paz e da liberdade, ape-
lando para os outros povos europeus que partilham
dos seus ideais para que se associem aos seus esfor-
os. Para a consecuo de tais objectivos, a CEE defi-
niu polticas concretas que passavam pela unio
aduaneira industrial, atravs da eliminao dos direi-
tos alfandegrios intracomunitrios, por polticas
agrcola e comercial comuns, e por uma poltica da
concorrncia (Pascal Fontaine).
Aos seis pases fundadores juntar-se-iam, em
1972, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, e, em
1980, a Grcia.
Em Janeiro de 1986, a Espanha e Portugal torna-
ram-se membros de pleno direito da CEE e em
Janeiro de 1995, na sequncia dos Tratados de Adeso
do ano anterior, a ustria, Finlndia e Sucia pas-
Europa, ao libertar a produo e as trocas do carvo
e do ao, fundamentais para a sua indstria (Pascal
Fontaine).
Com a criao da CEE, em 1957, o principal cen-
tro da construo europeia passou do Luxemburgo
para Bruxelas e, em 1967, os rgos da CECA fun-
diram-se com os da CEE.
COMUNIDADE EUROPEIA DE
ENERGIA ATMICA (CEEA)
European Atomic Energy Community (EAEC)
Tambm conhecida por EURATOM, foi criada pelo
Tratado de Roma, assinado a 25 de Maro de 1957.
Entrou em vigor em 14 de Janeiro de 1958. Tem sede
em Bruxelas. O seu objectivo contribuir para a
melhoria do nvel de vida nos Estados-membros, atra-
vs do estabelecimento das condies necessrias
formao e crescimento rpidos das indstrias
nucleares. Portugal membro desde 1 de Janeiro de
1986.
COMUNIDADE DO PACFICO
Pacific Community
A Comisso do Pacfico do Sul foi fundada em 1947,
na Conveno de Camberra, pelos seis governos que
administram territrios do Pacfico (Austrlia,
Estados Unidos, Frana, Nova Zelndia, Pases
Baixos e Reino Unido). Em 1998, adoptou o nome de
Comunidade do Pacfico. O programa de trabalho
manteve-se essencialmente baseado na educao, for-
mao e ajuda tcnica. Tem 27 Estados-membros:
os Estados que assinaram a Conveno (excepto os
Pases Baixos que se retiraram) e 22 ilhas e territ-
rios do Pacfico. Tem sede em Noumea (Nova Cale-
dnia).
COMUNIDADE DOS PASES DE
LNGUA PORTUGUESA (CPLP)
Community of Portuguese Language Countries
Criada em 17 de Julho de 1996, tem sede em Lisboa.
So Estados-membros Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guin-Bissau, Moambique, Portugal, So Tom e
Prncipe e Timor-Leste.
A CPLP goza de personalidade jurdica e dotada
de autonomia administrativa e financeira. Tem
como objectivos a concertao poltico-diplomtica
entre os seus membros, em matria de Relaes
Internacionais, nomeadamente para o reforo da sua
presena nos fora internacionais; a cooperao, par-
ticularmente nos domnios econmico, social, cul-
tural, jurdico e tcnico-cientfico; e a materializa-
o de projectos de promoo e difuso da lngua por-
tuguesa.
A CPLP regida pelos princpios da igualdade sobe-
rana dos Estados-membros; no ingerncia nos
assuntos internos de cada Estado; respeito pela sua
COMUNIDADE EUROPEIA DO CARVO E DO AO (CECA) 45
rssia, Rssia e Ucrnia. Com a assinatura do Proto-
colo de Alma-Ata, a CEI foi alargada a 12 membros,
incluindo tambm a Armnia, o Azerbaijo, o
Cazaquisto, a Gergia, a Moldvia, o Quirguisto,
o Tajiquisto, o Turquemenisto e o Usbequisto. Das
novas repblicas independentes da ex-Unio
Sovitica, apenas os pases do Bltico (Estnia, Let-
nia e Litunia) optaram por no aderir. Com sede em
Minsk, Bielorrssia, a CEI visa o desenvolvimento de
relaes com base no reconhecimento e respeito
mtuo da soberania dos Estados-membros, na pro-
moo dos princpios de igualdade e no-interfe-
rncia nos assuntos internos, a resoluo de pro-
blemas por via negocial, repudiando o uso da fora
ou coero econmica, e compromete os Estados
participantes a respeitarem os direitos humanos e a
aderirem aos princpios da Carta das Naes Unidas
e de Helsnquia. Os seus objectivos principais pren-
dem-se com o desenvolvimento de relaes assen-
tes nos princpios da economia de mercado, pre-
vendo o desenvolvimento de um mercado Euro-
-asitico comum, de democracia e respeito pelos
direitos culturais e polticos de todos os cidados,
e de estabilidade militar na era ps-Sovitica, com
base na partilha de uma doutrina poltico-militar e
econmica.
COMUNIDADE EUROPEIA DO
CARVO E DO AO (CECA)
European Coal and Steel Community (ECSC)
Primeira forma de organizao europeia suprana-
cional, assente no eixo franco-alemo, com o objec-
tivo de colocar o conjunto da produo franco-alem
do carvo e do ao sob uma autoridade comum, no
quadro de uma organizao aberta a outros pases
europeus.
O Tratado de Paris de 18 de Abril de 1951 instituiu
a CECA por cinquenta anos. Foi ratificado por seis
Estados: Blgica, Frana, Holanda, Itlia, Luxem-
burgo e Repblica Federal da Alemanha. Entrou em
vigor em 25 de Julho de 1952. Foi extinta em 23 de
Julho de 2002.
O prembulo do Tratado proclamava o objectivo
ltimo de criar, mediante a instaurao de uma
comunidade econmica, os primeiros fundamentos
de uma comunidade mais larga e mais profunda ()
e lanar assim as bases de instituies capazes de
orientar um destino doravante partilhado.
A CECA era composta pelos seguintes rgos: a Alta
Autoridade, composta por nove membros designa-
dos por seis anos pelos governos de cada pas; a
Assembleia Comum, composta por 78 membros,
designados pelos parlamentos nacionais; o Conselho
Especial de Ministros, que representava os Estados
e dispunha de um poder limitado; e o Tribunal de
Justia.
A CECA teve o mrito, no plano poltico, de esti-
mular a reconciliao e a cooperao franco-alem,
abrindo caminho Europa comunitria; e no plano
econmico, de contribuir para a recuperao da
que em muitas circunstncias os dirigentes comu-
nistas aderiram aos caminhos da chamada demo-
cracia burguesa, no deixa de ser verdade que nou-
tras, a intransigncia em adoptar qualquer mudana
no comportamento poltico ou nas teses inicialmente
sustentadas uma evidncia. Sinal desta intransi-
gncia parece estar patente no Partido Comunista
Portugus, ao enfrentar uma contestao por parte
de muitos militantes e dirigentes, que reivindicam
da direco do partido a alterao completa da sua
prtica e abertura a novas formas de luta poltica.
COMUNITARIZAO
A comunitarizao consiste em transferir um dom-
nio no quadro da Unio Europeia, do mbito inter-
governamental (segundo e terceiro pilares), para o
mbito comunitrio (primeiro pilar).
O mtodo de deciso no mbito comunitrio assenta
no princpio de que a melhor forma de assegurar a
defesa do interesse geral dos cidados da Unio con-
siste em garantir que as instituies comunitrias
desempenhem plenamente o seu papel no processo
de deciso respeitando o princpio da subsidiariedade.
Na sequncia da entrada em vigor do Tratado de
Amesterdo, os aspectos relativos livre circulao
das pessoas, que estavam inseridos no mbito da
Justia e dos Assuntos Internos (terceiro pilar), foram
comunitarizados, passando, portanto, a ser regidos
pelo mtodo comunitrio aps um perodo de tran-
sio de cinco anos.
CONCERTO EUROPEU
O Concerto Europeu surgiu das deliberaes do
Congresso de Viena de 1815, aps as guerras napo-
lenicas, que estabeleceu um sistema de balana de
poder na Europa, e regulou as crises diplomticas na
Europa entre 1815 e 1856. Apesar de no ter
nenhuma estrutura institucional formal, o seu pro-
psito era claramente de gesto controlar, atravs
de consultas mtuas, a balana de poder na Europa
ps-napolenica. O Congresso de Viena e o conceito
de diplomacia de conferncias a inaugurado, per-
maneceram na base da conduta internacional ao
longo do sculo XIX, apesar do Concerto Europeu,
como tal, terminar com a Guerra da Crimeia (1853-
1856). A unidade de propsitos que alcanou foi
impressionante. Um largo nmero de factores con-
tribuiu para o seu sucesso, no sentido em que, ao
longo de quarenta anos, no ocorreram guerras entre
as maiores potncias.
Os membros deste clube de grandes potncias
(Gr-Bretanha, Rssia, ustria, Prssia, Frana, e
mais tarde Itlia e Turquia) eram interpretados como
praticamente iguais quanto a capacidade militar e
importncia diplomtica.
As reunies eram restritas s grandes potncias.
Por vezes, Estados menores eram consultados, mas
nunca na base da igualdade (esta prtica de conferir
estatuto especial s grandes potncias reapareceu, quer
na Sociedade das Naes, quer nas Naes Unidas).
COMUNIDADE DE SEGURANA 46
identidade nacional; reciprocidade de tratamento;
primado da paz, da democracia, do Estado de
direito, dos direitos humanos e da justia social; res-
peito pela sua integridade territorial; promoo do
desenvolvimento e da cooperao mutuamente van-
tajosa.
Para alm dos membros fundadores, qualquer
Estado, desde que use o portugus como lngua ofi-
cial, poder tornar-se membro da CPLP, mediante a
adeso sem reservas aos seus estatutos.
So rgos da CPLP, a conferncia de chefes de
Estado e de governo; o conselho de ministros; o
comit de concertao permanente; e o secretariado
executivo.
Na materializao dos seus objectivos, a CPLP
apoia-se tambm nos mecanismos de concertao
poltico-diplomtica e de cooperao j existentes ou
a criar entre os seus Estados-membros.
COMUNIDADE DE SEGURANA
Security community
Conceito desenvolvido por Karl Deutsch na dcada
de 1950, e que se traduz numa forma de cooperao
internacional resultante da crescente interaco e
desenvolvimento das comunicaes, reduzindo a ins-
tabilidade e podendo mesmo levar integrao. A
ideia de comunidade sem guerra sustentada em
expectativas fiveis de paz, ou na ausncia de pre-
parativos significativos para a guerra ou violncia.
Em caso de conflito entre os participantes de uma
comunidade de segurana, a gesto e resoluo de
conflito seriam a via possvel. O termo aplica-se de
forma particular Europa do ps-guerra.
COMUNISMO
Sistema econmico assente na propriedade colectiva
dos meios de produo, que surgiu como reaco ao
capitalismo, entendido pelos defensores desta cor-
rente como um sistema desigual e injusto.
Conjunto de ideias polticas associadas a Marx e
Engels, desenvolvidas por Lenine e institucionali-
zadas at 1990, na Unio Sovitica, Europa de leste
e China.
Doutrina poltica que advoga a igualdade dos
homens a sociedade sem classes , propondo
alcan-la atravs da abolio da propriedade privada
e da ditadura do proletariado, fase em que o apare-
lho do Estado ser colocado ao servio dos prolet-
rios, visando a destruio das classes sociais domi-
nantes e dos seus instrumentos polticos, econmi-
cos e sociais.
Aps a queda do Muro de Berlim, a 9 de Novembro
de 1989, e a imploso da Unio Sovitica em 1991,
adveio uma crise profunda em praticamente todos os
Partidos Comunistas. Tal facto contribuiu para pro-
vocar um importante debate no seio dos defensores
do comunismo, sobre a validade, quer dos pressupos-
tos, quer dos meios, quer dos fins da doutrina por si
preconizada. uma discusso inacabada. Se certo
CONFEDERAO
Associao de Estados soberanos que aceitam parti-
lhar o seu poder na prossecuo de interesses e objec-
tivos comuns, mas sem perderem a sua capacidade
de deciso prpria. Por norma, estas associaes
baseiam-se na igualdade jurdica e poltica das par-
tes, assegurada pelos respectivos tratados de cons-
tituio, o que significa que os votos dos Estados tm
o mesmo peso, independentemente da sua dimenso
geogrfica, populacional ou econmica.
CONFERNCIA DAS NAES
UNIDAS PARA O COMRCIO E
DESENVOLVIMENTO (CNUCED)
United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD)
Criada em 30 de Dezembro de 1964, tem sede em
Genebra. Pertence ao Sistema das Naes Unidas e
tem como rgo principal o Conselho de Comrcio
e Desenvolvimento (rgo deliberativo). O secreta-
riado da CNUCED, que faz parte do secretariado da
ONU, dirigido por um secretrio geral.
A CNUCED define duas grandes orientaes para
a sua aco: recompor a cooperao internacio-
nal atravs da instaurao de relaes mais equili-
bradas entre o Norte e o Sul e da intensificao
da cooperao Sul-Sul; e reestruturar e dinamizar
o comrcio internacional em prol do desenvolvi-
mento e em condies de maior equidade e previsi-
bilidade.
Pretendendo inserir estes objectivos numa ptica
de interdependncia das economias, a CNUCED pri-
vilegia o dilogo intergovernamental, reforando os
sistemas, as estruturas e os acordos internacionais
nos domnios comercial, econmico e financeiro, em
ordem a conferir uma maior eficcia no apoio aos
esforos nacionais de desenvolvimento dos pases do
Terceiro Mundo.
CONFERNCIA SOBRE SEGURANA E
COOPERAO NA EUROPA (CSCE)
Organizao para a Segurana e Cooperao na
Europa (OSCE)
CONFLITO
Rivalidade ou antagonismo entre indivduos ou gru-
pos de uma sociedade. O conflito pode ter duas for-
mas: uma, ocorre quando h um confronto de inte-
resses entre dois ou mais indivduos ou grupos;
a outra acontece quando h pessoas ou colectivi-
dades envolvidas em luta directa com outras. O
conflito de interesses nem sempre leva luta decla-
rada, enquanto os conflitos directos podem, por
vezes, surgir entre grupos que, erradamente, acre-
ditam que os seus interesses so opostos aos dos
outros grupos.
CONCILIAO 47
No questionando a soberania dos Estados, dava
preferncia regra da unanimidade; no procurava
erradicar conflitos, apenas geri-los e control-los.
Apesar das grandes diferenas ideolgicas entre as
potncias as trs potncias da Europa central e de
leste eram conservadoras e contra-revolucionrias,
enquanto os Estados ocidentais eram liberais todas
partilhavam o desgnio de manuteno da paz e de
estabelecimento de um cdigo responsvel de com-
portamento internacional.
Por todas estas razes, o Concerto Europeu foi uma
inovao nas relaes diplomticas. A balana de
poder estava agora controlada e era genericamente
assumido que as grandes potncias tinham o direito
e a responsabilidade de impor a sua vontade colec-
tiva no sistema de Estados europeus. Contudo,
importante distinguir o Concerto Europeu da
Europa dos Congressos. Esta, foi caracterizada pela
tentativa dos Estados mais conservadores (em par-
ticular a Santa Aliana entre a Prssia, a Rssia e a
ustria) de intervir, pela fora das armas se neces-
srio, nos assuntos internos dos Estados, de forma
a prevenir o ressurgimento do radicalismo, nacio-
nalismo e liberalismo. Este intervencionismo levou
a disputas amargas entre as potncias e a Gr-
-Bretanha retirou-se formalmente em 1820, aps
exigncias de interveno directa na Grcia e em
Espanha.
O Concerto Europeu foi bem sucedido pois era uma
associao de Estados partilhando o mesmo princ-
pio geral, enquanto o Sistema de Congressos falhou,
por ser mais especfico e de orientao ideolgica.
CONCILIAO
Mecanismo poltico de regulao pacfica de conflitos,
expressamente previsto na Carta das Naes Unidas
que consiste na apreciao da situao por um rgo
existente ou criado para o efeito que propor
solues com vista resoluo do diferendo.
Um procedimento de resoluo de conflitos em que
h interveno de terceiros em assistncia s partes
em conflito, mas que no oferece uma soluo. No
caso de conciliao, a actividade de uma terceira parte
no-partidria, neutra e mediadora. O objectivo pri-
mrio da conciliao restabelecer a comunicao
entre as partes e assisti-las no melhor entendimento
da posio do outro. Em teoria, as partes podero
entender esta clarificao como confirmao da sua
hostilidade e suspeitas originais, e de acordo com essa
interpretao, continuar a oposio de interesses e
valores. Se um conflito apresenta uma longa hist-
ria de desconfiana, a conciliao poder ser iniciada
com a recusa das partes em discutir a situao na pre-
sena uma da outra. Uma fase de talking out poder
ser necessria antes da conciliao tentar qualquer
resoluo.
Qualquer soluo para o conflito derivada destes
procedimentos ter de ser auto-sustentada, isto ,
qualquer soluo atravs do processo de conciliao
no poder ser vista pelas partes como imposta. A este
respeito a conciliao uma das tcnicas menos
intrusa de resoluo de conflitos.
sobre as regras internas. H uma convergncia das
correntes doutrinais (mesmo para as correntes dou-
trinais prximas do voluntarismo) e jurisprudenciais
no sentido de aceitar que os Estados tm obrigao
de conformar o seu Direito Interno em termos de no
prejudicarem o cumprimento das suas obrigaes
internacionais, do qual resulta essa primazia (ainda
que relativizada pelas consequncias de um eventual
incumprimento dessa obrigao: a mera aplicao do
regime da responsabilidade internacional).
CONGRESSO DE VIENA
Concerto Europeu
CONHECIMENTO COMUM
Alfred Schtz defende a tese do carcter intersub-
jectivo do mundo e do carcter intersubjectivo e
socializado do conhecimento. Segundo ele, o conhe-
cimento comum corresponde a uma realidade
comum e partilhada, sancionada intersubjectiva-
mente. O conhecimento comum e a compreenso
partilhada do mundo, assentes numa reciprocidade
de perspectivas, do-nos a realidade objectiva das coi-
sas e permitem as rotinas da vida de todos os dias e
as actividades organizadas em conjunto. Nesta
medida, as coisas, os fenmenos, os acontecimentos
e a realidade da vida quotidiana, so o que as pessoas
pensam que eles so.
No seguimento de Schtz, e da sociologia de orien-
tao fenomenolgica, Harold Garfinkel fala de
um conhecimento comum das estruturas sociais.
Segundo Garfinkel e Sacks (1986), existe um carc-
ter formal das actividades prticas (a sua regulari-
dade, normatividade, tipicalidade, as suas proprie-
dades de ordem, etc.), que possibilita que os actores,
na sua vida quotidiana, realizem actividades orga-
nizadas, satisfazendo as suas expectativas recprocas
e conseguindo uma compreenso comum. O conhe-
cimento comum, do mesmo modo que as convenes
normativas, funciona portanto como recurso para a
aco, permitindo simultaneamente a inteligibilidade
desta.
As correntes construtivistas (Berger e Luckmann)
que destacam os modos de construo do real em
todos os domnios da sociedade e fazem da realidade
social um processo de construo permanente , con-
sideram que o conhecimento resultado de uma
construo comum, socialmente construdo e dis-
tribudo, e serve de recurso constantemente utilizado
na vida quotidiana.
CONJUNTURA ECONMICA
Designa o conjunto das variaes a curto prazo da
actividade econmica, bem como as ligaes destas
(evoluo do ndice de preos, taxa de desemprego,
Produto Nacional Bruto, balana comercial, etc.). A
conjuntura situa-se num perodo inferior a um ano,
geralmente de alguns meses.
CONFLITOS ENTRE NORMAS INTERNACIONAIS 48
CONFLITOS ENTRE NORMAS
INTERNACIONAIS
Na anlise da questo do eventual conflito entre nor-
mas internacionais deve distinguir-se a questo gen-
rica dos conflitos de normas de diversas fontes da
questo especfica dos conflitos entre normas con-
vencionais (sucessivas).
Assim, relativamente primeira questo (dos con-
flitos de normas entre diferentes fontes), a regra que
no havendo hierarquia entre as fontes de Direito Inter-
nacional, a soluo deve encontrar-se atravs da apli-
cao dos princpios gerais (a regra posterior derroga
a anterior, regra especial derroga a regra geral, etc.).
No tocante aos conflitos entre normas conven-
cionais sucessivas, o regime consideravelmente
mais desenvolvido. Assim, um eventual conflito dessa
natureza deve solucionar-se por referncia a dispo-
sies convencionais expressas (ou seja, as prprias
convenes podem prever no seu dispositivo, regras
que visem solucionar eventuais conflitos, como seja
uma declarao de compatibilidade ou um outro
mecanismo preventivo que procure evitar o conflito
por via de controlo prvio, da troca de informaes,
de consultas prvias adopo de determinadas deci-
ses, etc.).
Na inexistncia ou insuficincia de tais mecanis-
mos, devero aplicar-se algumas regras subsidirias.
Assim, havendo identidade das partes, prevalece o tra-
tado posterior, por se presumir afinal que a vontade
das partes era a de alterar o regime anterior incom-
patvel (lex posterior derrogat priori). No existindo
identidade das partes, o princpio geral a seguir o
da relatividade (ou do efeito relativo), aplicando-se
os tratados s partes envolvidas, recomendando-se
todavia, em caso de conflito, a prevalncia da primeira
conveno, por aplicao do princpio pacta sunt ser-
vanda, na medida em que no podem as partes pre-
judicar compromissos anteriores por fora de novos
compromissos. A eventual incompatibilidade de
regras convencionais conduzir no entanto sempre
a um incumprimento, da parte do sujeito que haja
assumido obrigaes dessa natureza. Esse incum-
primento permite parte ou partes ofendidas pro-
porem a modificao do tratado (se esta lhes inte-
ressar), deixarem de o cumprir ou pr-lhe fim e ainda
exigirem a responsabilizao do sujeito incumpridor
pelos eventuais danos.
Existem ainda situaes em que excepcionalmente
determinadas regras prevalecem ou se impem. o
caso das regras de ius cogens (cuja imperatividade
essencial, alis) que prevalecem em todas as situa-
es. ainda o caso dos tratados criando situaes
objectivas, de entre as quais avulta o artigo 103. da
Carta das Naes Unidas, que faz prevalecer qualquer
situao decorrente da dita Carta.
CONFLITOS ENTRE NORMAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Por fora do princpio do pacta sunt servanda reco-
nhece-se a primazia geral das regras internacionais
liberdade poltica e o primado do direito. Mais do que
qualquer outra organizao internacional, o Con-
selho da Europa caracteriza-se por esta base ideol-
gica de raiz tica e poltica, explicitada no valor
mximo da verdadeira democracia.
A actuao do Conselho da Europa desenrola-se a
dois nveis: a defesa e garantia dos direitos do homem,
e a cooperao internacional. Sob a sua gide cele-
braram-se mais de 150 convenes sobre os aspec-
tos relevantes da vida quotidiana de cidados resi-
dentes na Europa: educao, cultura, patrimnio,
meios de comunicao, sade, ordenamento do ter-
ritrio, juventude, desporto, meio ambiente, exclu-
so social, proteco das minorias, democracia local
e democracia partidria.
Por definio, o Conselho da Europa uma orga-
nizao reservada a pases europeus, e dentro des-
tes, apenas queles que satisfaam um requisito: o
respeito pelos princpios fundamentais da democra-
cia poltica. A organizao foi inicialmente consti-
tuda por 10 Estados: Blgica, Dinamarca, Frana,
Holanda, Irlanda, Itlia, Luxemburgo, Noruega,
Reino Unido e Sucia. A estes juntaram-se depois a
Grcia e a Turquia em 1949, a Islndia em 1950, a
Alemanha em 1951, a ustria em 1956, Chipre em
1961, Sua em 1963, Malta em 1965, Portugal em
1976, Espanha em 1979, Finlndia em 1989 e a
Hungria em 1990. Com o processo de democratiza-
o poltica dos regimes da Europa de leste, o nmero
de adeses aumentou entre 1990 e 1996. A Polnia
aderiu em 1991, a Bulgria em 1992, a Eslovquia,
os Pases Blticos, a Repblica Checa e a Romnia
em 1993 e a Rssia em 1996. Contudo, de Abril de
2000 a Janeiro de 2001, a Rssia ficou privada de
direito de voto por no respeitar os direitos do
homem na Tchetchnia.
Hoje, o Conselho da Europa conta com 40 mem-
bros, sendo a mais abrangente das organizaes euro-
peias.
A estrutura do Conselho da Europa assenta em trs
rgos: o comit dos ministros (rgo intergover-
namental representativo dos Estados-membros); a
assembleia consultiva (rgos consultivo e de opi-
nio, desprovido de poderes normativos ou de fisca-
lizao poltica); e o secretariado (aparelho admi-
nistrativo que assiste aos rgos principais).
Desde incio que se verificou um profundo dese-
quilbrio entre os objectivos amplos e politicamente
ambiciosos e a natureza dos rgos e os seus res-
pectivos poderes, definidos em funo do princpio
da intangibilidade da soberania dos Estados. Os meios
de aco do Conselho so limitados e no pem em
causa a soberania dos Estados.
O Conselho da Europa foi ultrapassado pela din-
mica da integrao europeia, que determinou a
criao da CECA, em 1951 e da CEE e da CEEA,
em 1957. No entanto, consolidou a sua importn-
cia no campo da aproximao dos direitos nacio-
nais, pela celebrao de mltiplas convenes e
da defesa dos Direitos do Homem. Tem sede em
Estrasburgo.
CONJUNTURA POLTICA 49
CONJUNTURA POLTICA
O termo pretende caracterizar a situao poltica
num dado momento da vida nacional ou interna-
cional. Reflecte factos que ocorreram ou esto a ocor-
rer e que, depois de analisados e devidamente enqua-
drados, contribuem para um melhor esclarecimento
e compreenso por parte dos analistas e da prpria
opinio pblica.
A anlise da conjuntura poltica faz hoje parte das
agendas dos governos, dos partidos, das organizaes
polticas internacionais e das prprias empresas.
Compreender a conjuntura poltica considerado
fundamental para a definio de estratgias e para a
prossecuo de qualquer tipo de objectivos.
CONSELHO DE COOPERAO
DO GOLFO
Gulf Cooperation Council (GCC)
Foi criado em 25 de Maio de 1981 pela Carta de Abou-
-Dhabi. Tem como Estados-membros: a Arbia
Saudita, Bahrein, Emirados rabes Unidos, Koweit,
Om, Qatar.
No texto do acordo fixaram-se como objectivos:
uma maior coordenao, integrao e unidade entre
os Estados-membros; o reforo de todos os aspectos
da cooperao entre os habitantes da regio; a apro-
ximao das legislaes nos domnios da economia,
finanas, comrcio, fronteiras, transportes, educao,
cultura, sade, assuntos sociais, comunicao e infor-
mao e o encorajamento da cooperao cientfica
e tcnica. Tem sede em Riade (Arbia Saudita).
CONSELHO DOS ESTADOS DO
MAR BLTICO (CEMB)
Council of the Baltic Sea States (CBSS)
Criado em 1992 pela Alemanha e Dinamarca, rea-
grupa pases prximos do Bltico, situados a leste e
a ocidente da Europa. Visa coordenar uma coopera-
o regional de incio econmica e, no futuro, poltica.
So Estados-membros: Alemanha, Dinamarca,
Estnia, Finlndia, Islndia, Letnia, Noruega,
Polnia, Rssia, Sucia e ainda a Comisso Europeia.
Tem sede em Estocolmo.
CONSELHO DA EUROPA
European Council
Foi criado em 5 de Maio de 1949 pelo Tratado de
Londres.
Tem por objectivo realizar uma unio mais
estreita entre os seus membros, a fim de salvaguar-
dar e de promover os ideais e os princpios que so
o seu patrimnio comum e de favorecer o seu pro-
gresso econmico e social.
Os Estados europeus ocidentais entenderam assim
reafirmar a sua vinculao aos princpios tradicio-
nais da democracia liberal: a liberdade individual, a
Conselho no haviam obtido a unanimidade exigida
pelos tratados ou por fora da invocao do com-
promisso do Luxemburgo. Os chefes dos executivos
dispem para o efeito no s de um poder negocial
muito superior, dada a sua qualidade de lderes pol-
ticos, como podem ainda, se necessrio, efectuar
negociaes globais no mbito dos dossiers blo-
queados, ou seja, podem trocar cedncias em deter-
minados assuntos contra vantagem noutros, j que
a discusso se faz sem as limitaes tcnicas do Con-
selho.
Por outro lado, o Conselho Europeu pretende con-
ferir uma liderana efectiva ao processo de constru-
o europeia, necessitado de impulsos que garan-
tissem o seu desenvolvimento cabal e a capacidade
de responder aos desafios externos que se iam colo-
cando Europa. Este rgo vai assumir-se, assim,
como o local onde so decididos os novos passos a
dar na construo europeia bem como onde so deba-
tidas questes que, por no estarem previstas nos tra-
tados, no podiam e no deviam em rigor, ser
objecto de discusso (e, principalmente, de deciso)
no mbito do Conselho.
A estas funes gerais acresce a vantagem de uma
aproximao e conhecimento pessoal dos chefes dos
executivos o que permite a criao de uma maior
confiana, entendimento e previsibilidade mtuos,
criando assim condies de convergncia crescente.
A presena do presidente da Comisso assistido
tambm ele por um vice-presidente garantia que
o carcter e a sensibilidade comunitrios no se per-
dessem, apesar da natureza eminentemente inter-
governamental do rgo.
A importncia deste rgo tornar-se-ia por isso
crescente na dinmica comunitria, sendo o seu
funcionamento objecto de progressiva regulao (em
especial na Declarao de Londres de 1977 e na
Declarao Solene de Estugarda de 1983). Com o Acto
nico Europeu, o Conselho Europeu seria finalmente
acolhido nos tratados, alargando-se ainda mais a sua
importncia com o Tratado de Maastricht.
Em termos finais, os chefes de Estado e de governo
dos quinze, limitam-se a subscrever os comunicados
finais das reunies, que constituem as grandes linhas
de orientao dos assuntos comunitrios. Muito
embora possam agir no quadro institucional assu-
mindo-se como Conselho da Unio Europeia
nunca o fazem, preferindo que, quando se mostre
necessria a adopo de qualquer acto, este seja subs-
crito pelos ministros dos negcios estrangeiros, com
a data da reunio, se a urgncia o justificar.
As reunies (duas por ano, no mnimo) so mode-
radas pelo chefe do governo do Estado-membro que
exerce a presidncia que, em princpio, recebe os seus
parceiros. Subsiste uma prtica que procura manter
a informalidade e a franqueza como garantia de resul-
tados, o que explica por exemplo a inexistncia de
actas e a limitao do staff de cada participante. As
reunies duram normalmente dois dias.
Apesar de se tratar de um rgo cuja estrutura e
funcionamento se vem desenvolvendo ao sabor da
prtica, o Conselho Europeu tem j um lugar cen-
tral em todo o processo de construo europeia.
CONSELHO EUROPEU 50
CONSELHO EUROPEU
O Conselho Europeu tem a sua origem nas reunies
peridicas que os chefes dos executivos comunit-
rios (designados chefes de Estado e de governo dos
Estados-membros, designao essa imprpria, j que
apenas um chefe de Estado assiste a estas reunies,
o francs, dado o carcter presidencialista do sis-
tema). Estas reunies eram designadas por sommets
(termo que chegou a figurar em manuais portugue-
ses) ou cimeiras, tendo a primeira delas ocorrido em
Paris, em 1957, em vsperas da concluso da negoci-
ao dos tratados de Roma que instituram a CEE e
a CEEA. Em 1961, realizaram-se mais duas cimei-
ras a primeira em Paris, em Fevereiro, e a segunda
em Bona, durante o ms de Julho. Ambas foram ini-
ciativa do General De Gaulle e tinham em vista dis-
cutir a questo da Cooperao Poltica Europeia (a
qual deveria complementar os mecanismos de inte-
grao que comeavam a dar os seus primeiros pas-
sos), consubstanciando ainda uma vontade clara de
fazer intervir no quadro comunitrio os chefes dos
executivos, os quais no tinham assento nas insti-
tuies comunitrias. A iniciativa francesa no teve
seguimento imediato na altura, mostrando-se impos-
svel conciliar as diferentes vises sobre o problema
que opunham no essencial os franceses aos restantes
parceiros. S acontecer nova cimeira em 1967 em
Roma, para comemorar os dez anos dos tratados a
assinados, altura em que a comunidade vivia um
momento de relativa paralisia, aps a crise da cadeira
vazia e o consequente compromisso do Luxemburgo.
Nessa altura, pairava ainda no ar, o incmodo resultante
de um outro facto que marcou a histria da Europa:
o segundo veto francs candidatura britnica.
Estas primeiras cimeiras normalmente referidas
como as cimeiras de iniciativa gaullista tiveram
portanto um carcter marcadamente extraordinrio.
S a partir da cimeira de Haia, de 1 e 2 de Dezem-
bro de 1969, os encontros dos chefes de Estado e de
governo vo assumir um papel permanente na cons-
truo europeia. Esta cimeira marca o afastamento
do general De Gaulle e a sua substituio por Geor-
ges Pompidou. Nela, o novo presidente francs, reco-
nhecendo a necessidade de ultrapassar o marasmo
decorrente da crise da cadeira vazia, vai tentar relan-
ar a construo europeia atravs destes encontros.
assim que cimeira de Haia vai suceder a de Paris
de 1972, a de Copenhaga em 1973 e uma outra em
Paris, em 1974. Nesta ltima que vai juntar uma
nova gerao de lderes europeus, uma vez que, por
coincidncia, na Frana, Alemanha e Reino Unido,
so substitudos durante o ano de 1974 todos os che-
fes do executivo o entendimento entre Giscard
d'Estaing e Helmut Schmidt conduziu consagrao
das cimeiras. Os chefes de Estado e de governo euro-
peus decidem ento encontrar-se, acompanhados
pelos respectivos ministros de negcios estrangeiros,
trs vezes por ano ou tantas vezes quantas as necess-
rias, no Conselho das Comunidades ou no contexto
da Cooperao Poltica Europeia.
Nasceu assim o Conselho Europeu. Este vai ser-
vir desde logo para desbloquear as decises que no
CONTEXTO
O contexto de um comportamento ou de um acon-
tecimento formado por um conjunto de elemen-
tos do meio institucional e etnogrfico, tais como ins-
tituies, normas sociais, convenes, usos e cos-
tumes, circunstncias e relaes exteriores ao com-
portamento ou ao acontecimento, mas das quais ele
depende em parte. Ao mesmo tempo, as normas, as
regras e as convenes sociais utilizadas pelas acti-
vidades humanas determinam o contexto e fornecem
os recursos para o identificar.
Neste sentido, no existe um contexto em si, pr-
vio a uma aco ou acontecimento. O contexto pro-
duzido e o resultado de um conjunto de aspectos
que fazem sentido: as instituies, as normas, as con-
venes, os usos e costumes mobilizados; elemen-
tos do meio ambiente que participam na inteligibi-
lidade daquilo que acontece; incluindo a sequencia-
lidade das trocas interpessoais, as expectativas que
regulam as actividades, os procedimentos utilizados,
as relaes estatutrias implcitas, etc.
Existe, com efeito, uma elaborao mtua entre a
aco e o contexto, determinando-se reciprocamente.
Acontece, por isso, que tanto so aces estandar-
dizadas ou ritualizadas, e fortemente orientadas, nor-
mativa e institucionalmente, que instituem os res-
pectivos contextos, como tambm existem contex-
tos estruturados convencionalmente, que orientam
a organizao social das aces (sesses do parla-
mento, paradas militares, missas, audincias nos tri-
bunais, aulas, etc.).
CONTRAMEDIDAS
Reaco de um Estado que prejudicado por um
comportamento ilcito de outro Estado, a qual con-
siste na suspenso do cumprimento de uma ou mais
obrigaes que so devidas a este Estado, com o
objectivo de o induzir ao cumprimento das suas obri-
gaes (nomeadamente a cessao da prtica ilcita,
a reparao dos danos e a prestao de garantias de
no repetio). Essa suspenso deve subsistir apenas
enquanto o Estado (que adoptou o comportamento
internacionalmente ilcito) no cumprir as suas obri-
gaes (pelo que deve assumir uma forma tal que per-
mita a imediata cessao da suspenso logo que este
cumpra as suas obrigaes), devendo ainda ser pro-
porcional ao dano causado.
As contra-medidas constituem uma prtica inter-
nacional corrente (com foros consuetudinrios), que
foi objecto de importantes debates no mbito do
esforo de codificao do regime da responsabilidade
internacional, que decorreu no seio da Comisso de
Direito Internacional entre 1949 e 2002.
O seu regime traduz um equilbrio difcil entre a
necessidade de admitir (na falta de dispositivos
internacionais que garantam o cumprimento da lega-
lidade) a possibilidade de os Estados adoptarem
unilateralmente medidas de reaco contra actos il-
citos levados a cabo por outros Estados e, por outro
lado, o risco de generalizao das reaces unilate-
CONSELHO DE MINISTROS 51
CONSELHO DE MINISTROS
, no dizer de Gomes Canotilho, um dos trs rgos
necessrios do governo, a par do Primeiro-Ministro
e dos ministros individualmente considerados.
O artigo 184. da Constituio portuguesa define
a sua composio, enquanto o artigo 200. lhe esti-
pula a competncia.
CONSELHO NRDICO
Nordic Council
Fundado em 1952 pelos quatro pases nrdicos, o
Conselho Nrdico um frum de cooperao gover-
namental e parlamentar, sobretudo para as questes
sociais e culturais (ambiente, droga e diversidade cul-
tural). So Estados-membros: Dinamarca, Finlndia,
Islndia, Noruega, Sucia, e trs territrios: Grone-
lndia (Dinamarca), Ilhas Aland (Finlndia) e Ilhas
Faro (Dinamarca). Tem sede em Copenhaga.
CONSERVADORISMO
Ideia poltica alicerada no realismo, na defesa de
valores sociais e culturais considerados duradouros
numa dada sociedade e na recusa de modelos uni-
versalistas e utpicos. Para os conservadores, as
mudanas traduzem o resultado das relaes indi-
viduais, manifestadas de forma livre, em que a evo-
luo respeita a tradio. Daqui decorre a ideia,
segundo a qual, o poder poltico se deve abster de
impor cortes radicais e absolutos na ordem social,
salvo se para defender a vida e a dignidade humanas.
Os conservadores no acreditam no predomnio do
poltico face ao individual e ao social, razo que os
leva a contrariar as teses da sociedade ideal em nome
do equilbrio constante, que crem essencial pre-
servao da ordem e do desenvolvimento.
CONSTITUIO
a trave mestra do ordenamento jurdico de uma
comunidade politicamente organizada, aquilo a que
muitos chamam a lei das leis, a norma das normas.
Rogrio Soares define-a como a ordenao jurdica
fundamental de uma comunidade poltica, que deli-
mita essa comunidade, lhe fixa o sentido essencial,
decide sobre a posio dos scios, regula o processo
de instituio e funcionamento dos aparelhos de uni-
ficao poltica e procura encontrar meios de solu-
o dos conflitos internos do ser colectivo, e Gomes
Canotilho entende-a como a ordenao sistemtica
e racional da comunidade poltica atravs de um
documento escrito no qual se declaram as liberda-
des e os direitos e se fixam os limites do poder pol-
tico.
Documento escrito, longo e programtico nuns
casos, curto e no ideolgico noutros, a Constituio
ainda em certas circunstncias motivo de conflito
poltico entre partidos concorrentes, como o demons-
tra o exemplo portugus.
rer, na sequncia da elaborao de um relatrio por
parte da Comisso (em caso de deciso judicial); um
Comit dos Ministros do Conselho da Europa, que
desempenha o papel de guardio da CEDH, ao qual
se pode recorrer sempre que uma questo no tenha
sido remetida para o Tribunal, a fim de obter uma
resoluo poltica do diferendo.
O crescente nmero de processos a tramitar imps
uma reforma do mecanismo de controlo institudo
pela Conveno (aditamento ao Protocolo n. 11),
levando a que estes rgos tenham sido substitudos,
em 1 de Novembro de 1998, por um nico Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem. A simplificao das
estruturas permitiu reduzir a durao dos procedi-
mentos e reforar o carcter judicial do sistema. A
ideia da adeso da Unio Europeia CEDH tem sido
frequentemente evocada, mas, num parecer de 28 de
Maro de 1996, o Tribunal de Justia das Comuni-
dades Europeias especificou que a Comunidade no
podia aderir Conveno, dado que o Tratado CE no
lhe atribua qualquer competncia para promulgar
regras ou celebrar acordos internacionais em mat-
ria de Direitos do Homem. Consequentemente, a ade-
so est actualmente sujeita a uma alterao do
Tratado.
Esta situao no impediu o Tratado de Amesterdo
de insistir na observncia dos direitos fundamentais
garantidos pela Conveno, formalizando simulta-
neamente a jurisprudncia do Tribunal de Justia das
Comunidades Europeias na matria.
CONVENO INTERNACIONAL
Fonte transmissora de Direito Internacional que
consiste num acordo de vontades, entre sujeitos
de Direito Internacional, que agindo nessa quali-
dade, visam a produo de efeitos jurdicos vincula-
tivos.
A utilizao do termo no totalmente conver-
gente. Assim, mesmo que analisando apenas a pr-
tica das Naes Unidas, pode verificar-se que
enquanto o Estatuto do Tribunal Internacional de
Justia utiliza o termo conveno, as convenes que
codificam o regime aplicvel, referem-se ao direito
dos tratados (Convenes de Viena de 1969 e 1986).
No mesmo sentido, a base de dados da ONU onde so
referenciadas todas as convenes internacionais, de-
signa-se United Nations Treaty Collection/Collection
des Traits des Nations Unies.
Em geral, pode assim distinguir-se o sentido
genrico do termo (que engloba tratados solenes
e acordos em forma simplificada) e um sentido
especfico, quando a designao usada para identi-
ficar um tipo especfico convencional, nomea-
damente aqueles que so celebrados sob a gide de
uma organizao internacional (por exemplo as
Convenes de Viena sob a gide das Naes Unidas,
ou a Conveno Europeia de Salvaguarda dos
Direitos do Homem sob a gide do Conselho da
Europa, a Conveno de 1992 sobre a Diversidade
Biolgica, a Conveno das Naes Unidas de 1982
sobre o Direito do Mar, etc.).
CONTROLO DE ARMAMENTO 52
rais que ao (quase) consagrar a autotutela estaria
necessariamente a implicar uma regresso na juri-
dicizao da prtica internacional.
CONTROLO DE ARMAMENTO
Termo que comeou a ser usado na dcada de 1960
para descrever a poltica e processos de controlo na
aquisio, desenvolvimento, armazenamento, ins-
talao e uso de meios militares, de modo a regular
o nvel de armamentos. Diferentemente do desar-
mamento, o controlo de armamento no pretende
alcanar um mundo sem armas, presumindo que as
armas so um elemento permanente das Relaes
Internacionais. Os negociadores nesta rea defendem
que o controlo de armamento uma forma mais rea-
lista para se alcanar segurana. Pode incluir a limi-
tao ou reduo da capacidade militar de um Estado
(nmero de tropas e armas em geral), como por
exemplo os Acordos SALT de 1972; banir ou limitar
categorias completas de armas, no estabelecendo
limites relativamente s outras formas a que os
Estados podero recorrer para se defender, como foi
o caso do Tratado sobre Foras Nucleares Intermdias;
e procurar reduzir a possibilidade de ocorrncia de
uma guerra por acidente, quando as actividades beli-
gerantes de um Estado parecem constituir ameaa a
outro, nomeadamente atravs da informao anteci-
pada sobre quaisquer movimentaes militares e outras
medidas do gnero, sendo este tipo de limitaes geral-
mente designado por medidas de consolidao de con-
fiana, exemplificadas pela Declarao de Estocolmo
de 1986. O maior problema associado ao controlo de
armamento tem sido a questo da verificao.
Os acordos de controlo de armamento mais
importantes do ps-guerra foram os SALT em 1972
e 1979; o Tratado ABM de 1972; o Tratado sobre
Foras Nucleares Intermdias de 1987; o Tratado
sobre Foras Convencionais na Europa assinado em
1990 e o Tratado START de 1991.
CONVENO EUROPEIA
DE PROTECO DOS DIREITOS
DO HOMEM (CEDH)
European Convention on Human Rights (ECHR)
A Conveno Europeia de Proteco dos Direitos do
Homem, assinada em Roma a 4 de Novembro de
1950, sob a gide do Conselho da Europa, instituiu
um sistema original de proteco internacional dos
Direitos do Homem, proporcionando aos particula-
res o benefcio de um controlo judicial do respeito
dos seus direitos. A Conveno, ratificada por todos
os Estados-membros da Unio, instituiu diversos
rgos de controlo sediados em Estrasburgo: uma
Comisso Europeia dos Direitos do Homem encar-
regada de examinar previamente os pedidos apre-
sentados por um Estado ou, eventualmente, um par-
ticular; um Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem, ao qual a Comisso Europeia dos Direitos
do Homem ou um Estado Contratante podem recor-
CONVENES FECHADAS
Aquelas que no contm clusulas que autorizam que
outras partes se possam submeter ao regime. Nestas
convenes cabe portanto s partes, discricionria e
consensualmente determinarem as condies de ade-
so (ou outra forma de vinculao diferida, como seja
a assinatura diferida).
CONVENES SEMIABERTAS
Aquelas que muito embora prevejam a possibilidade
de outras partes se submeterem ao seu regime,
fazem depender esse alargamento de um convite ou
da celebrao de uma conveno de adeso.
CONVENES SUCESSIVAS
Conflitos entre normas internacionais.
COOPERAO
Cooperar agir conjuntamente com o outro, ou inter-
agir em vista realizao de um fim comum. O
sucesso na obteno deste objectivo comum depende
de determinadas condies que a cooperao implica,
tais como um consenso em relao aos fins a atin-
gir, a existncia de interesses comuns, a confiana
recproca dos actores, a elaborao em comum de um
conjunto de regras, um acordo sobre o modo de coor-
denao das aces, a participao activa de todos os
elementos, etc.
Durkheim entendia a cooperao como funda-
mento do elo social. Nas sociedades arcaicas, a soli-
dariedade mecnica associava os indivduos com
competncias e crenas semelhantes, enquanto nas
sociedades modernas, com a diviso social do tra-
balho, a solidariedade orgnica faz com que cada indi-
vduo dependa do trabalho de outrem, encontrando-
-se organicamente ligado ao todo social. por isso
que a diviso social do trabalho supe a comple-
mentaridade e a cooperao dos actores, das insti-
tuies e das organizaes, contribuindo tambm,
segundo Durkheim, para o aumento do individua-
lismo. Ora, podemos considerar que numa sociedade
marcada pelo individualismo, a exigncia de coope-
rao faz-se sentir com maior premncia, sendo um
dos mecanismos sociais fundamentais para garantir
o elo social, as aces concertadas e a actividade con-
junta.
Para os interaccionistas, como Mead, a actividade
cooperativa e a partilha de um mesmo universo sim-
blico que esto na base da constituio da sociedade.
A interaco social um processo comunicativo que
supe a partilha de significaes comuns, decorrendo
de uma actividade cooperativa.
A cooperao exerce-se nas diversas actividades
humanas, desde a vida familiar esfera do trabalho
social, actividade poltica, defesa dos grupos e das
comunidades. A cooperao estrutura as relaes
sociais na famlia, exercendo-se tambm muito espe-
CONVENES ABERTAS 53
As convenes internacionais so acordos de von-
tades, o que implica decorrerem da teoria geral do
negcio jurdico, pelo que, apesar das especificidades
que apresentam, so subsidirias desse regime (que
exige uma expresso de vontade livre de cada uma
das partes).
So acordos estabelecidos entre sujeitos de Direito
Internacional, o mesmo dizer que s os sujeitos
de Direito Internacional tm capacidade para cele-
brar convenes. A falta de capacidade de uma das
partes numa conveno no conduz necessariamente
sua invalidade, podendo o acordo permanecer
vlido a ttulo de contrato (perdendo, no entanto, a
qualidade convencional). Nesse plano, so particular-
mente relevantes os quase-tratados (que tm fun-
damentalmente a ver com investimentos internacio-
nais), bem como os acordos celebrados com organi-
zaes no governamentais, aplicando-se-lhes, a
maior parte das vezes, um regime internacional, que
no entanto no entendido como suficiente para
enformar verdadeiras convenes.
Os sujeitos, ao estabelecerem tais acordos, tm de
agir na qualidade de sujeitos. Isto porque estes podem
estabelecer entre si acordos na qualidade de parti-
culares, por exemplo, quando submetem tais acor-
dos ao direito interno de um Estado (como ocorrer
num contrato de compra e venda com natureza
comercial). Ora tais acordos devem entender-se como
contratos e no como convenes internacionais.
Exige-se finalmente que esses acordos de vonta-
des entre sujeitos visem a produo de efeitos jur-
dicos vinculativos ou obrigatrios. A referncia vem
a propsito do facto de os sujeitos de Direito Inter-
nacional estabelecerem entre si, por vezes, acordos
que muito embora pretendam regular as suas rela-
es, no tm carcter juridicamente vinculativo.
o caso genrico dos actos concertados no conven-
cionais que, como a prpria designao indica,
exorbitam do regime convencional.
As diversas definies que podem encontrar-se na
doutrina ou mesmo em convenes, fazem frequen-
temente referncia a outros elementos, de entre os
quais avulta a forma escrita. Todavia, conforme pode
verificar-se, essa referncia tem normalmente um
carcter pedaggico (por forma a salientar a impor-
tncia da forma escrita, de cuja falta no decorre
todavia a invalidade).
CONVENES ABERTAS
Aquelas que contm clusulas que autorizam que
outras partes se possam submeter ao regime (segundo
procedimentos cuja complexidade pode variar, desde
o acto unilateral ao tratado de adeso).
A abertura das convenes pode ser sujeita a deter-
minados requisitos (geogrficos, polticos, etc.) ou
total (se no impe qualquer condio vinculao
de terceiros Estados, como acontece por exemplo
com as convenes de codificao, vulgo de Viena).
Segundo a jurisprudncia do Tribunal Internacio-
nal, a abertura das convenes internacionais no se
presume.
ses econmicos; na falta de homogeneidade poltica
e ideolgica (a questo dos direitos humanos e outras
acabam por dificultar a cooperao econmica e a
ajuda ao desenvolvimento); nas hesitaes dos pa-
ses asiticos face s iniciativas dos EUA, acreditando
que a APEC serve essencialmente para revitalizar a
economia americana, facilitando-lhe o acesso aos
mercados desta regio.
A APEC continua a ser um quadro informal de
reencontro e de discusso. Trata-se de um espao eco-
nmico que no tem subjacente um tratado. um
arranjo para uma integrao econmica no insti-
tucional, estando ainda longe de se tornar uma zona
de comrcio livre. Um maior compromisso para o
reforo da APEC exige que os problemas comuns de
natureza poltica, social ou os relativos proteco
do ambiente (no s econmicos) sejam identifica-
dos e que sejam propostas solues.
A APEC instaurou um secretariado permanente em
1993, com sede em Singapura.
COOPERAO POLTICA EUROPEIA
(CPE)
European Political Cooperation (EPC)
A Cooperao Poltica Europeia surgiu no incio dos
anos 1970 a partir do Relatrio Davignon, e consis-
tia num primeiro esforo de convergncia dos
Estados-membros da Comunidade Europeia em mat-
ria de poltica externa. O Acto nico Europeu veio
a consagrar formalmemente a Cooperao Poltica
Europeia, em 1987, prevendo a consulta entre os
Estados-membros nos domnios abrangidos pela pol-
tica externa e a progressiva adopo de posies
comuns. Consagrava tambm mecanismos perma-
nentes de troca de informaes. Com o Tratado de
Maastricht, a Cooperao Poltica Europeia foi subs-
tituda pela Poltica Externa e de Segurana
Comum (PESC) que, assentando na experincia e
enquadramento anterior, desenvolveu os seus pr-
prios mecanismos (nomeadamente introduzindo a
aco comum).
CORREIO ELECTRNICO
E-mail
Sistema de troca de mensagens entre utilizadores de
redes de computadores, nomeadamente a Internet.
Cada utilizador possui um endereo de e-mail que
usado para o envio e recepo de mensagens. Jun-
tamente com as mensagens podem tambm ser
enviados, em anexo (attach), qualquer tipo de docu-
mentos.
CORREIO DIPLOMTICO
Funcionrio ou agente diplomtico que acompanha
a mala diplomtica garantindo a sua inviolabili-
dade e beneficiando assim ele prprio de inviolabi-
lidade.
COOPERAO ECONMICA SIA-PACFICO 54
cialmente em domnios como o da produo de bens
e de servios. No domnio da produo, a diviso
social do trabalho entre as profisses e entre as acti-
vidades econmicas acarreta relaes de cooperao.
No campo econmico, por exemplo, a organizao
de relaes de cooperao em vista realizao de
interesses e obteno de vantagens comuns, ori-
ginou a criao de associaes cooperativas (coope-
rativas de produo, de construo, de crdito, de
consumo, de habitao, de ensino, cooperativas agr-
colas, etc.).
A cooperao econmica diz respeito a um con-
junto de aces destinadas a promover o crescimento
dos pases envolvidos. Esta distingue-se de integra-
o econmica que implica um processo que conduz
supresso de barreiras comerciais com o objectivo
de criar um mercado alargado e nico. Da que,
enquanto a cooperao pode incluir acordos desti-
nados a reduzir as barreiras comerciais, dando s
transaces uma maior flexibilidade, a integrao
procura a supresso e a harmonizao, normalmente
pela via institucional.
COOPERAO ECONMICA
SIA-PACFICO
Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
Este bloco de cooperao surgiu em 1989, com o
intuito de dar resposta ao aumento da interde-
pendncia existente entre as economias da regio,
promover uma cooperao regional aberta, respei-
tando as regras multilaterais, permitindo a realiza-
o de complementaridades econmicas que esti-
mulam as trocas e os investimentos no sector pri-
vado.
Actualmente, abrange um conjunto de pases que
representa 55% do produto bruto mundial e 46% do
comrcio internacional. So Estados-membros a
Austrlia, Brunei, Canad, Chile, China, Coreia do
Sul, EUA, Filipinas, Hong-Kong, Indonsia, Japo,
Malsia, Mxico, Nova Zelndia, Papusia-Nova Guin,
Singapura, Tailndia e Taiwan. Tem os seguintes
objectivos: manter o processo de crescimento e
desenvolvimento na regio e contribuir para o cres-
cimento a nvel mundial; favorecer o processo de
interdependncia econmica, cujos ganhos para a
regio so evidentes, encorajando os fluxos de mer-
cadorias, servios, capital e tecnologia; desenvolver
e manter a abertura do sistema comercial multila-
teral; reduzir as barreiras ao comrcio de mercado-
rias e servios entre os participantes, em conformi-
dade com os princpios do GATT; realar o papel do
sector privado, face ao seu contributo dinamizador
dentro das economias dos pases participantes.
Um acordo de 1995 prev a liberalizao do comr-
cio na zona at 2010 para os pases industrializados,
e 2020 para os outros pases.
Os seus principais problemas consistem, entre
outros aspectos, na grande diversidade de estdios
de desenvolvimento, de espao geogrfico e perfil das
economias; no forte sentido de oposio de interes-
CORTINA DE FERRO
Termo que designa uma barreira s comunicaes e
deslocaes, baseada no secretismo e em dificulda-
des de aceder a informaes fidedignas, erigida pelo
bloco comunista aps a Segunda Guerra Mundial e
que se estendeu at ao colapso da hegemonia sovi-
tica na Europa de leste, em finais dos anos 1980. O
seu elemento mais visvel foi a construo do Muro
de Berlim em 1961. Alm de delimitar as fronteiras
do domnio sovitico na Europa, o termo era tam-
bm aplicado a outros Estados fora destes limites geo-
grficos, mas fazendo parte integrante da esfera de
influncia da Unio Sovitica, como por exemplo
Cuba ou a Coreia do Norte. A expresso Cortina de
Ferro foi popularizada por Winston Churchill no
famoso discurso no Missouri, em Maro de 1946,
onde afirmou: De Stettin no Bltico a Trieste no
Adritico, uma cortina de ferro desceu sobre o con-
tinente. Contudo, havia j sido anteriormente
usada pelo nazi Goebbels para descrever o domnio
sovitico sobre a Europa Oriental, que supostamente
se renderia Alemanha.
COSTUME INTERNACIONAL
Fonte transmissora de Direito Internacional de
grande importncia. Na redaco do artigo 38. do
Estatuto do Tribunal Internacional de Justia, trata-
-se da prova de uma prtica geralmente aceite como
sendo de Direito, noo actualmente corrigida em
termos de ser entendido como verdadeiro modo de
formao de regras internacionais.
corrente analisar-se o costume como assentando
em dois elementos formativos: o uso ou prtica e a
convico da obrigatoriedade.
O uso ou prtica, ou elemento material (ou con-
suetudo), consiste na repetio de uma conduta posi-
tiva (aco) ou negativa (omisso) evidenciada pela
actividade dos rgos estaduais (ou das organizaes
internacionais ou de outros sujeitos de Direito
Internacional).
A convico da obrigatoriedade, ou elemento psi-
colgico (tambm designado por opinio iuris vel
necessitatis), refere-se ao animus jurdico que tem de
animar essas condutas. As dificuldades da prova deste
elemento tero levado alguma doutrina a dispens-
-la, mas a verdade que essa dispensa equivaleria a
elevar categoria consuetudinria todas as prticas.
Da que, mais recentemente, alguma doutrina parea
tender para considerar a aceitao de princpio de
uma presuno probatria em favor deste elemento
psicolgico (Gonalves Pereira). Isso conduziria a que
para a invocao de um costume bastasse a demons-
trao da prtica, presumindo-se a existncia da con-
vico da obrigatoriedade. Essa presuno seria no
entanto ilidvel (iuris tantum) podendo, quem tiver
directo interesse nisso, demonstrar a inexistncia
dessa convico. A jurisprudncia em acrdos
importantes no tem no entanto deixado de exigir
indcios dessa convico (no sentido de que, no
podendo deduzir-se objectivamente, ela deve decor-
rer da natureza e da forma como a prtica levada
CORRELAO 55
CORRELAO
Relao entre duas realidades ou variveis, expressa
muitas vezes em termos estatsticos. As correlaes
podem ser negativas ou positivas. Uma correlao
positiva est associada a comportamentos no mesmo
sentido das variveis, enquanto a correlao nega-
tiva ocorre quando a subida de uma varivel est asso-
ciada descida de outra.
CORRIDA AO ARMAMENTO
Conceito usado para descrever a competio entre
Estados ou blocos pela modernizao de armas e
reforo do seu nmero e poder de destruio, com
vista a aumentar a sua segurana e alcanar um nvel
especfico de vantagem comparativa em termos de
fora militar. Precedendo, algumas vezes, guerras e
exploses de violncia, nem sempre, contudo, a
modernizao de foras condio necessria e sufi-
ciente para despoletar uma guerra. O conceito no
deve ser restringido procura de uma maior fora
em termos de armamento, devendo incluir aspectos
relacionados com o desenvolvimento tecnolgico e
o entendimento de que um oramento elevado e pes-
quisa avanada so vantajosos, estando deste modo
dependente de recursos econmicos. Podemos ligar
a corrida ao armamento teoria da balana de poder,
que defende que qualquer avano tecnolgico de uma
das partes constitui ameaa a outra, que por sua vez
tenta desenvolver melhores armas, forando o pri-
meiro a mais investimentos para melhorar o seu
armamento e assim sucessivamente. Desta forma, um
desequilbrio nesta matria ser o factor mais pro-
vvel de um conflito armado.
CORRUPO
Causa de nulidade relativa das convenes que cor-
responde a uma subespcie de uma outra causa
tipificada: o dolo (j que, para todos os efeitos, se
trata de uma conduta fraudulenta que conduz
vinculao). A nica referncia especial que o
regime merece a relativa distino entre cor-
rupo e meras cortesias ou favores mnimos. que,
sendo estes correntes na prtica internacional, no
devero considerar-se como formas de corrupo. A
distino apesar de tudo, pode mostrar-se difcil,
sendo todavia certo que a corrupo pressupe uma
afectao grave/importante da vontade do represen-
tante. No deve portanto assumir-se que toda a con-
duta do representante que possa ser considerada eti-
camente (ou at legalmente) reprovvel, conduz
obrigatoriamente nulidade; esta apenas surge em
situaes de afectao grave (sem prejuzo da even-
tual relevncia jurdica do comportamento a outro
ttulo que no j para efeitos de invalidade da con-
veno). Deve ter-se tambm aqui presente que s
releva a corrupo levada a cabo directa ou indirec-
tamente por um Estado que tenha participado na
negociao.
desde logo porque essa escolha necessariamente
espontnea (no decorrendo de opes voluntrias),
e ainda porque a ausncia de acordo torna particu-
larmente difcil a determinao dos contedos (mais
ou menos precisos) das regras, o que exige perodos
de sedimentao que permitam a revelao progres-
siva desses mesmos contedos.
Acontece que, na actualidade, o funcionamento das
organizaes internacionais (maxime das Naes
Unidas) veio diminuir consideravelmente tais con-
tingncias. Ao instituir um frum de debate perma-
nente de representantes dos Estados, com compe-
tncia para expressar posies finais, tornou-se pos-
svel acelerar enormemente o processo de determi-
nao de regras de comportamento. E, assim, no
apenas foi possvel que determinados comportamen-
tos se generalizassem e acolhessem rapidamente o
assentimento global em volta da sua juridicidade
(como foi, por exemplo, o caso da Zona Econmica
Exclusiva), como ainda se tornou possvel aos Esta-
dos reunidos nessas instncias pretenderem confe-
rir a determinadas posies, mais ou menos gerais,
um carcter obrigatrio (por via consuetudinria, j
que formalmente isso lhes era negado), imediata-
mente com a sua adopo ou logo de seguida, antes
mesmo de essas posies serem acolhidas pela pr-
tica estadual.
CRESCIMENTO ECONMICO
Processo de aumento objectivo de bens e servios de
uma economia num determinado perodo, contri-
buindo, assim, para o aumento de fluxo de rendimento
nacional.
Aumento sustentado, durante um ou mais longos
perodos (cada um destes perodos compreende vrios
ciclos quase decenais), de um indicador de dimenso:
para uma nao, o produto lquido em termos reais.
O crescimento implica modificaes das estruturas
econmicas. Embora no seja, por si s, sinnimo
de desenvolvimento, no fcil haver desenvolvi-
mento econmico sem crescimento econmico. A
anlise do crescimento econmico , regra geral,
referida no crescimento real do Produto Interno
Bruto (PIB).
CRISE
Uma crise um ponto de viragem decisivo entre acto-
res ou entre actores e o seu meio. Descreve uma
situao grave de ameaa a objectivos prioritrios,
que, embora no envolvendo conflito armado, exige
uma resposta rpida e adequada dos centros de deci-
so polticos, dada a elevada probabilidade de esca-
lada para a guerra.
CRISE ECONMICA
Recesso econmica muito pronunciada (isto , com
forte queda do Produto Interno Bruto) e prolongada
no tempo.
COSTUME INTERNACIONAL GERAL 56
a cabo, embora por vezes parecendo admitir que ela
possa assumir-se face a prticas solidamente estabele-
cidas). A verificao de uma prtica estadual conse-
quente (evidencivel nomeadamente em notas diplo-
mticas, em declaraes prestadas em conferncias
diplomticas ou em resolues de organizaes inter-
nacionais), de precedentes jurisprudenciais e de opi-
nies doutrinais convergentes, so em regra conside-
rados indcios bastantes da existncia de um costume.
COSTUME INTERNACIONAL GERAL
Costume internacional cujo reconhecimento e apli-
cao so universais.
Tradicionalmente, apenas se concebia a existncia
deste tipo de costumes, mas tal exigncia apenas
podia fazer sentido no sculo XIX, restringida ao con-
vvio dos Estados europeus. Hoje em dia, reconhece-
-se que a oposio de um ou mais Estados no impede
sequer a formao de um costume geral, tendo ape-
nas como efeito a inoponibilidade do mesmo a tais
Estados (o que implica portanto um entendimento
cuidadoso do termo geral).
Alguma doutrina defendia apenas o costume
internacional geral como fonte consudetudinria de
Direito Internacional. O acrdo do Tribunal
Internacional de Justia no caso relativo aos Direitos
de passagem em territrio indiano, veio no entanto
a reconhecer a obrigatoriedade de costumes ainda
que bilaterais, pondo fim ao debate na matria.
COSTUME INTERNACIONAL SBIO
A noo de costume internacional sbio (do fran-
cs sage, uma vez que a noo ter sido introduzida
por Dupuy) surge por contraposio com a de cos-
tume internacional selvagem (do francs, sauvage).
Assim, ser sbio aquele em que a prtica antecede
a convico da obrigatoriedade (da mesma maneira
que a sabedoria resulta do conhecimento profundo
das realidades), ao passo que, ser selvagem aquele
em que inversamente, a convico da obrigatoriedade
anteceder a prpria prtica. Apesar de importantes
reticncias doutrinais (que esto patentes na designa-
o), o Tribunal Internacional de Justia parece incli-
nado a aceitar a validade deste ltimo.
COSTUME INTERNACIONAL SELVAGEM
O modo de formao corrente da regra consuetu-
dinria naturalmente aquele em que a prtica ante-
cede a convico da obrigatoriedade. De facto, a for-
mao de uma norma costumeira pressupe que em
relao a uma dada situao (normalmente no regu-
lada por outra fonte de Direito) sejam adoptados um
ou mais comportamentos de entre os quais acaba por
ser tacitamente eleito aquele que representa uma res-
posta que sentida pela comunidade como justa
(assim, as prticas injustas nunca formam costume,
por muito repetidas que sejam). Mas isso implica o
decurso de perodos de tempo relativamente longos
CULTURA
Normas, valores e bens materiais caractersticos de
determinado grupo. Tal como o conceito de socie-
dade, a noo de cultura usada com muita fre-
quncia em Sociologia e por muitas outras cincias
sociais (em especial pela Antropologia). A cultura
uma das caractersticas prprias da associao social
humana. Toda a cultura necessita de uma sociedade
para se desenvolver, uma vez que a sociedade a base
para a existncia de cultura.
Um dos problemas que se coloca no mundo de hoje,
profundamente globalizado, o de saber at que
ponto as culturas universais ou locais podero resis-
tir implantao de uma cultura global.
O termo cultura polissmico, ambivalente e con-
traditrio.
No sentido amplo do termo, a cultura inclui os sis-
temas, valores e smbolos que servem de mediao
s interaces sociais: tradies culturais, huma-
nidades, mitos, literatura, representaes religiosas,
formas artsticas, crenas, modos de divertimento,
sistema de valores ticos, formas de design, etc. (Yves
Michaud).
CRITRIOS DE CONVERGNCIA 57
O desenvolvimento do capitalismo industrial fez-
-se com rupturas marcadas por crises. No Antigo
Regime, as crises eram geralmente breves, brutais,
tumultuosas crises de subsistncia; a partir da
segunda metade do sculo XVIII, as crises passam a
ser mistas, atingindo no s o sector agrcola, mas
tambm o sector industrial, urbano e rural; a partir
dos anos de 1860, aparecem as crises modernas ou
crises de superproduo, atingindo fundamental-
mente a actividade industrial.
CRITRIOS DE CONVERGNCIA
Os critrios de convergncia enumerados no artigo
109. do Tratado de Maastricht, de 1992, e porme-
norizados no Protocolo relativo aos critrios de con-
vergncia, anexo a este tratado, resultaram da
necessidade de se obter um maior grau de conver-
gncia das polticas econmicas dos Estados-mem-
bros, tendo em vista a passagem terceira fase da
Unio Econmica e Monetria (Janeiro de 1999). Tais
critrios so os seguintes: a taxa de inflao no
dever exceder em mais de 1,5% as trs taxas de infla-
o mais baixas da Unio Econmica; o dfice ora-
mental no dever exceder os 3% em relao ao PIB;
o peso da dvida pblica no PIB no dever exceder
os 60%; as taxas de juro de longo prazo no devero
afastar-se mais de 2% das taxas de juro dos trs pa-
ses da Unio Econmica com inflao mais baixa;
as moedas nacionais devero permanecer estveis
durante um perodo de dois anos antes da fixao
irrevogvel das taxas de cmbio. Os critrios do dfice
pblico e da dvida pblica so aqueles que os pa-
ses europeus mais dificuldades tm revelado cum-
prir. Os pases que cumpriram os critrios de con-
vergncia tinham a obrigao contratual de integrar
a Unio Econmica e Monetria, excepto o Reino
Unido e a Dinamarca, que tm uma posio especial
ao poderem optar por manter-se fora da Unio Eco-
nmica e Monetria (clusula opt-out).
gatrio para os seus destinatrios. A deciso pode
ainda consistir em actos individuais ou actos nor-
mativos (como acontece por exemplo com o regu-
lamento e a directiva comunitrios), atravs do que
se materializam verdadeiras competncias legislati-
vas internacionais.
DECLARAO
O termo declarao utilizado para designar actos
juridicamente muitos distintos.
Assim, desde logo, acolhido, por exemplo, em
convenes internacionais. Tal foi o caso da Decla-
rao de Paris de 1856, relativa guerra martima,
da Declarao de Haia de 1859, sobre o uso de gazes
asfixiantes, ou da Declarao de Argel de 1981 que
ps fim ao conflito americano-iraniano dos refns,
ou ainda a Declarao conjunta de 1984 sobre a ques-
to de Hong-Kong, feita pelo Reino Unido e pela
China. Ainda no plano convencional, o termo tam-
bm utilizado nas declaraes interpretativas,
que so actos no autnomos que visam explicar o
alcance e sentido dados por uma ou mais partes s
clusulas da conveno.
Em alguns casos, o termo utilizado para referir
acordos oficiosos relativos a questes de menor rele-
vncia (que no justificam portanto a celebrao de
uma conveno).
tambm utilizado para identificar o acto jur-
dico unilateral (autnomo) pelo qual um Estado d
conhecimento da sua posio ou manifesta a sua
inteno e (eventualmente) se compromete. Trata-
-se, alis, da designao abrangente dos actos uni-
laterais. Por vezes na doutrina utiliza-se, no mesmo
sentido, ou pelo menos em sentidos muito prximos,
o conceito de notificao. Finalmente, o termo
escolhido para identificar actos concertados no
convencionais (salientando a vontade das partes em
no imporem obrigaes jurdicas). Tal foi o caso da
Declarao do Rio de 1972.
Perante tal diversidade de utilizaes, poder ser
difcil aferir qual a inteno das partes, at porque,
em alguns casos, se evoluiu por via consuetudinria
de actos no vinculativos para actos obrigatrios, tal
como aconteceu com a Declarao Universal dos
Direitos dos Homem de 1948.
DARWINISMO SOCIAL
Ponto de vista da evoluo social que reala a impor-
tncia de lutas e guerras entre grupos ou socieda-
des como fonte impulsionadora do desenvolvi-
mento.
O darwinismo social, decorrente das teorias evo-
lucionistas de Darwin e de Spencer, considera que o
conflito e a seleco natural dos mais aptos so con-
dies da progresso social. Trata-se de aplicar ao
mundo social os princpios da luta pela vida e pela
sobrevivncia dos melhores das sociedades animais,
defendidos pela corrente evolucionista. A competi-
o relativa luta das espcies prolonga-se assim na
vida social, explicando a mudana e a evoluo das
prprias sociedades.
O evolucionismo de Spencer cauteloso, na medida
em que o autor adverte que a evoluo depende de
condies diversas que a favorecem ou inibem
(relaes do sistema social com o seu meio ambiente,
dimenso da sociedade, diversidade, etc.). Spencer
considera igualmente que os determinismos sociais
so demasiado complexos; os indivduos tm ten-
dncia a adaptar-se ao sistema social a que perten-
cem, do mesmo modo que as atitudes dos indivduos
facilitam ou inibem o aparecimento de determinado
tipo social (o tipo militar ou o tipo industrial, por
exemplo).
O darwinismo social tornou-se um argumento a
favor do individualismo econmico e poltico, con-
tra o intervencionismo do Estado. Segundo Spencer,
o Estado s deve, atravs do direito, estabelecer as
regras do mercado. Por sua vez Durkheim, que segue
o modelo evolutivo do darwinismo social dando conta
de tendncias evolutivas na sociedade, considera que
o desenvolvimento do individualismo que uma
consequncia da complexidade crescente da diviso
do trabalho , um aspecto fundamental na passa-
gem das sociedades tradicionais s sociedades
modernas.
DECISO
O termo utilizado para identificar um tipo espec-
fico de acto jurdico unilateral de uma organiza-
o internacional, nomeadamente aquele que obri-
D
DECLARAO DE POLTICA GERAL
Declarao unilateral formulada por um Estado ou
por uma organizao internacional, atravs da qual
este Estado ou esta organizao internacional
exprime os seus pontos de vista em relao a um
assunto ou matria (ainda que objecto de um tratado
ou outro acto internacional), sem visar a produo
de efeitos jurdicos.
DECLARAO UNIVERSAL
DOS DIREITOS DO HOMEM
A Declarao Universal dos Direitos do Homem foi
aprovada a 10 de Dezembro de 1948 pela Assembleia
Geral das Naes Unidas atravs da Resoluo n. 217-
-A (III), com 48 votos a favor, sem votos contra e oito
abstenes. Este clebre texto, composto por trinta
artigos, foi influenciado pelas tradies francesa
e anglo-saxnica de consagrao dos Direitos do
Homem. De inspirao universalista, a Declarao
refere-se filosofia do Direito Natural (Todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e em direitos) e aos princpios democrticos. Mani-
festa um certo individualismo e inscreve-se na tra-
dio liberal, apesar de exprimir preocupaes
sociais. O catlogo dos direitos que proclama con-
sagra mais os direitos cvicos e polticos do que os
direitos econmicos e sociais.
Enquanto Resoluo da Assembleia Geral, o texto
no tem, por si s, valor jurdico (no vinculativo),
mas tem, na prtica, exercido uma grande influn-
cia: fazem-se-lhe muitas referncias e numerosas
ordens jurdicas nacionais incorporaram-na a nvel
constitucional.
Esta era uma declarao de intenes, sem efeito
vinculativo. No obstante, a sua adopo foi de
extrema importncia, j que foi a primeira vez que
a comunidade internacional estabeleceu um cdigo
de conduta para a proteco dos direitos humanos
bsicos e das liberdades fundamentais, de que
devem beneficiar todos os homens, em qualquer
parte do mundo, sem discriminao.
Apesar de no ter criado uma obrigao jurdica
no sentido restrito do termo, pela sua aplicao, con-
seguiu, gradualmente, obter um estatuto de fonte de
Direito, mais importante que o da maior parte das
resolues e declaraes emanadas da ONU.
DEFESA
Forma de proteger territrios, bens e pessoas de um
ataque.
Nas Relaes Internacionais, o conceito de defesa
tem estado tradicionalmente associado s reas de
segurana e militar, apontando para uma forma de
proteger valores escassos de ataque. Deste modo, a
defesa entendida como resistncia, da parte dos
Estados ou de alianas, face a ataques de terceiros,
aumentando os custos para o adversrio e condu-
zindo ao fracasso da iniciativa, ou em casos extre-
mos, evitando mesmo qualquer concretizao de ata-
60 DECLARAO DE COMPATIBILIDADE
DECLARAO DE COMPATIBILIDADE
Refere-se a uma clusula convencional nos termos
da qual a interpretao da mesma deve assegurar a
sua compatibilidade com outra conveno ou texto
legal, assim se fixando portanto uma sujeio ou hie-
rarquia para efeitos de conflito.
DECLARAO INTERPRETATIVA
uma declarao unilateral, qualquer que seja o seu
enunciado ou designao, feita por um Estado ou por
uma organizao internacional, atravs da qual esse
Estado ou essa organizao internacional visa pre-
cisar ou clarificar o sentido ou alcance que o decla-
rante atribui a um tratado ou a algumas das suas dis-
posies.
Trata-se de um acto jurdico unilateral no aut-
nomo, na medida em que o seu regime decorre do
regime das convenes internacionais, j que no
mbito destas que o acto surge.
Toda a declarao interpretativa visa esclarecer o
sentido e alcance que uma parte d a uma ou mais
disposies de uma conveno ou de outro acto e
nessa medida enquadra a vontade da parte que fonte
material das obrigaes. Ou seja, ao esclarecer de
forma mais precisa a vontade real de uma ou mais
partes, a declarao interpretativa especifica tambm
em termos mais desenvolvidos o contedo das obri-
gaes assumidas. assim que deve entender-se a
regra segundo a qual a aceitao de uma declarao
interpretativa pelas outras partes tem sempre como
efeito o de se tornar numa interpretao autntica
(j que implica uma adeso destas ao entendimento
dado e portanto ao desenho especfico do quadro
obrigacional referido).
Na prtica, a questo mais frequente a da distin-
o entre as declaraes interpretativas e as reser-
vas. A regra a de que a qualificao de uma decla-
rao unilateral como reserva ou como declarao
interpretativa determinada pelo efeito jurdico que
esta visa produzir, sendo que para se distinguir se
deve interpretar a declarao em causa de boa-f,
segundo o sentido comum atribudo aos termos e
luz do tratado a que ela se refere. Deve ser tida em
conta tambm a inteno do Estado ou da orga-
nizao internacional em causa, no momento em que
a declarao formulada.
No mbito do regime assumem particular rele-
vncia as chamadas declaraes interpretativas con-
dicionais, que consistem em declaraes unilaterais
formuladas por um sujeito de Direito Internacional
no momento da vinculao a uma conveno, atra-
vs da qual este condiciona o seu consentimento a
ficar vinculado por essa conveno a uma interpre-
tao especfica desta ou de algumas disposies da
mesma. Tendo em conta os efeitos das mesmas (que
as aproximam das reservas), surgem exigncias
particulares: apenas podem ser formuladas antes da
vinculao e tm de ser comunicadas por escrito s
partes.
61
nncia no governo est eleitoralmente assegurada,
em que os governados mantm todos os seus direi-
tos cvicos perante os governantes e em que a liber-
dade e a competitividade polticas esto presentes.
DEMOCRACIA LIBERAL
Sistema de democracia com base no parlamenta-
rismo, aliado ao sistema de mercado livre na rea da
produo econmica.
A democracia liberal uma forma de governo
democrtica que equilibra o princpio de governo
limitado com a ideia de consentimento popular. As
suas caractersticas liberais reflectem-se num con-
junto de mecanismos de verificao internos e exter-
nos ao governo (checks and balances), com vista a
garantir a liberdade e a oferecer aos cidados pro-
teco contra o Estado. O seu carcter democrtico
baseia-se num sistema de eleies regulares e com-
petitivas, conduzidas com base no sufrgio univer-
sal e na igualdade poltica. Apesar de geralmente des-
crever um princpio poltico, o termo democracia
liberal geralmente usado para descrever um tipo
de regime. Assim, a democracia liberal uma forma
indirecta e representativa de democracia baseada em
eleies regulares, que opera atravs do pluralismo
partidrio e escolha eleitoral (pluralismo poltico, tole-
rncia de diferentes perspectivas e partidos polticos
rivais com filosofias sociais diferentes), e que distin-
gue o Estado e a sociedade civil, permitindo a exis-
tncia de grupos autnomos e de propriedade privada.
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA OU DIRECTA
Sistema da democracia em que todos os membros de
um grupo ou comunidade participam colectivamente
na tomada das decises importantes.
Esta forma de democracia pretende apagar a dis-
tino entre governo e governados, e entre Estado e
sociedade civil; um sistema de autogoverno popu-
lar. Na sua forma clssica, encontrava-se nas socie-
dades da antiga Grcia, onde todas as grandes deci-
ses eram tomadas pela assembleia de cidados. O
que tornou a democracia ateniense singular foi o
nvel de actividade poltica dos cidados, que alm
de participarem nas reunies da assembleia revela-
vam uma preparao capaz para assumir cargos ofi-
ciais de representao (geralmente de curta durao,
para que todos pudessem neles participar). Contudo,
a participao poltica restringia-se aos cidados, que,
na altura, eram um grupo restrito da populao:
homens com mais de 20 anos, uma vez que os escra-
vos, mulheres e estrangeiros no gozavam de direi-
tos polticos. Na actualidade, existem ainda assem-
bleias comuns de deciso nos cantes suos mais
pequenos. Na sua forma moderna, este tipo de demo-
cracia manifesta-se no uso do referendo.
DEMOCRACIA POPULAR
Conceito atribudo aos regimes comunistas, com base
no modelo sovitico, aps a Segunda Guerra Mundial.
DEMOCRACIA
que. Nas Relaes Internacionais, a necessidade dos
actores se defenderem tem sido relacionada com a
ideia de que o sistema internacional anrquico, ou
seja, de que no existe uma entidade supranacional
reguladora das relaes no sistema. Assim, quanto
maior a situao de anarquia, mais considerada a
necessidade de capacidade de defesa. A emergncia
do Estado como actor dominante nas Relaes Inter-
nacionais, a partir do sculo XVII, aumentou o sig-
nificado da defesa como objectivo de poltica nacio-
nal. A defesa da territorialidade do Estado era o objec-
tivo primrio, da tradicionalmente serem referidas
como reas prioritrias as questes militares e de
segurana. Uma vez que as capacidades de defesa dife-
rem entre os vrios actores internacionais, por vezes,
a procura de alianas ou a assinatura de acordos de
garantia servem para minimizar estas assimetrias.
Actualmente, um aspecto fundamental da defesa
prende-se com a capacidade tecnolgica, que afecta
de forma fundamental a relao ataque-defesa. Alm
do mais, o poder areo e as armas nucleares torna-
ram a questo da defesa mais complexa, de forma que
as consequncias de uma guerra so impossveis de
equacionar. A estratgia nuclear tem constitudo um
aspecto importante da defesa, pelo menos no que diz
respeito a violncia de elevada intensidade. Enquanto
rea chave da poltica externa dos Estados, as ques-
tes de defesa esto directamente relacionadas com as
expectativas ao nvel do poder governativo e das pr-
prias populaes quanto a um possvel conflito de vio-
lncia destrutiva (por exemplo, o caso de Israel). No
contexto ps-guerra fria, o conceito de defesa tem sido
alargado a par com o prprio entendimento mais alar-
gado de segurana, abrangendo reas no-tradicionais.
Contudo, o que constitui defesa adequada em qual-
quer circunstncia alvo de interpretaes subjecti-
vas, dependendo de clculos sobre o poder e intenes
potenciais de um adversrio, e da capacidade e fora
prprias, que inclui no apenas foras armadas e arma-
mento, mas tambm fora econmica e moral civil.
DEMOCRACIA
Sistema poltico que permite aos cidados participar
nas decises polticas ou eleger representantes nos
rgos governamentais.
Etimologicamente significa governo do povo.
Lincoln, alargou o conceito e referiu-se democra-
cia como o governo ou o poder do povo, pelo povo,
para o povo. Podemos tambm apresent-la como o
governo da maioria, associando esta definio ao
grupo que decide a escolha dos representantes ou dos
governantes. Hoje h quem entenda que a demo-
cracia continua a ser o governo da maioria, mas
daqueles que decidem votar, sendo que estes repre-
sentam em muitos actos eleitorais a minoria dos cida-
dos eleitores. A democracia ser assim para alguns
o governo da maioria dos que votam, o que nalgu-
mas situaes pode consubstanciar uma maioria de
um grupo minoritrio da comunidade poltica.
Seja qual for o sentido que se queira dar ao termo,
uma coisa certa: a democracia o regime poltico
em que o poder se encontra limitado, em que a alter-
democracia, justifica que o lder se arrogue ao mono-
plio do saber e do conhecimento. Apesar das demo-
cracias totalitrias serem excepo noo conven-
cional de governo democrtico, demonstram a ten-
so existente entre governo pelo povo (participa-
o popular) e governo para o povo (governo no
interesse pblico).
DEMOGRAFIA
a cincia da populao, o estudo cientfico da popu-
lao, procurando dar resposta a um conjunto de
questes relacionadas com a populao humana,
nomeadamente, das suas caractersticas e evoluo.
DENNCIA
Acto jurdico unilateral (no autnomo) visando a
cessao da vigncia de uma conveno. Em regra,
a denncia restringe-se s convenes bilaterais,
praticando-se alternativamente nas convenes mul-
tilaterais, o recesso. A diferena dos regime resulta
do facto de este no implicar a cessao (geral) da
vigncia da conveno, mas to-s o termo do vn-
culo do Estado que o pratica. A Conveno de Viena
de 1969 prev, no entanto, a denncia de convenes
multilaterais, presumivelmente para os casos em que
o recesso de uma parte pe fim (faz cessar a vign-
cia) conveno em relao a todas as partes.
Em termos gerais, a denncia apenas se admite nos
termos previstos na conveno (explcita ou impli-
citamente, j que pode deduzir-se da natureza da pr-
pria conveno), ou que venham a ser acordados pelas
partes.
DEPOSITRIO
A instituio do depositrio constitui uma das
particularidades das convenes multilaterais.
Na verdade, se nas convenes bilaterais os textos
originrios so normalmente elaborados e assinados
em duplicado, permitindo a cada uma das partes guar-
dar um exemplar, tal procedimento mostrou-se impos-
svel (ou muito difcil) de manter nas convenes
multilaterais, as quais podem actualmente contar
com mais de duas centenas de partes. Assim, a ins-
tituio do depositrio permite desde logo definir o
Estado ou organizao internacional a quem os docu-
mentos ficaro guarda e que dever fornecer cpias
autenticadas dos mesmos. O depositrio guarda tam-
bm os documentos relativos a reservas e decla-
raes assim como dos pedidos de adeso, dos ins-
trumentos de ratificao, etc. Deve, assim, ser infor-
mado e por sua vez informar as partes de qual-
quer elemento relevante na vida da conveno.
A prtica tem consagrado, para alm da nomeao
do Estado no qual a assinatura realizada, a nomea-
o do secretrio-geral das Naes Unidas, cuja pr-
tica tem sido coligida no Sumrio da Prtica do
Secretrio Geral enquanto Depositrio de Tratados
Multilaterais documento de referncia, disponibi-
lizado pelos servios das Naes Unidas.
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 62
Os marxistas criticavam a democracia liberal ou par-
lamentar como uma forma burguesa ou capitalista
de democracia. Contudo, aderiram ao conceito ou
ideal de democracia devido s suas implicaes de
igualdade, tendo como objectivo a igualdade social.
Marx acreditava que a queda do capitalismo seria o
empurro que levaria ao florescimento da verdadeira
democracia do proletariado e da sociedade sem
classes. Com Lenine, e apesar do slogan todo o poder
para os sovietes (conselhos de trabalhadores, sol-
dados e marinheiros), na realidade, o poder concen-
trava-se nas mos do partido comunista. Este argu-
mentava ser capaz de entender os interesses genu-
nos do proletariado e conduzi-lo para o seu poten-
cial revolucionrio. Esta teoria tornou-se o cerne da
democracia leninista. Contudo, a ausncia de meca-
nismos de controlo e superviso que assegurassem
que o partido se manteria sensvel e responsvel
perante a classe proletria ter contribudo para o seu
fracasso.
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
Sistema democrtico baseado na existncia de dois
ou mais partidos polticos, onde os votantes elegem
lderes polticos para os representar.
Forma limitada e indirecta de democracia. limi-
tada, pois a participao popular no governo geral-
mente traduzida no direito de voto peridico. indi-
recta, no sentido em que no o prprio povo a exer-
cer o poder; apenas elege os que governaro em seu
nome. A forma mais comum de participao demo-
crtica a votao; da tambm se designar este
sistema como sistema democrtico representativo
multipartidrio, pois baseado na existncia de dois
ou mais partidos polticos, onde os votantes elegem
lderes polticos para os representar.
DEMOCRACIA SEMIDIRECTA OU
SEMI-REPRESENTATIVA
Consiste em introduzir elementos da democracia
directa num regime representativo. O povo intervm
directamente em algumas decises, em particular
atravs da iniciativa popular e do referendo. Trata-
-se de um regime misto com uma forte componente
representativa.
DEMOCRACIA TOTALITRIA
Enquadra uma reduzida participao pblica, seja
directa ou indirecta, traduzindo a ideia de governo
para o povo (exemplos: as ditaduras de Mussolini e
Hitler). Os aspectos democrticos dos regimes basea-
vam-se no argumento de que o lder, e s este, arti-
culava os interesses genunos do povo, implicando
o entendimento de verdadeira democracia como dita-
dura absoluta. Nestes casos, o governo popular no
significa mais do que uma submisso ritualizada
vontade de um lder todo-poderoso. Trata-se de uma
ditadura absoluta que, mascarada sob a forma de
Conjunto das melhorias econmicas, tecnolgicas,
sociais ou culturais que produzem um melhor bem-
-estar.
O desenvolvimento a combinao das mudan-
as mentais e sociais de uma populao que a tornam
apta a fazer crescer, cumulativamente e duradoura-
mente o seu produto real (Perroux).
Todo o crescimento no necessariamente porta-
dor de desenvolvimento. Mas, historicamente, o cres-
cimento econmico indissocivel do desenvolvi-
mento econmico.
DESENVOLVIMENTO DO DIREITO
INTERNACIONAL
Trata-se de uma competncia cuja iniciativa cabe
Assembleia Geral das Naes Unidas nos termos da
prpria Carta , que consiste na preparao de pro-
jectos de convenes em matrias que no estejam
regulamentadas pelo Direito Internacional ou em
relao s quais no exista uma prtica estadual sufi-
cientemente desenvolvida.
O desenvolvimento tem vindo a correr a par da
codificao, podendo ser acompanhado no labor da
Comisso de Direito Internacional cujos relatrios
anuais Assembleia Geral espelham as evolues
conseguidas.
DESMILITARIZAO
Compromisso de um Estado face lei internacional,
segundo o qual foras, equipamentos e instalaes
militares so proibidas numa rea, sendo que se
algumas foras a permanecem, as suas actividades
sero confinadas a medidas de defesa no provoca-
doras, tipicamente associadas a tarefas de manu-
teno da paz, no quadro das Naes Unidas. A des-
militarizao pode seguir-se a uma retirada de for-
as ou aplicar-se a reas onde a fora militar no
tenha sido introduzida. Poder ainda ocorrer como
parte de um tratado de paz ou acordo de cessao de
hostilidades, sendo que a verificao e observao da
situao podero estar includas nos princpios acor-
dados. Quando a rea de desmilitarizao coincide
com o territrio do Estado, geralmente a sua pol-
tica externa designada de neutra ou no-alinhada.
DESTRUIO MTUA ASSEGURADA
Conceito de dissuaso mtua assegurada que assenta
na capacidade de qualquer uma das superpotncias
nucleares poder infligir danos inaceitveis na outra,
mesmo depois de ter sofrido um primeiro ataque
nuclear. Este conceito a base para o equilbrio do
terror ou para o que Raymon Aron designou de paz
de impotncia ou paz de terror.
DTENTE
Em portugus, distenso, relaxamento ou diminui-
o da tenso. A dcada de 1970 caracterizada pela
DESANUVIAMENTO 63
DESANUVIAMENTO
Designa genericamente a diminuio de tenso nas
relaes entre os Estados, embora no significando
necessariamente que os diferendos existentes tenham
sido resolvidos. O termo desanuviamento , em geral,
aplicado melhoria nas relaes entre os Estados
Unidos da Amrica e a Unio Sovitica na dcada de
1960, em plena guerra fria. A crise dos msseis de
Cuba em 1962 citada como o incio do processo de
desanuviamento. O termo tem sido tambm usado
para se referir s relaes entre as superpotncias a
partir de meados dos anos 1980, durante os quais se
negociaram acordos de desarmamento, e se assistiu
queda do Muro de Berlim e ao fim da hegemonia
sovitica na Europa de leste, factores determinantes
na transformao da agenda internacional.
DESARMAMENTO
O desarmamento implica a reduo, remoo ou eli-
minao de sistemas de armamento identificados, de
forma unilateral, bilateral ou multilateral, e com uma
abrangncia varivel, quer em termos quantitativos
(parcial ou total), quer em termos geogrficos (regio-
nal ou global). Definido em textos internacionais de
aplicao obrigatria, tem por objectivo o estabele-
cimento de um mundo desarmado e a preveno de
aces de rearmamento, sendo deste modo um con-
ceito central para os movimentos pacifistas. O desar-
mamento resulta do desenvolvimento tecnolgico
blico, com a construo de armas de destruio
macia, e da crescente proporo de vtimas civis nas
guerras modernas.
DESCOLAGEM
Desenvolvimento global das actividades econmicas.
Corresponde ao take-off na terminologia de Rostow,
ou seja, ao perodo em que a taxa de investimento
de um pas atinge 5 a 10% do rendimento nacional.
DESCOLONIZAO
Constituindo um dos acontecimentos mais impor-
tantes do sculo XX, traduz os movimentos pacfi-
cos ou armados que acabaram por levar indepen-
dncia das colnias que integravam os velhos imp-
rios coloniais europeus. A descolonizao efectuou-
-se em trs etapas fundamentais: a de 1945-1955, que
diz respeito sia e Prximo-Oriente; a de 1954-
-1962, relativa frica; e finalmente a de 1975-1980,
tambm relativa a frica.
DESENVOLVIMENTO
Conjunto das mudanas no sistema econmico e
social, assim como no tipo de organizao, que con-
dicionam e facilitam o crescimento.
Transformao das estruturas mentais e institu-
cionais que permitem a apario e a continuidade do
crescimento.
de intermedirios mutuamente reconhecidos entre
as partes (Calvet de Magalhes).
As suas principais funes so: representao
externa, reforando a existncia de um sistema de
Estados e as suas regras; informao, atravs da reco-
lha e transmisso da informao entre diferentes
Estados, promovendo a comunicao entre os deten-
tores do poder poltico; negociao, nomeadamente
de acordos internacionais, minimizando os efeitos de
frices nas Relaes Internacionais; promoo e pro-
teco dos interesses do Estado acreditante junto do
Estado receptor e extenso do servio pblico, asse-
gurando o acesso a estes servios, no Estado recep-
tor, aos nacionais do Estado acreditante.
Com origens na antiguidade clssica (Grcia
antiga), desenvolveu-se com o aparecimento do
Estado Moderno, a partir do sculo XVI, e viu a sua
actividade regulamentada a partir do Congresso de
Viena (1814-1815).
Constituindo um dos instrumentos essenciais das
Relaes Internacionais, a sua evoluo, no sculo
XX, caracterizou-se pelo declnio do papel das chan-
celarias, pela importncia crescente da diplomacia
multilateral face diplomacia bilateral, pela com-
plexidade crescente das funes diplomticas e pela
personificao da poltica externa (Maurice Vasse),
que, em ltima instncia, assegurada, directamente,
pelo prprio chefe de Governo.
DIPLOMACIA DO DLAR OU
IMPERIALISMO DO DLAR
Conceito particularmente associado poltica externa
do presidente norte-americano Taft (1909-1913) e hoje
frequentemente usado para descrever os esforos dos
Estados Unidos da Amrica para assegurar os seus
objectivos atravs de instrumentos de controlo
financeiros e econmicos. Inicialmente, a rea alvo
era a Amrica Central e Latina, mas esta poltica
foi alargada China e Extremo-Oriente, bem como
Europa ps-Segunda Guerra Mundial (Plano
Marshall). Insere-se no contexto do denominado neo-
colonialismo, um fenmeno essencialmente econ-
mico, baseado na exportao de capital de um pas
avanado para um menos desenvolvido, exemplifi-
cado na actuao dos Estados Unidos, relativamente
Amrica Latina. Proclamava que investimentos exten-
sivos norte-americanos promoveriam progresso eco-
nmico, estabilidade poltica e conformidade em reas
consideradas estrategicamente importantes para os
Estados Unidos. A diplomacia do dlar no invalida
a opo militar ou de interveno poltica. De facto,
o estabelecimento de compromissos financeiros no
estrangeiro torna-as at mais provveis em perodos
de instabilidade. Isto especialmente verdade relati-
vamente ao Canal do Panam, cuja concluso, em 1914,
coincidiu com a generalizao do uso da expresso.
DIPLOMACIA PREVENTIVA
Termo originalmente usado pelo Secretrio Geral das
Naes Unidas, Hammarskjld, para descrever os esfor-
DIGITALIZAO 64
ascenso e queda da dtente. O seu auge situa-se nos
anos de 1972 e 1973 e a sua queda aparece no final
dos anos de 1970, mais precisamente em 1979 com
a invaso sovitica do Afeganisto. A dtente veio
desanuviar ou distender as relaes entre os dois
pivots dos blocos geopolticos da guerra fria.
Significou uma crescente racionalizao das relaes
entre as duas superpotncias rivais. Sendo tambm
resultado de uma relativa paridade estratgica
nuclear, a dtente fundamenta-se na necessidade
mtua de extrair vantagens de uma poltica de dis-
sipao de confrontos e reduo da tenso entre acto-
res que reconhecem a existncia da Destruio
Mtua Assegurada. Kissinger observou que a dtente
no se fundamenta em um acordo sobre valores;
torna-se absolutamente necessria porque cada lado
reconhece que o outro um adversrio potencial
numa guerra nuclear. E prossegue: Para ns a
dtente um processo de administrar relaes com
um pas potencialmente hostil a fim de preservar a
paz, mantendo ao mesmo tempo os nossos interes-
ses vitais. Por seu turno, o lder sovitico, Leonid
Brejnev explicitou os pressupostos soviticos relati-
vos dtente da seguinte forma: a dtente significa
um certo grau de confiana e capacidade de levar em
conta os interesses de cada uma das partes.
DIGITALIZAO
Qualquer transformao de um sinal analgico
num sinal digital. Esta designao usada frequen-
temente para descrever o processo de introduo de
imagens ou texto no computador, atravs de um
scanner.
DILEMA DE SEGURANA
Security dilemma
Conceito introduzido por John Herz, que traduz os
sentimentos de insegurana resultantes de polticas
de fortalecimento da capacidade militar de um
Estado, com propsitos de aumentar a sua segurana
em termos defensivos, interpretadas como ameaa-
doras e encorajando o rearmamento dos outros Esta-
dos. Ao procurar inicialmente reforar a sua segu-
rana, o Estado d origem a um processo no qual ele
acabar por sentir ainda mais insegurana. O termo
dilema de segurana tem tambm sido usado para
designar a ausncia de uma autoridade central comum
aos vrios Estados, resultando num sistema inter-
nacional anrquico.
DIPLOMACIA
Actividade formal de um Estado frente a outros
Estados. Sendo uma das instituies fundamentais
do sistema internacional, constitui um dos instru-
mentos da poltica externa, utilizado para o estabe-
lecimento e desenvolvimento de contactos plurila-
terais de carcter pacfico entre governos de dife-
rentes Estados e outras entidades, atravs do emprego
sociedade, considerando que as sociedades so natu-
ralmente desiguais. A direita tambm mais nacio-
nalista.
Por ltimo e fundamentalmente, a direita con-
servadora, ou seja, tem uma tendncia natural para
resistir mudana, quer porque defende a manu-
teno de uma posio de privilgio, quer porque
pensa que a mudana no significa forosamente uma
alterao para melhor. Neste sentido, a direita est
ligada tradio e histria, no acredita no futuro
e no risco da mudana.
Por sua vez, a esquerda defende um optimismo
antropolgico, segundo o qual o homem natural-
mente bom, e a sociedade que o torna mau. De qual-
quer modo, mesmo quando aceita os defeitos huma-
nos, a esquerda pensa que possvel elimin-los atra-
vs da razo e da construo de uma sociedade mais
perfeita.
Neste sentido, a esquerda utpica e acredita na
possibilidade de se construir uma sociedade ideal.
A esquerda igualitarista e hostil ideia hierr-
quica e elitista baseada em privilgios. Defende a
eliminao destes privilgios atravs da criao de
condies de igualdade originais para todos os indi-
vduos. A esquerda no nacionalista, mas sim uni-
versalista. Por fim, a esquerda progressista e acre-
dita na mudana como factor fundamental para a evo-
luo; est sempre voltada para o futuro e para as pos-
sibilidades de renovao.
Diferenas poltico-programticas
Podemos dizer que a esquerda pretende adop-
tar polticas que diminuam as desigualdades sociais
atravs de uma distribuio mais justa dos rendi-
mentos.
Para tal, defende o papel do Estado como elemento
essencial. Acredita no Estado providncia e defende
que este deve controlar a educao, a sade e os
recursos estratgicos da economia de um pas, bem
como reforar as polticas sociais e de solidariedade.
A direita, por sua vez, acredita na livre iniciativa
como a melhor forma de criar desenvolvimento. No
acredita no papel do Estado, defendendo a sua no
interveno na economia. Acredita na propriedade
privada e na privatizao dos servios pblicos.
Refora as polticas de desenvolvimento de uma eco-
nomia de mercado competitiva.
Estas seriam as caractersticas tradicionalmente
distintivas que foram evoluindo desde a revoluo
francesa e que marcaram de forma decisiva grande
parte do sculo XX.
Actualidade da dicotomia
Neste incio de sculo, perodo marcado por uma
vertigem de acontecimentos extraordinrios carac-
tersticos de uma transio estrutural, a questo que
se pode colocar : ser que ainda faz sentido falar-
mos em esquerda e direita?
Em nossa opinio, a direita e a esquerda tradicio-
nais j passaram a ser nomes sem sujeito, ou seja,
j no tm validade no nosso tempo. Assim, podemos
dizer que a dicotomia maniquesta de esquerda/direita
no tem actualmente sentido.
DIREITA/ESQUERDA 65
os de mediao e manuteno da paz, com o objec-
tivo de prevenir conflitos regionais que poderiam
escalar para confronto entre as duas superpotncias,
os Estados Unidos da Amrica e a Unio Sovitica.
Nos anos de 1990, e reflectindo a nova situao inter-
nacional resultante do fim da guerra fria, o secret-
rio-geral das Naes Unidas, Boutros-Ghali, props
uma interpretao mais ampla do termo na Agenda
para a Paz. Para alm de tentar evitar o alastramento
de conflitos existentes, a diplomacia preventiva
abarca tambm esforos direccionados para a dimi-
nuio de instabilidade e para prevenir o incio de
hostilidades armadas, atravs de misses de inqu-
rito e averiguao, alerta antecipado e medidas de
consolidao de confiana entre as partes envolvidas.
DIREITA/ESQUERDA
Origem histrica
importante perceber a origem histrica da distin-
o, porque desde logo, como iremos ver, a distin-
o original ajuda-nos a perceber algumas das carac-
tersticas distintivas da dicotomia, e, por outro lado,
tambm nos ajuda a compreender a importncia das
circunstncias histricas na definio destes con-
ceitos.
A distino entre esquerda e direita surge na sequn-
cia da Revoluo Francesa. Est ligada diviso dos
representantes da Assembleia Poltica que, no dia 11
de Setembro de 1789, se agruparam esquerda e
direita do presidente da assembleia.
Assim, os que se colocaram direita representa-
vam os tradicionalistas, conservadores e contra-revo-
lucionrios, identificavam-se com princpios monr-
quicos, catlicos, e defendiam ideias de autoridade,
famlia e religio.
Os que se colocaram esquerda representavam o
terceiro estado, eram progressistas, revolucion-
rios, identificavam-se com princpios republicanos,
anticlericais, defendiam ideias como a igualdade, a
razo e a liberdade.
Noes especificamente francesas, na origem, tor-
naram-se ao longo de 150 anos em dados universais.
Neste sentido, a distino esquerda/direita foi admi-
tida para todas as sociedades polticas, e marcou deci-
sivamente a histria do sculo XX.
Caractersticas distintivas essenciais
Apesar de existir uma grande diversidade de
esquerdas e de direitas, podemos considerar que exis-
tem algumas caractersticas essenciais que so defi-
nidoras da direita e da esquerda.
Deste modo, podemos dizer que a direita defende
um certo pessimismo antropolgico, ou seja, o homem
tem uma srie de defeitos naturais, que nunca iro
ser eliminados. O homem mau, interesseiro, egosta;
sempre foi assim e sempre assim ser.
Neste sentido, a direita antiutpica e rejeita a pos-
sibilidade da construo terica e pr-determinada
de uma sociedade ideal.
Por outro lado, a direita elitista na medida em
que acentua a perspectiva hierrquica de qualquer
bro de 1997 ou o Tratado de Nice, assinado em Feve-
reiro de 2001, entre outros).
O direito derivado constitudo pelos actos uni-
laterais adoptados pelas instituies comunitrias.
O artigo 249. do Tratado da Comunidade Europeia,
prev que, para o desempenho das suas atribuies,
o Parlamento Europeu em conjunto com o Conselho
e a Comisso adoptem regulamentos e directivas,
tomem decises e formulem recomendaes ou pare-
ceres, nas condies previstas nos tratados. Estes
actos comunitrios so publicados no Jornal Oficial
da Unio Europeia.
ainda possvel encontrar em normas dispersas
de direito comunitrio originrio ou derivado outros
actos, habitualmente designados por actos atpicos.
A jurisprudncia comunitria e os princpios
gerais do direito comunitrio ocupam um lugar
importante entre as fontes de direito comunitrio.
Os acrdos do Tribunal de Justia e do Tribunal
de Primeira Instncia no podem ser ignorados
devido prpria natureza do direito comunitrio.
Os princpios gerais de direito comunitrio foram
consagrados pelo Tribunal de Justia e impem-se s
instituies comunitrias. Permitem esclarecer e col-
matar algumas lacunas de direito comunitrio. Entre
eles, destacam-se o princpio da solidariedade e da
preferncia comunitria, o princpio da proporcio-
nalidade, o princpio da confiana legtima, o prin-
cpio do primado e do efeito directo e o princpio da
no discriminao e igualdade de tratamento.
DIREITO INTERNACIONAL
A expresso Direito Internacional relativamente
recente, tendo sido introduzida no sculo XVIII por
Jeremy Bentham (An Introduction to the Principles
of Moral and Legislation, 1780), vindo depois a ser
progressivamente acolhida na doutrina. At ento,
utilizava-se comummente a designao do Direito
das Gentes, correspondente traduo literal de ius
inter gentes (utilizada nos sculos XVI e XVII) que
por sua vez, derivava do ius gentium romano (Guy
Agniel).
Uma parte importante da doutrina no avana
sequer com uma definio de Direito Internacional
nos manuais ou obras introdutrias, dada a com-
plexidade da tarefa e a imperfeio dos resultados
obtidos at ao momento.
Num trabalho de 1960, Eric Suy ensinava que
a definio, ou melhor, as diversas definies de
Direito Internacional, podem classificar-se segundo
alguns critrios-base. Assim, teremos fundamental-
mente trs tipos de definies de Direito Internacio-
nal: aquelas que assentam no critrio dos sujeitos,
as que se baseiam no critrio do objecto e, finalmente
as que partem do critrio da forma da produo da
norma.
As definies que assentam no critrio dos sujei-
tos sero todas as que vem o Direito Internacional
como o conjunto das normas reguladoras das rela-
es entre Estados ou entre sujeitos de Direito
Internacional Pblico. Embora se trate de uma pers-
DIREITO COMUNITRIO 66
Na realidade, numa sociedade cada vez mais com-
plexa e onde as mltiplas razes de oposio j
no permitem colocar as fileiras todas de um lado
ou todas do outro, a oposio unvoca entre uma
direita e uma esquerda acaba por ser simplifi-
cante. Por outro lado, com a queda do Muro de
Berlim constatmos a perversidade da construo
de sociedades idealmente igualitrias. O que nos
transmitiu a todos, cidados e polticos, uma lio
fundamental sobre o que no se deve fazer em pol-
tica organizar uma sociedade atravs da imposi-
o de regras emanadas do topo, pelo uso de meios
autoritrios.
Neste sentido, se a direita tinha tido com o nazismo
o seu mau exemplo, a esquerda teve com o sovie-
tismo o seu.
Isto produziu um desprezo pelos extremismos, e
por outro lado aproximou os moderados que, aban-
donando os projectos de sociedade radicais, se con-
centraram numa viso mais pragmtica e, deste
modo, na procura de solues para problemas mais
especficos.
Neste sentido, nas sociedades democrticas, os par-
tidos polticos comearam a convergir para o cen-
tro moderado e pragmtico, reconhecendo que a eco-
nomia, enquanto cincia dos recursos escassos,
impe opes que atravessam a direita e a esquerda,
fazendo com que hoje, em todos os governos, coa-
bitem polticas de direita e de esquerda.
Mas ser que este fenmeno permite concluir que
j no existem valores e polticas que se possam clas-
sificar de esquerda ou de direita?
Em ltima anlise, podemos considerar que,
embora a tradicional distino esquerda/direita j no
seja operacional, ela encerra em si uma dicotomia
que, em nossa opinio, definidora de toda a aco
poltica sendo, portanto, indestrutvel na sua origem
antropolgica, e que, a qualquer momento, se revela
na tenso poltica entre a tradio e a emancipao,
e entre a conservao e a mudana.
DIREITO COMUNITRIO
O direito comunitrio composto, por um lado, por
um ncleo central, o direito originrio e, por outro
lado, pelas normas adoptadas em aplicao do
direito originrio, ou seja, o direito derivado.
O direito originrio, criado pelos Estados-membros
atravs de tratados internacionais, compreende os
trs tratados institutivos das Comunidades Europeias
(o Tratado que instituiu a Comunidade Europeia do
Carvo e do Ao, celebrado em Paris, a 18 de Abril
de 1951, o Tratado que instituiu a Comunidade
Econmica Europeia, celebrado em Roma, a 25 de
Maro de 1957 e o Tratado que instituiu a Comu-
nidade Europeia da Energia Atmica Euratom
celebrado, igualmente em Roma, a 25 de Maro de
1957) e por todos os tratados posteriores que os vie-
ram modificar, completar e adaptar (por exemplo, o
Acto nico Europeu, celebrado em Fevereiro de 1986,
o Tratado da Unio Europeia, celebrado em Fevereiro
de 1992, o Tratado de Amesterdo, assinado em Outu-
se oporia o poder de facto (resultante da exibio e
uso da fora que origina situaes injustas porque
no assentes em critrios abstractos pr-determina-
dos).
Cabe, no entanto, questionarmo-nos at que
ponto ser legtima a equivalncia entre a realizao
da justia e a mera aplicao de regras jurdicas. Na
medida em que sempre existem regras injustas
(regras cuja aplicao cria injustias), essa equiva-
lncia parece ter de recusar-se, muito embora se deva
admitir como tendncia, j que no se vislumbra a
realizao da justia sem a aplicao de regras. Mas
estas so apenas um dos mecanismos que no deve
confundir-se com a prpria justia.
O erro fatal da dicotomia tradicional parece resi-
dir no entanto na perspectivao do direito como
sendo inteiramente alheio a mecanismos de poder
efectivo (opondo-se mesmo, a esse poder). Ao con-
trrio do que aquela perspectiva pretende, a arti-
culao com o poder mostra-se essencial para
garantir nveis aceitveis de cumprimento e con-
trolo das regras, aspecto que no plano internacional,
particularmente delicado. Donde, tentando supe-
rar essa falsa dicotomia, dever-se- antes procurar
situar o Direito na interconexo da autoridade e do
poder (o que implica por exemplo, uma pondera-
o poltica sistemtica e aberta), entendendo-o como
um processo, um sistema decisrio (autoritrio)
que por funcionar num meio descentralizado,
assenta numa diversidade de decisores legtimos
(Higgins).
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO
Ramo do Direito que trata das situaes em que haja
regras de mais de uma ordem jurdica (nacional) que
concorram para regular uma mesma situao.
Nestes casos, no havendo uma hierarquia entre as
regras, a soluo resulta da aplicao de regras de
conflitos, ou seja, regras nacionais existentes nas dife-
rentes ordens jurdicas, que (fundamentalmente por
via das tcnicas de qualificao e do reenvio) devem
determinar, por aplicao das regras, de qual dessas
ordens dever regular-se a situao. Assim, o Direito
Internacional Privado no contempla regras mate-
riais que se dirigem determinao da soluo de
problemas, mas diversamente, visa resolver uma
questo prvia: a de saber qual das ordens jurdicas
deve efectivamente regular a matria.
Nestes termos, as regras de Direito Internacional
Privado so sempre regras internas: trata-se de regras
de conflitos determinadas em cada ordem jurdica
pelo respectivo legislador nacional, as quais devero
articular-se entre si, com vista determinao do
ordenamento competente para regular as situaes
em que surja uma concorrncia.
DIREITO INTERNACIONAL PBLICO
A juno do vocbulo pblico ao Direito Inter-
nacional visa evitar a confuso com aquilo que fre-
DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 67
pectiva clssica (o prprio termo internacional
aponta nesse sentido) e com importantes ecos na
doutrina, a verdade que no escapa a crticas impor-
tantes. Assim, a primeira variante (que aponta para
as relaes entre Estados) mostra-se demasiadamente
estreita, sendo incapaz de integrar as relaes que
envolvam outros sujeitos (maxime as organizaes
internacionais), cuja importncia actual incontor-
nvel. A segunda variante (que se dirige s relaes
entre sujeitos de Direito Internacional) padece da
deficincia inversa, por incluir todo um conjunto de
relaes que claramente exorbitam do mbito do
Direito Internacional. A perspectiva mostra-se assim,
sempre descentrada: desde logo porque numa parte
das relaes entre Estados (ou sujeitos de Direito
Internacional), estes surgem despidos da sua quali-
dade, agindo portanto como entes privados (por
exemplo, na realizao de determinados contratos).
Haver ainda a salientar que as definies que par-
tem do critrio dos sujeitos assentam necessaria-
mente num crculo vicioso: para chegarmos noo
de Direito Internacional precisamos de saber quem
so os sujeitos de Direito Internacional. O objecto
da definio est contido na resposta.
As definies que partem do critrio do objecto
sero todas as que vem o Direito Internacional como
o conjunto de regras que regula as matrias cuja
natureza internacional.
A resposta presume ser possvel traar e manter
visvel a linha de fronteira entre o que so matrias
internacionais e matrias internas. Ora acontece que,
no s essa linha no clara como, alm disso, varia
com o tempo, tornando-se por isso o critrio pouco
operacional. Da tambm que o eco na doutrina no
seja importante.
Finalmente, para as definies que assentam no
critrio da forma de produo das normas, o Direito
Internacional ser o conjunto das normas criadas
segundo os processos de produo jurdica da comu-
nidade internacional e que transcendem o mbito
estadual.
Este tipo de definies o mais acolhido na actua-
lidade, apesar de a doutrina reconhecer o facto de
tambm ela assentar num crculo vicioso (uma vez
que a determinao do processo decorre das prprias
regras cujo mbito se pretende identificar). H no
entanto nesta uma inquestionvel virtualidade pr-
tica, na medida em que no esclarecendo conceptual-
mente constitui uma aproximao que permite um
entendimento operacional do mbito do Direito Inter-
nacional.
Alguma doutrina mais esclarecida de entre a qual
se salientaria a da britnica Rosalynn Higgins, actual
juza do Tribunal Internacional de Justia aproveita
para sublinhar que em todas as definies acabadas
de referir subsiste uma deficincia endmica: a do
hbito de assentar a definio dos ramos do Direito
em conjuntos de regras. Esta perspectiva tradicio-
nal, muito reforada pelo positivismo jurdico, funda-
-se numa dicotomia clssica: a oposio entre auto-
ridade e poder. O Direito (e dentro deste, o Direito
Internacional) respeitaria autoridade (consubs-
tanciada na regra jurdica a aplicar pelo juiz), qual
A dissuaso pode assumir dois tipos gerais: o tipo
defensivo e o tipo ofensivo ou punitivo. A dissuaso
defensiva a que se baseia no levantamento e accio-
namento de sistemas que conduzam o adversrio a
pensar que no gratificante atacar, pois conclui pela
impossibilidade de ganhar ou, caso o faa, apenas
custa de um preo demasiado elevado. este tipo de
dissuaso que explica as grandes linhas fortificadas
(como a linha Maginot), os mecanismos de apelo
resistncia armada, etc.
A dissuaso punitiva (ou ofensiva) aquela que se
baseia no levantamento de sistemas que permitam
infligir uma punio ao adversrio, caso ele tome
determinada atitude. Fundamenta-se portanto na
capacidade de exercer represlias.
Em funo dos meios utilizados, pode haver dis-
suaso ofensiva: econmica (caso da ameaa de blo-
quear certas ou todas as exportaes ou importaes);
psicolgica (ameaando com represlias morais:
banimento, denncia, etc.); diplomtica (corte de
relaes); militar (atravs de contra-ataques).
No que respeita aos meios nucleares, a dissuaso,
em teoria, poder ser defensiva, com base, por exem-
plo, nos sistemas ABM (Anti-Ballistic Missile), ou
ofensiva, com base em bombardeamentos nucleares
de resposta.
No tipo de dissuaso nuclear existente na guerra
fria, ao nvel das duas superpotncias, a capacidade
de dissuadir residiu na possibilidade de ter meios de
resposta susceptveis de infligir danos inaceitveis a
quem desencadeasse o primeiro ataque (equilbrio de
terror). Ou seja, tal capacidade resulta da possibilidade
de levar a efeito um segundo ataque esmagador.
DITADURA
Regime poltico caracterizado pela ausncia de
quaisquer limites ao exerccio do poder. Este tipo de
regime pode assumir carcter autoritrio ou totali-
trio e ser de origem conservadora ou revolucion-
ria. A ruptura com a ordem vigente, na maior parte
dos casos de forma violenta, est na base de todas as
ditaduras, pelo que a manuteno no poder da nova
classe dirigente se alicera no uso da fora e no
recurso represso.
A ditadura uma forma de governo onde uma
nica pessoa detm o poder poltico. No mundo
actual, muitos ditadores chegaram ao poder como
lderes de movimentos ou de partidos polticos que
adquiriram o monoplio do poder. Os ditadores tam-
bm surgem das foras armadas, quando, por exem-
plo, uma junta militar toma o poder atravs de um
golpe de Estado (Robertson).
DIVISO DO TRABALHO
Diviso de um sistema produtivo em tarefas ou ocu-
paes laborais especficas, criando interdependn-
cia econmica. Todas as sociedades tm formas, mais
elaboradas ou rudimentares de diviso de trabalho,
nomeadamente entre as tarefas distribudas pelos
homens e as cumpridas pelas mulheres. Com o desen-
DIREITOS HUMANOS 68
quentemente se designa por Direito Internacional
Privado (Queir), ou seja, em regra, todo o Direito
Internacional ser pblico, j que aquilo que se
designa por Direito Internacional Privado com-
posto por regras internas de conflitos.
DIREITOS HUMANOS
Direitos e privilgios que pertencem a qualquer pes-
soa, independentemente dos princpios do sistema
legal onde se insere, simplesmente porque como ser
humano h aspectos da sua existncia que no podem
ser proibidos/regulados por nenhum governo. Os
direitos humanos constituem um grande desafio s
Relaes Internacionais, uma vez que a sua univer-
salidade permanece uma questo em aberto. Apesar
das variaes existentes, os elementos fundamentais
relacionados com os direitos humanos incluem
geralmente o direito liberdade de expresso, reli-
gio, associao, direito a um julgamento justo, liber-
dade poltica, etc.
O Tribunal Penal Internacional, criado sob a gide
das Naes Unidas, em Roma, a 17 de Julho de 1998,
tem por objectivo a defesa dos direitos humanos, bem
como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que
opera sob a gide do Conselho da Europa, e est
sediado em Estrasburgo.
DIREITOS POLTICOS
Direitos possudos pelos cidados de uma dada comu-
nidade nacional de participao poltica, tais como
o direito a votar em eleies locais e nacionais.
DIREITOS SOCIAIS
Direitos de natureza e assistncia social por parte de
cidados de determinada comunidade nacional,
como por exemplo, o direito de exigir ao Estado sub-
sdios de desemprego ou doena.
DISSUASO
A estratgia de dissuaso entendida como o modo
de gerar, organizar e preparar o emprego da fora,
com a finalidade de impedir o adversrio de usar cer-
tos meios e/ou adoptar certos comportamentos (con-
cretizar certas ameaas). Com uma estratgia de dis-
suaso num determinado nvel, coincide, frequen-
temente, uma estratgia de aco a outro nvel mais
favorvel. Este facto tem importantes implicaes,
pois sempre til, tendo como referncia a guerra,
que o fim negativo relacionado com a dissuaso seja
compensado pelo fim positivo inerente aco.
Se a dissuaso um objectivo poltico, o seu resul-
tado de natureza psicolgica. Se tem xito, a dis-
suaso atinge tambm o adversrio no seu mago psi-
colgico, submetendo-se nossa vontade, reti-
rando-lhe a liberdade de agir. Tal resultado psicol-
gico deriva da combinao de um clculo desfavorvel
em termos de perdas e ganhos e de incertezas.
nante no sistema de ensino, atravs do qual so pre-
parados os quadros polticos e os principais respon-
sveis administrativos nos Estados e organizaes
internacionais.
No plano estritamente internacional, devem ainda
ter-se presentes os contributos de organizaes inter-
nacionais (que frequentemente so chamadas a pro-
nunciar-se sem carcter vinculativo sobre deter-
minadas matrias), de alguns institutos internacio-
nais (como o International Law Institute, de Lon-
dres) e de organizaes no governamentais.
Nas Relaes Internacionais o termo tambm
utilizado para referir princpios ou concepes pol-
ticas (posies de determinados actores interna-
cionais sobre problemas importantes, como aconte-
ceu com as doutrinas Monroe, Brejnev, etc.).
DOUTRINA BREJNEV
Tambm denominada doutrina de soberania limitada,
resultou de um discurso de Leonid Brejnev (1906-
-1982) onde o lder sovitico proclamou que a Unio
Sovitica e outros pases comunistas tinham o direito
de intervir contra qualquer ameaa ao comunismo,
de modo a preservar o poder do partido comunista
em qualquer Estado que integrasse o bloco sovitico.
A doutrina reservava Unio Sovitica o direito de
evitar o afastamento do bloco ou a queda do comu-
nismo em qualquer um destes Estados. A aceitao,
com Mikhail Gorbatchev, do desmantelamento do
bloco sovitico, em 1990-1991, significou o repdio
da doutrina.
DOUTRINA CARTER
Poltica anunciada pelo presidente Jimmy Carter no
seu discurso sobre o estado da nao, perante o
Congresso, em 23 de Janeiro de 1980, declarando a
disponibilidade norte-americana para usar a fora
militar, se necessrio, contra qualquer fora externa
que ameaasse os interesses norte-americanos no
Golfo Prsico, nomeadamente qualquer tentativa de
controlo da regio. Na sequncia deste anncio foi
criada a Fora de Reaco Rpida, entre outras ini-
ciativas.
DOUTRINA DOMIN
Inicialmente defendida pelo presidente norte-ame-
ricano Eisenhower em Abril de 1954, o seu objectivo
consistia em eliminar o perigo de contgio comunista
no Sudoeste Asitico. A ideia era evitar que, aps o
Vietname cair em mos comunistas, surgisse um
efeito de domin, que levasse o comunismo aos
vizinhos Laos e Camboja e da fosse exportado para
a Tailndia e depois Malsia, Indonsia e Filipinas.
Foi esta teoria que legitimou o envolvimento directo
dos americanos no Vietnam, nas dcadas de 1960 e
1970.
DIVISIBILIDADE DAS CONVENES INTERNACIONAIS 69
volvimento da industrializao, contudo, a diviso de
trabalho tornou-se mais complexa do que em qual-
quer outro sistema anterior.
DIVISIBILIDADE DAS CONVENES
INTERNACIONAIS
O problema da divisibilidade das convenes interna-
cionais prende-se com a questo de saber em que
medida podem circunscrever-se os efeitos de um vcio
ou de uma causa de cessao da vigncia a uma
parte da conveno. A regra geral na matria que
consiste alis num dos efeitos tpicos de ambos os
regimes a da indivisibilidade, ou seja, a existn-
cia de um vcio ou de uma causa de cessao da vign-
cia apenas poder ser invocada em relao a toda a
conveno. Essa regra absoluta no tocante s nuli-
dades absolutas (ou seja, nos casos de coaco e de
violao de uma regra de ius cogens), mas so admi-
tidas excepes no mbito das nulidades relativas. O
regime da Conveno de Viena de 1969 impe ainda
a divisibilidade, sempre que a nulidade afecte apenas
uma parte da conveno, essa parte seja destacvel,
no seja essencial e no seja injusto continuar a cum-
prir a conveno nessas circunstncias. Introduz-se
ainda uma outra especificidade: nos casos de dolo
e corrupo, o Estado cujo consentimento foi
viciado pode optar por invocar a nulidade em rela-
o totalidade da conveno ou apenas em relao
a uma parte especialmente afectada (designando-se
portanto estas situaes como de divisibilidade
facultativa).
DOLO
Causa de nulidade relativa das convenes inter-
nacionais que decorre de uma conduta fraudulenta
(de um Estado que tenha participado na negocia-
o), que tenha conduzido um Estado a vincular-
-se. A situao consagrada na prtica e reconhe-
cida no regime vigente no tem sido invocada
na actualidade, sendo de referir apenas situaes no
sculo XIX, em que algumas tribos africanas a invo-
caram em relao a tratados celebrados com Estados
europeus.
DOUTRINA
Fonte auxiliar de Direito Internacional, que consiste,
em termos gerais, nos ensinamentos dos mais con-
sagrados juristas. A doutrina tem um papel incon-
tornvel na individualizao, deteco, preciso e
determinao do mbito de regras no escritas e na
formulao de regras em domnios novos ou em
rpida evoluo.
O seu papel no Direito Internacional tradicional,
vindo desde os esforos de codificao de Grotius no
sculo XVII e passando pelos de Vattel no sculo
XVIII. O seu carcter independente e abrangente, que
tende a gerar consensos, justifica uma influncia
decisiva. Por outro lado, essa influncia determi-
DOUTRINA NIXON
Com origem em vrios discursos do presidente Nixon,
em Julho de 1969, nas Filipinas, reafirma a prima-
zia dos compromissos globais norte-americanos,
claramente evitando qualquer novo envolvimento
dos Estados Unidos em conflitos no Terceiro Mundo,
em particular devido guerra do Vietname. Pretendia
restaurar a flexibilidade operacional da poltica
externa norte-americana aps o desastroso envolvi-
mento no Vietname, enquanto redistribuindo a res-
ponsabilidade de manuteno da segurana inter-
nacional. Assim, a doutrina Nixon visava a afirma-
o dos compromissos internacionais dos Estados
Unidos da Amrica em termos de tratados, incluindo
a oferta de proteco aos seus aliados em caso de
ameaa nuclear. Face a ameaas ou agresso de natu-
reza no-nuclear, Nixon oferecia assistncia econ-
mica e militar, ressalvando no entanto que o Estado
ameaado teria a responsabilidade primria em ter-
mos de mobilizao de homens. O presidente visava
conter os seus inimigos, enquanto promovendo os
interesses norte-americanos escala mundial.
DOUTRINA TRUMAN
Doutrina que resulta de um discurso do presidente
Harry Truman, numa sesso do Congresso, em Maro
de 1947, e que comprometia os EUA a uma poltica
global, com o objectivo de prevenir os avanos do
comunismo e apoiar os povos livres que resistissem
ao domnio de minorias armadas ou de presses
externas.
Esta doutrina opunha uma concepo de vida a
americana , baseada na vontade da maioria, e dis-
tinguindo-se pelas instituies democrticas,
governo representativo, eleies livres, garantias de
liberdade individual, de expresso, religio e de opi-
nio poltica, a outra concepo de vida a da Unio
Sovitica , baseada na vontade de uma minoria
imposta pela fora sobre a maioria, assente no ter-
ror da opresso, numa imprensa e rdio controladas,
e na supresso das liberdades individuais.
A forma de derrotar a estratgia sovitica exigia,
pois, uma poltica de firme conteno, delineada para
confrontar os russos com um constante poder em
todos os pontos em que se dessem sinais de invaso
dos interesses de um mundo estvel e pacfico
(Kissinger).
A doutrina Truman marcou um corte com a tra-
dio isolacionista e abriu um precedente aos pro-
gramas de ajuda econmica e militar norte-americana
no mundo. Apesar de no incluir uma referncia
directa Unio Sovitica, a expresso povos livres
significava anticomunistas. Assim, os Estados
Unidos da Amrica assumiam o compromisso de
agirem escala global, em oposio aos avanos
do comunismo, e a intervirem, pela fora das armas
se necessrio, em defesa de uma rea ameaada,
como veio a acontecer, por exemplo, em relao
Coreia e ao Vietname. A dimenso econmica da
Doutrina Truman consubstanciou-se no Plano
Marshall.
DOUTRINA MONROE 70
DOUTRINA MONROE
Originariamente destinada a avisar os Estados euro-
peus a no se envolverem no Novo Mundo, tornou-
-se a base conceptual da poltica dos Estados Unidos
da Amrica na Amrica Central e Latina. Em 1823 e
por um perodo considervel, no foi mais do que o
anncio de uma boa inteno, uma vez que os
Estados Unidos da Amrica no possuam poder naval
ou estatuto diplomtico para a sua implementao.
Ao longo do sculo XIX foi a convergncia de inte-
resses anglo-americanos na regio, e em particular
o poder naval do Reino Unido que permitiram uma
Amrica Latina liberta e impediram o ressurgi-
mento da interveno poltica e militar dos poderes
imperiais europeus. As primeiras violaes desta dou-
trina no intervencionista foram perpetradas pelo
Reino Unido, quando as suas tropas ocuparam as ilhas
Falkland/Malvinas em 1833, apesar dos protestos da
Argentina. S em finais do sculo XIX que os
Estados Unidos adquiriram poder militar, diplom-
tico e econmico para agirem como os guardies da
metade sul do seu hemisfrio. Em 1904, Roosevelt
avanou esta doutrina no sentido do imperialismo,
declarando que a m governao nas repblicas da
Amrica Latina levaria interveno armada dos
Estados Unidos. Aps a Segunda Guerra Mundial,
adoptou um carcter multilateral com a formao da
Organizao de Estados Americanos e o Tratado do
Rio.
Fora dos Estados Unidos da Amrica a doutrina no
tem sido popular, dando origem a tentativas para con-
tornar o seu carcter hegemnico bvio. A projeco
unilateral do poder dos Estados Unidos na Amrica
Latina foi usada para justificar o bloqueio de Cuba
em 1962, de modo a forar a retirada dos msseis
soviticos e, apesar de Khrushchev negar a sua vali-
dade, a maioria dos americanos continua a acredi-
tar que ela agora parte do corpo legal internacio-
nal para a regio.
Quando inicialmente proclamada pelo presidente
Monroe, era uma doutrina de carcter isolacionista
e oferecia um quid pro quo, para que os europeus se
mantivessem afastados da Amrica Latina. Desde a
formao da Organizao do Tratado do Atlntico
Norte, os Estados Unidos da Amrica tm estado
activamente envolvidos na Europa, logo, muitos
crem que, aparte o seu poder, no h justificao
legal ou moral para uma excluso continuada. De
acordo com estas alteraes, Perkins (1955) apelou
para que a doutrina fosse esquecida, uma vez que as
suas palavras deixam a impresso de hegemonia,
arrogncia e interferncia. extremamente impro-
vvel que isto venha a acontecer, uma vez que os
Estados Unidos continuam a demonstrar que o
hemisfrio ocidental se inclui na sua rea de
influncia. Se os Estados latino-americanos vo
continuar a aceitar esta postura outra questo e
poder bem ser que, no longo prazo, a Doutrina
Monroe se torne um dos calcanhares de Aquiles dos
Estados Unidos.
DUALISMO 71
DUALISMO
O dualismo (ou corrente dualista) surge no mbito
da questo relativa s relaes entre o Direito
Internacional e o Direito Interno dos Estados, defen-
dendo (por oposio ao monismo) a independncia
entre as ordens internacional e interna. Segundo esta
perspectiva que hoje em dia tem uma pequena
expresso na doutrina , as normas de Direito
Internacional no se aplicam na ordem interna (e
vice-versa), tendo de ser transformadas em actos
internos para que os respectivos contedos vigorem.
O dualismo admite e defende portanto a possibilidade
de as autoridades nacionais acolherem apenas e s
as regras internacionais cujos contedos materiais
lhes aprouverem (atravs da consagrao constitu-
cional de uma clusula de transformao no regime
que regula as relaes entre o Direito Internacional
e o Direito Interno). No h portanto, no dualismo,
qualquer possibilidade de conflito de regras (inter-
nacionais e internas) j que a vigncia ou aplicao
das respectivas regras nunca simultnea.
Em todo o caso, a querela monismo-dualismo, que
tradicionalmente merecia no mbito do Direito
Internacional uma ateno importante, tem, hoje em
dia, tendncia para perder essa posio, j que na
doutrina e jurisprudncia internacionais se chegou
a um regime de convergncia que, por um lado,
afirma a obrigao dos Estados de adequarem a sua
ordem interna ao cumprimento das suas obrigaes
internacionais (no que se aproxima do monismo com
primado do Direito Internacional), admitindo todavia
que o incumprimento dessas obrigaes no implica
a nulidade dos actos que consubstanciem esse incum-
primento, mas to-s a responsabilizao internacio-
nal pelos danos da resultantes.
DUPLA OU MLTIPLA ACREDITAO
Consiste na nomeao (pelo Estado acreditante) de
um chefe de misso ou de qualquer membro do pes-
soal diplomtico perante dois ou mais Estados. A
dupla ou mltipla acreditao tem de ser notificada
e apenas se consuma no havendo oposio.
o ambiental, eroso dos solos, poluio e mudan-
as climticas. Deste modo, a ecopoltica, com um
peso crescente nas agendas internacionais, visa a
definio de regras comuns baseadas em valores
como o da conservao, produo controlada e equi-
dade.
EFEITO DIRECTO
Caracterstica de determinadas normas ou diplomas
internacionais, segundo a qual, excepcionalmente,
estas produzem efeitos na esfera jurdica dos parti-
culares e, por isso, so susceptveis de serem invo-
cadas por estes perante os tribunais nacionais para
aplicao. A questo pois a da oponibilidade das
regras internacionais s autoridades, pelos particu-
lares.
Segundo o Direito Internacional clssico, as regras
internacionais apenas tinham como destinatrios os
Estados, pelo que o efeito directo era recusado. No
entanto, o Tribunal Permanente de Justia Interna-
cional admitiu no incio do sculo XX o efeito directo
dos acordos internacionais, desde que essa tenha sido
a inteno das partes.
Esta doutrina ser posteriormente assimilada no
Direito Comunitrio, que a desenvolveu reconhe-
cendo-a j no apenas em relao aos tratados, mas
tambm em relao ao direito derivado.
ELITE
O termo elite designa um conjunto de pessoas dota-
das de competncias e realizaes excepcionais numa
determinada prtica social, sendo por isso conside-
radas como as melhores nessa actividade (elite cien-
tfica, desportiva, poltica, militar, econmica, etc.).
Para Pareto, a noo de elite implica o sucesso no
desempenho de um ramo de actividade a elite a
classe daqueles que tm os ndices mais elevados nos
ramos onde desempenham a sua actividade.
O autor defende que a incessante circulao das
elites contribuiria para o equilbrio da ordem social.
Se para Weber, a elite um grupo de status defi-
nido a partir do poder, sobretudo para Mills (1956)
que a elite do poder coloca o problema da legiti-
midade. Tanto Weber como Mills, contrariamente a
Marx, consideram que o domnio poltico mais
ECONOMIA
Cincia da escassez. Cincia que consiste na utili-
zao de recursos que so escassos, teis e suscep-
tveis de aplicaes alternativas, para a satisfao das
necessidades que so ilimitadas.
Conjunto de agentes econmicos (famlias e
empresas) repartido por vrios sectores de actividade
e do Estado, organizado de acordo com um conjunto
de normas, e cujo objectivo produzir riqueza.
Anlise dos efeitos dos actos humanos agrupados
nas categorias genricas da produo, troca e con-
sumo. A natureza e magnitude destes actos e as suas
implicaes para o bem-estar individual e social cons-
tituem o objecto da economia e das prescries em
termos de polticas que os economistas fazem.
O objectivo-base de toda a actividade econmica
alcanar o maior nvel possvel de consumo, bens
e servios compatvel com o fornecimento de recur-
sos humanos e materiais existentes para os produ-
zir/satisfazer.
A escassez de recursos humanos e materiais, como
evidenciado na existncia de preos, impe a neces-
sidade de alocar recursos de acordo com usos alter-
nativos correntes e futuros. A escolha , portanto, a
essncia da deciso econmica.
O termo economia nacional descreve as inter-rela-
es entre os nveis de emprego, produo e consumo
de bens e servios, e preos num pas.
A Economia de Empresa pode definir-se como a
cincia da administrao empresarial, e a Economia
Informal diz respeito s transaces econmicas
ocorridas fora da esfera normal dos empregos remu-
nerados.
ECOPOLTICA
No contexto das Relaes Internacionais, a ecopol-
tica refere-se relao entre os seres humanos e o
seu ambiente biolgico e fsico. Refere-se, em par-
ticular, ao desafio resultante da combinao do cres-
cimento da populao mundial e dos desenvolvi-
mentos tecnolgicos que ameaam o equilbrio dos
ecossistemas vitais da terra. Os temas ecolgicos
ultrapassam fronteiras e tm tido um impacto cres-
cente nas polticas dos Estados, face a problemas
como a escassez de alimentos e recursos, degrada-
E
EMBARGO
Sano atravs da qual um Estado, um grupo de
Estados ou a comunidade internacional, proibindo
as exportaes e importaes para outro pas,
procura constranger e submeter outro Estado,
normalmente considerado agressor ou violador de
normas internacionais, ou de uma obrigao inter-
nacional. O embargo tem-se revelado ineficaz
quando os seus objectivos visam mudanas de
regime (Fidel Castro, Milosevic) ou de poltica (aparth-
eid).
EMENDA
Modificaes introduzidas nas disposies das
convenes, implicando uma alterao parcial do
regime. essa parcialidade que distingue a emenda
da reviso, a qual incide sobre a totalidade das
disposies convencionais. A distino clara na
Carta das Naes Unidas, mas todavia no resulta do
texto da Conveno de Viena de 1969, que faz refe-
rncia aos processos de reviso e modificao. As
emendas so admitidas, em regra, nos termos pre-
vistos na conveno ou com o consentimento das
partes.
EMOTICON
Utilizao de caracteres para representar emoes,
por exemplo um sorriso :-). So usados habitual-
mente na troca de mensagens de correio electrnico,
nos IRCs e fruns de discusso.
EMPRESA
Conjunto de factores de produo reunidos sob a
autoridade de um indivduo (empresrio) ou de um
grupo, com o objectivo de realizar um rendimento
monetrio atravs de bens ou de servios. A empresa
distingue-se do estabelecimento (fbrica, manufac-
tura, loja, sucursal, agncia), cujo contedo pura-
mente tcnico. Uma empresa pode possuir um ou
mais estabelecimentos, bem como ser denominada
por sociedade ou firma comercial.
ENCLAVE
Territrio de um Estado rodeado pelo territrio de
outro Estado. Por exemplo, So Marino um enclave,
rodeado pelo territrio italiano.
ENTENTE
Termo diplomtico que se refere a um entendimento
entre dois ou mais Estados e que distinto de um
tratado ou aliana formal. Geralmente, as ententes
so compromissos pouco detalhados.
74 ELITISMO DEMOCRTICO
determinante do que o econmico (a posse da pro-
priedade) para a existncia das elites. Mills caracte-
riza a elite do poder como sendo a que detm um
conjunto de papis estratgicos, unidos por uma
coincidncia de interesses comuns e semelhanas da
situao social. uma elite composta, nos Estados
Unidos da Amrica, e segundo Mills, pelos dirigen-
tes das trs grandes hierarquias institucionais: elite
poltica, elite econmica e elite militar. O que sig-
nifica a concentrao do poder e da informao numa
elite restrita, que ocupa os postos de comando estra-
tgico da estrutura social: Estado, empresas e foras
armadas. Ora, hoje, considera-se que as elites das
sociedades industriais se apresentam sob a forma de
um complexo militar e industrial, econmico-indus-
trial, ou intelectual e poltico.
Entre os diversos problemas sociolgicos que se
colocam em torno da questo das elites temos: a com-
posio destes grupos, modalidades de recrutamento,
perfil, legitimidade, papel social, funes e a sua
cultura prpria. A maioria dos socilogos esto de
acordo sobre um ponto: pode distinguir-se no inte-
rior da elite ou das elites um subgrupo, o qual cor-
responde parte da elite ou das elites que detm
um poder directo ou uma influncia sobre o sis-
tema social. Quanto a falar-se de elite ou elites as
opinies divergem. No que respeita colaborao
das elites para a manuteno do sistema, ou s riva-
lidades entre as elites, as teorias tambm se diver-
sificam.
No se pode confundir elite com classe esta,
nunca faz referncia qualidade dos seus membros
e muito menos, com aristocracia, uma vez que, ao
contrrio desta, a elite encontra-se em permanente
renovao.
As elites dirigentes so aquelas que, no seio de cada
esfera de actividade, poltica, administrativa, eco-
nmica e das ideias, detm funes de direco. Na
poltica, por exemplo, nem todos os profissionais per-
tencem a tal categoria: os deputados, os prprios pre-
sidentes dos grupos parlamentares, embora perten-
cendo s elites polticas do pas, no podem ser con-
siderados dirigentes. O interesse precoce pela pol-
tica, o ambiente social privilegiado e um nvel de ins-
truo elevado constituem algumas das caracters-
ticas dos membros das elites polticas (Chagnollaud).
Em suma, as elites dirigentes so recrutadas de
uma parte restrita da sociedade, o que leva cer-
tos autores a duvidarem de que as elites polticas
representem os interesses da sociedade a que per-
tencem.
ELITISMO DEMOCRTICO
Teoria dos limites da democracia que defende que a
participao democrtica em sociedades complexas
est necessariamente limitadas s eleies regulares
dos lderes polticos.
EMBAIXADA
Misso diplomtica
75
Quando aprecia segundo a equidade, o julgador
tem maior margem de manobra, podendo afastar
regras de direito positivo (que no se afigurem equi-
tativas), podendo integrar lacunas enunciando
regras, e podendo ainda decidir segundo critrios no
exclusivamente jurdicos (nomeadamente segundo
critrios de oportunidade que contribuam para uma
soluo equitativa). O julgador deixa pois de limitar
a sua apreciao mera aplicao da lei, devendo
entrar em considerao com outros critrios que
assegurem a correco (fairness) e a justia.
esta considervel margem de manobra que jus-
tifica a necessidade do consentimento das partes para
que o Tribunal Internacional de Justia aprecie nes-
tes termos.
Nem o Tribunal Permanente de Justia Internacio-
nal nem o Tribunal Internacional de Justia apre-
ciaram qualquer das questes que lhes foram sub-
metidas segundo critrios de equidade (ex aequo et
bono); no obstante, esta foi e usada noutras ins-
tncias judiciais e arbitrais.
ERRO
Causa de nulidade relativa das convenes inter-
nacionais. Consiste numa prefigurao incorrecta da
realidade, sendo que apenas releva o erro que incida
sobre um elemento essencial (a base do negcio), e
nessa medida insusceptvel de obrigar a(s) parte(s)
luz dos princpios da boa-f. nesse sentido que
o regime vigente recusa a invocabilidade quando o
Estado tenha contribudo para o erro, ou sempre que
se devesse ter apercebido dele. Acresce que no releva
o erro se o Estado estava em posio capaz de o evitar.
O erro apenas causa de nulidade de uma conven-
o internacional enquanto for desculpvel, situao a
caracterizar em termos estritos, j que no releva por
exemplo, uma eventual inexperincia diplomtica.
O erro essencial ser em princpio o erro que incide
sobre factos. No obstante, a jurisprudncia inter-
nacional parece inclinada a aceitar tambm a rele-
vncia do erro de direito.
ESCOLA INGLESA
English School
Escola fundada nos finais da dcada de 1950, com-
posta por historiadores, tericos e praticantes das
Relaes Internacionais, que imprimiu uma marca
distintiva na abordagem da disciplina. Os seus prin-
cipais fundadores foram Martin Wight e Hedley Bull,
que partindo tambm de uma perspectiva sistmica,
distinguiram-se da abordagem americana ao cen-
trarem a sua formulao terica no conceito de socie-
dade internacional e ou mundial, em vez do conceito
mais tradicional de sistema internacional. Para a
Escola Inglesa, o objecto de estudo das Relaes
Internacionais deve centrar-se na sociedade inter-
nacional, ou seja, mais do que um simples sistema
de interaco entre unidades, existe uma sociedade
internacional que precisa de ser analisada. Deste
modo, sistema significa simplesmente o contacto
ENTRADA EM VIGOR DAS CONVENES INTERNACIONAIS
ENTRADA EM VIGOR DAS
CONVENES INTERNACIONAIS
As convenes entram em vigor na data que elas pr-
prias determinarem (o que constitui a prtica mais
geral).
As convenes bilaterais so normalmente precisas
nesse ponto, indicando uma data ou fazendo refe-
rncia ao dia da assinatura, troca de instrumentos
de vinculao, etc. Nas convenes multilaterais, a
dificuldade de precisar datas concretas levou adop-
o de critrios mais ou menos flexveis, como seja
a partir do depsito do instrumento de vinculao
de um determinado nmero de Estados.
No tendo sido especificada a data, presume-se ser
vontade das partes que a entrada em vigor coincida
com o depsito do ltimo instrumento de vincula-
o. Admite-se tambm, dentro de determinadas exi-
gncias, a entrada em vigor provisria.
EPIROCRACIAS
Civilizaes continentais. Segundo Henri Pirenne,
estas civilizaes so introvertidas, vivendo voltadas
para dentro, para os seus prprios valores, que subli-
nham e estimulam. Cultivam a ideia de superioridade
sobre as outras evitando e recusando as aculturaes.
So sociedades constitudas por grupos sociais
fechados com uma estrutura coesa, exclusivamente
nacional. O indivduo submete-se ao grupo, e este
pratica uma intolerncia e disciplina fanticas. Por
isso o poder centralizado e autocrtico, tendendo
para o despotismo. A sua riqueza reside na terra, na
posse de bens de raiz, transmitidos de forma rgida
e, por isso, criando cls dominantes. A sua expanso
por conquista e dando lugar ao satelitismo com
vocao para a incorporao final dos povos con-
quistados. A sua relao com outros povos faz-se de
forma rgida e prxima, provocando escassas mudan-
as culturais.
EQUIDADE
No direito britnico, a equidade consistia num meca-
nismo que permitia corrigir excessos ou a inflexibi-
lidade da common law, a qual, por exemplo, no reco-
nhecia o instituto da proibio do enriquecimento
sem causa.
A equity constituiu pois um sistema jurdico aut-
nomo, o qual em algumas situaes prevalecia sobre
a common law e assentava em princpios de correc-
o (fairness) susceptveis de reconduzir a actividade
judiciria da efectiva realizao da Justia.
No direito romano-germnico a ideia de equidade
decorre fundamentalmente da equitas, que consis-
tia num modo de interpretao das regras jurdicas.
A equidade acolhida entre as fontes de Direito
Internacional (por via da referncia no artigo 38. do
Estatuto do Tribunal Internacional de Justia apre-
ciao ex aequo et bono pelo julgador), numa pers-
pectiva que acolhe de alguma forma influncia de
ambas as vises.
vista a criar um Espao Econmico Europeu homo-
gneo, a seguir designado EEE.
O fim prosseguido pelo Acordo era, pois, o da cria-
o de um grande espao econmico e comercial
de 380 milhes de pessoas, representando mais de
45% do comrcio mundial e cerca de 30% da pro-
duo mundial.
Alm disso, este espao constituiu, em grande
parte, a antecipao do futuro espao comunitrio,
dado que, dos Estados da EFTA, a ustria, Sucia,
Finlndia e Noruega requereram a abertura de nego-
ciaes para a sua adeso s Comunidades, tendo con-
cretizado a adeso em 1 de Janeiro de 1995, com
excepo da Noruega.
A fim de alcanar os objectivos definidos, a asso-
ciao preconiza: a livre circulao de mercadorias,
pessoas, servios e capitais; o estabelecimento de um
sistema que assegure a no distoro da concorrn-
cia e o respeito das respectivas regras; e uma cola-
borao mais estreita noutros domnios, tais como
a investigao e o desenvolvimento, o ambiente, a
educao e a poltica social.
O carcter indito do EEE retrata-se no facto de
nele vir a ser aplicada a ordem jurdica das Comunida-
des Europeias, especialmente em matria das quatro
liberdades e do direito da concorrncia, e de ter de
se levar a cabo uma interpretao to uniforme quanto
possvel do acordo com o direito comunitrio.
ESPAO PBLICO
O conceito de espao pblico um conceito opera-
trio da investigao sociolgica, assumindo contudo
diversas utilizaes. O pblico antes do mais o que
comum, portanto o oposto do privado, oposio esta
que remonta cidade grega. Na modernidade, a noo
de espao pblico assume contudo outras acepes.
Com as Luzes, e especificamente com Kant, a noo
de vida pblica passa a estar ligada noo de publi-
cidade e de uso pblico da razo. Esta acepo liga
pblico a tornar pblico. O princpio da publicidade,
formulado por Kant, consiste em tornar pblicas as
suas opinies, submetendo-as apreciao do juzo
tanto esttico como poltico, ou seja prova do exame
pblico da razo. A publicidade , neste sentido, o
princpio que estrutura o espao pblico moderno,
remetendo para o uso livre e pblico da razo.
A emergncia do pblico como instncia superior
do juzo est assim na origem da noo de opinio
pblica: opinio verdadeira como diz Habermas
regenerada pela discusso crtica na esfera pblica.
O princpio da publicidade, que veio opor-se pr-
tica de segredo do Estado absoluto e que um prin-
cpio normativo, , juntamente com a opinio
pblica, o princpio do espao pblico moderno. A
partir da segunda metade do sculo XX, Habermas
distingue duas formas de publicidade em concor-
rncia no espao pblico: a publicidade crtica (de
acordo com o modelo do princpio da publicidade)
e a publicidade de demonstrao e de manipulao,
que se imps sobretudo atravs dos meios de comu-
nicao de massa.
ESCOLA TRADICIONAL 76
entre Estados e o impacto de um Estado num outro
Estado, enquanto sociedade significa interesses e
valores comuns, bem como regras e instituies
comuns. Assim, a Escola Inglesa refere-se a uma
society of states, e no a um sistema internacional.
Diferentemente do mainstream americano, que
defendia que o estudo da histria e o desenvolvimento
de teorias era incompatvel, a Escola Inglesa reco-
nhece que mesmo atravs da histria possvel
encontrar padres de comportamento. A Escola
Inglesa foi particularmente sensvel ao efeito que
designaram por Wig Interpretation (Butterfield), ou
seja, a tendncia dos historiadores em interpretarem
o passado luz do presente. Ao contrrio, a Escola
Inglesa defendeu que os historiadores devem
demonstrar quo diferente o passado relativamente
ao presente. A Escola Inglesa criticou o historicismo,
e defendeu a existncia de diferentes padres de com-
portamento dos sistemas internacionais ao longo da
histria at chegarmos ao sistema de Estados con-
temporneo. Assim, o sistema das cidades-Estado na
Grcia, ou o sistema de cidades-Estado na Itlia, foram
diferentes do sistema de Estados europeu moderno.
Para a Escola Inglesa, a compreenso dos sistemas
internacionais s pode ser eficazmente conseguido
atravs da conjugao do estudo da histria e do
mtodo comparativo. Foi, todavia, a sua viso terica
que mais a singularizou. A Escola Inglesa pressupe
que para compreender os padres de comportamento
que emergem num sistema, necessrio compreender
as ideias culturais que alimentam as aces dos acto-
res que operam no sistema. A Escola Inglesa evita o
eurocentrismo, o historicismo, o presentismo, a anar-
cofilia e o Estado-centrismo. Para a Escola Inglesa, a
compreenso dos sistemas internacionais ter sempre
que ter em conta, de forma simultnea, a anlise de
elementos anrquicos, societrios e transnacionais.
ESCOLA TRADICIONAL
A Escola Tradicional ou Tradicionalismo, por oposi-
o ao Behaviorismo, centra a sua anlise das
Relaes Internacionais numa perspectiva legal, filo-
sfica e histrica, defendendo a utilidade destas cin-
cias Direito, Filosofia, Histria como mtodos de
inqurito. No reconhece, por isso, as relaes inter-
nacionais como uma cincia autnoma.
ESPAO ECONMICO EUROPEU (EEE)
Common European Economic Space (CEES)
Acordo de Associao entre os doze pases da CEE
e os pases da EFTA (European Free Trade Associa-
tion), assinado no Porto, em 1992. Entrou em vigor
em Janeiro de 1994, no se aplicando Sua que o
rejeitou em referendo.
No artigo 1. do Acordo estabelece-se que o objec-
tivo o de promover um reforo permanente e equi-
librado das relaes comerciais e econmicas entre
as partes contratantes, em iguais condies de con-
corrncia e no respeito por normas idnticas, com
cessos de formao da opinio. As novas tecnologias
da comunicao difundem diferentes discursos em
diversos contextos e ajudam criao duma rede dife-
renciada de espaos pblicos locais e inter-regionais,
literrios, cientficos e polticos, internos aos parti-
dos ou s associaes, mediticos ou subculturais.
Estes espaos pblicos plurais e inacabados, como
considera Habermas, e de fronteiras permeveis, cru-
zam-se entre si e remetem para um espao pblico
global. Estamos por isso face a um modelo pluralista
de espaos pblicos, a ter em conta numa teoria da
democracia.
ESTADO (SOBERANO)
A figura do Estado central na anlise poltica e jur-
dica. Na perspectiva da primeira, salienta-se fre-
quentemente tratar-se da nao politicamente orga-
nizada (muito embora a ideia de o Estado correspon-
der nao seja muito mais um pressuposto do que
uma realidade, j que so raros os casos em que se
pode confirmar tal situao; pelo contrrio, a maio-
ria dos Estados maxime europeus so plurina-
cionais).
Segundo Marcello Caetano, o Estado constitudo
por um povo fixado num territrio, de que senhor,
e que, dentro das fronteiras desse territrio, insti-
tui, por autoridade prpria, rgos que elaborem as
leis necessrias vida colectiva, e imponham a res-
pectiva execuo.
O Estado moderno, embora com antecedentes na
cidade-Estado grega e na repblica romana, apenas
se constituiu no sculo XVI, durante o Renascimento.
O Estado pode ser unitrio (Portugal) ou federado,
isto , composto de Estados federados (Brasil, EUA,
etc.).
O aparecimento do Estado marca uma transio
chave na histria da humanidade, na medida em que
a centralizao do poder poltico, que a formao de
um Estado implica, introduz novas dinmicas nos
processos de mudana social.
Actor nico at ao sculo XIX, o Estado permanece,
ao presente, como o actor principal das Relaes
Internacionais, onde continua a ocupar um lugar
central, determinante, apesar da concorrncia cres-
cente de que alvo por parte de outros actores.
Tambm no plano jurdico o Estado surge como
figura central, embora se reconhea este como um
fenmeno histrico, sociolgico e poltico em rela-
o ao qual o Direito se limita a definir os critrios
de criao, transformao e desaparecimento.
No existindo regras relativas atribuio da per-
sonalidade ou da capacidade jurdicas aos Estados,
a criao deste decorre da reunio dos seus elementos
constitutivos: povo, territrio e poder poltico sobe-
rano.
O povo corresponde comunidade (humana) que
constitui o substracto bsico da formao estadual.
Subsistem outras noes concorrentes para designar
essas comunidade, maxime a de nao e a de popu-
lao. Todavia, enquanto que aquela tende a valori-
zar excessivamente a identificao histrica, tnica
ESTADO (SOBERANO) 77
Para Habermas, o espao pblico designa o lugar
de formao das opinies e da discusso poltica que
garante a legitimidade do poder. o lugar do debate
e do uso pblico da razo argumentativa, onde so
discutidas as questes prticas e polticas. Esta acep-
o remete para o modelo normativo da esfera pblica
liberal. O espao pblico um espao de discusso
e simultaneamente um conceito normativo, cujos
domnios de utilizao so: a teoria da democracia
(o espao pblico o quadro no qual se discutem as
questes prtico-morais e polticas, e no qual se for-
mam a opinio e a vontade colectivas); a anlise pol-
tico-administrativa e a teoria do Estado social (o
espao pblico a instncia mediadora entre a socie-
dade civil e o Estado, entre os cidados e o poder pol-
tico-administrativo); a abordagem dos meios de
comunicao social (o espao pblico o lugar de
uma comunicao democrtica, em que os meios de
comunicao desempenham um lugar central).
Enquanto, para Habermas, a concepo do espao
pblico gira em torno do uso crtico de uma racionali-
dade comunicativa em vista de uma intercompreen-
so, que ser a base de um consenso alargado, tienne
Tassin, por seu lado, privilegia a fenomenalidade do
aparecer e a visibilidade da cena pblica. Acepo esta
que aproxima a noo de espao pblico noo de
cena pblica, entendida como cena de visibilidade na
qual as coisas aparecem, de acordo com o carcter
fenomenal do espao pblico de Hannah Arendt.
Com efeito, Tassin liga a dimenso da formao da
opinio e do juzo dimenso de visibilidade do
espao pblico. Tassin, como Hannah Arendt, con-
sidera o domnio pblico como espao de visibilidade
e lugar de formao do juzo: o pblico menos o
estar-em-comum da comunidade, do que um espao
de visibilidade (a dimenso do visvel da polis) e o
lugar de formao do juzo. O espao pblico no
est do lado das convices, est do lado do que se
apresenta pluralidade dos juzos pblicos. A polis
exige um espao pblico e a instituio do cidado
como juiz, como exige uma cena pblica e a insti-
tuio do cidado como actor. Do mesmo modo, a
visibilidade o nico critrio da aco poltica
(Tassin). assim que no domnio poltico o critrio
a avaliao e o julgamento das aces, e a aco
poltica aquela que visvel e se liga a princpios
( virtude, liberdade, igualdade, honra, solidariedade,
etc.). Isto significa que a dimenso cnica da vida
social indissocivel de uma recepo por parte de
um pblico, ou seja do julgamento do pblico.
Nesta acepo, que liga pblico a visvel, remetendo
para o modelo histrico da esfera pblica represen-
tativa, o espao pblico respeita os lugares pblicos
em que, segundo o modelo teatral, os actores repre-
sentam o seu papel de homens pblicos, segundo as
convenes que orientam a vida em pblico ou as
relaes em pblico (Goffman; Sennett). Pode con-
siderar-se que, tratando-se de uma concepo cnica
e dramatrgica, a utilizao do conceito de espao
pblico reenvia para o estudo socioantropolgico da
vida pblica e das relaes em pblico.
Actualmente, pode falar-se de uma multiplicidade
de espaos pblicos, que institucionalizam os pro-
ESTADO ACREDITADOR
Aquele que exerce o direito de legao passivo, ou
seja, aquele em cujo territrio se estabelece uma
misso diplomtica.
ESTADO ACREDITANTE
Aquele que exerce o direito de legao activo, ou seja,
aquele que estabelece no territrio de outro Estado
uma misso diplomtica sua.
ESTADO ANTECESSOR
Ocorrendo uma sucesso sempre que um Estado
substitudo por outro na responsabilidade das Rela-
es Internacionais de um territrio, o Estado ante-
cessor aquele que substitudo, ou seja, aquele que
assumia as obrigaes antes de ocorrer a sucesso.
ESTADO CONFEDERADO
Estado membro de uma confederao (ou de um
Estado confederal). Normalmente os Estados con-
federados mantm a personalidade jurdica interna-
cional (consistindo a confederao numa mera
associao), transferindo ou no para o nvel confe-
derado, parte das suas competncias internacionais.
Se assim acontece, o Estado confederado considera-
-se semi-soberano (na medida em que no exerce a
plenitude das funes soberanas). no entanto cor-
rente que o Estado confederado mantenha a tota-
lidade das prerrogativas soberanas. Sendo as con-
federaes formadas por via convencional, a aferio
da personalidade jurdica e qualidades das partes deve
fazer-se por verificao dos termos da conveno.
ESTADO CONFEDERAL
Designao equivalente de confederao, corres-
pondendo portanto agregao de Estados (desig-
nados como confederados). A confederao refere-se
a um grau de integrao inferior federao, na qual
as partes mantm o essencial das competncias
internacionais. Enquanto modelo, a confederao
apresenta uma limitao importante, na medida em
que nenhuma subsistiu historicamente por perodos
importantes, sendo que as mais conhecidas as con-
federaes americana e sua vieram a evoluir para
federaes (este ltimo Estado mantm todavia a
designao original de Confederao Helvtica).
ESTADO EXGUO
Uma das figuras tpicas de Estado semi-soberano,
caracterizada pela reduzida dimenso do seu terri-
trio e populao as quais tornam particularmente
difcil a assuno da totalidade das suas funes sobe-
ranas internacionais, pelo que, parte destas (nor-
malmente as relativas defesa e eventualmente tam-
bm no plano diplomtico) so transferidas, por
ESTADO ACREDITADOR 78
ou cultural (no que d origem a fenmenos de exa-
cerbamento pouco consentneos com a perspectiva
actual), esta (populao) tende a ficar aqum dessa
noo comunitria, assentando essencialmente no
critrio da residncia, o qual no claramente sufi-
ciente.
O problema da determinao do povo (ou seja, da
comunidade humana) apenas se torna complexo
antes de formao do Estado, e normalmente
para efeitos dessa mesma formao, j que o direito
autodeterminao dos povos se encontra definiti-
vamente consagrado no Direito Internacional. Aps
a afirmao do Estado, a determinao dessa comu-
nidade faz-se por via do vnculo da nacionalidade (ou
seja, reverte para a questo jurdica desse regime).
Quanto ao territrio, deve salientar-se que este
remetendo para a dimenso espacial na qual se desen-
volvem comunidades humanas de forma estvel desde
a sedentarizao e que abrange o territrio terrestre,
as vias aquticas, o mar territorial e, bem assim, o
espao areo constitui um elemento central na
determinao dos outros elementos, j que os cri-
trios mais importantes de determinao do povo de-
rivam das relaes com o territrio (por fora da refe-
rida sedentarizao), e o poder poltico soberano
exercido fundamentalmente numa base territorial
(supostamente at de forma homognea dentro dos
limites que esse territrio assuma).
O territrio no tem todavia de assumir um carc-
ter absolutamente estvel, j que para a criao e
manuteno dos Estados se admitem situaes de dis-
puta territorial, que so alis muito frequentes em
quase todos os Estados.
O poder poltico soberano implica um grau de
organizao social em que desde logo seja pos-
svel distinguir (por fora da autonomizao) entre
a comunidade e as partes que a compem, ou seja,
dever subsistir um corpo de representantes capa-
zes no apenas de representar a comunidade
nacional mas tambm de garantir o cumprimento
das obrigaes assumidas em nome desta. Impl-
cito est por isso, um mnimo de efectividade e a
capacidade de manter a ordem e a segurana no ter-
ritrio.
Em termos internacionais, tradicionalmente
consideram-se como manifestaes do poder sobe-
rano o direito de fazer a guerra (ius belli), o direito
de celebrar tratados ou convenes (ius trac-
tuum) e o direito de enviar e receber representaes
diplomticas (ius legationis), podendo ainda
referir-se o direito de reclamar internacionalmente
(considerada por alguma doutrina nomeadamente
por Wengler a capacidade mnima de qualquer
sujeito).
Na actualidade dessas manifestaes apenas o ius
belli parece permanecer uma competncia exclusi-
vamente estadual, j que apenas aos Estados per-
mitido manterem foras armadas (mesmo assim,
num quadro de proibio genrica do recurso fora
resultante da Carta das Naes Unidas). Tanto o ius
legationis como o ius tractuumso hoje em dia exer-
cidos de forma mais ou menos extensa por todos os
sujeitos de direito internacional.
ESTADO LIMTROFE
O Estado limtrofe o Estado vizinho do Estado ex-
guo, para o qual este transfere o exerccio de deter-
minadas competncias internacionais, (e normal-
mente admite tambm o desenvolvimento de algu-
mas competncias internas, relativas a servios que
a reduzida dimenso torna economicamente pouco
viveis).
ESTADO-NAO
Tipo particular de Estado, caracterstico do mundo
moderno, simbolizado pelos Tratados de Vesteflia
(1648), no qual um governo detm a soberania de um
territrio definido e onde a grande maioria da popu-
lao constituda por cidados que tm conscin-
cia de pertencerem a uma nica nao que confere
o seu apoio ao Estado, independentemente do seu
regime poltico, desde que surge um conflito com
outro Estado. Os Estados-nao esto associados ao
aparecimento do nacionalismo, embora os nacio-
nalistas nem sempre estejam de acordo com as fron-
teiras dos Estados que hoje existem. Os Estados-
-nao desenvolveram-se como parte de um sistema
emergente e abrangente na Europa, mas no so
especificamente europeus ou de origem europeia. O
Japo e a Tailndia, por exemplo, so Estados-nao
muito antigos.
ESTADO NEUTRAL
A neutralidade do Estado neutral especfica, refe-
rindo-se a um conflito determinado, em relao ao
qual esse Estado pretende abster-se. Nada impede o
Estado que se pretende neutral num dado conflito,
de participar num outro conflito, at simultanea-
mente. Nessa medida, a neutralidade no implica
qualquer limitao das competncias soberanas, pelo
que o Estado neutral enquanto tal, plenamente
soberano.
ESTADO NEUTRALIZADO
Estado semi-soberano cujo estatuto internacional
decorrente de uma opo constitucional prpria
(Sua, ustria, Laos), de um tratado internacional
(Blgica e Luxemburgo) ou de um regime consue-
tudinrio (Sua) , implica a proibio da partici-
pao em qualquer conflito armado, excepo dos
casos de legtima defesa.
A limitao das prerrogativas internacionais incide
aqui essencialmente no ius belli e marginalmente
no ius tractuum (no podendo celebrar convenes
em matria de defesa nem participar em organiza-
es internacionais com esse escopo).
ESTADO PROTECTOR
O Estado que nos termos de uma conveno, est
obrigado a defender o Estado protegido de qualquer
ESTADO FEDERADO 79
acordo, para o Estado limtrofe que as exerce em
sua representao ou assegura esse exerccio. fre-
quente que para alm das funes internacionais, o
Estado limtrofe possa tambm desenvolver no
Estado exguo alguns servios pblicos, tais como,
correios e telecomunicaes, transportes ferrovirios,
etc. Os casos mais conhecidos so os do principado
do Mnaco (cujo Estado limtrofe a Frana) ou a
Repblica de San Marino (tendo a Itlia como Estado
limtrofe).
No deve confundir-se o Estado exguo com
outros Estados que, padecendo da mesma exi-
guidade, no transferem o exerccio de quaisquer
competncias internacionais para outro Estado, pelo
que permanecem soberanos. Estes so normal-
mente designados por micro ou mini-Estados,
situando-se uma boa parte destes nas Carabas e no
Pacfico, podendo tambm ser referido, na Europa,
o caso de Andorra.
ESTADO FEDERADO
Estado membro de uma federao (ou de um
Estado federal). Normalmente, os Estados federa-
dos perdem a personalidade jurdica internacional (o
nvel federal assume por via constitucional o con-
junto das competncias internacionais). Todavia, so
assinalveis historicamente situaes em que os
Estados-membros de uma federao mantm parte
das competncias soberanas (caso em que devero ser
considerados Estados semi-soberanos) e, por vezes
at, se arrogam qualidade soberana. Em concreto,
a questo apenas pode aferir-se por verificao do
regime constitucional.
ESTADO FEDERAL
Designao equivalente de federao, correspon-
dendo portanto agregao de Estados (designados
como federados), normalmente por via constitucio-
nal. Na federao pretende-se uma diviso equilibrada
de competncias entre os nveis federado e federal,
sendo que este normalmente assume a totalidade das
competncias internacionais (assinalem-se algumas
excepes importantes, de entre as quais avulta o caso
de algumas repblicas da ex-URSS, como a Ucrnia
ou a Bielorrssia que, por exemplo, sempre tiveram
representao na Assembleia Geral da ONU).
As federaes surgem quer em processos de agre-
gao em que Estados independentes se integram
transferindo as necessrias competncias (como nos
casos americano, suo ou sovitico), quer de desa-
gregao em que um Estado centralizado, normal-
mente pretendendo enquadrar tendncias fragment-
rias, reconhece por via constitucional um elevado
grau de autonomia s partes ( o caso mais corrente
na Histria, podendo referir-se o Brasil, a Indonsia,
a ndia, a Austrlia, etc.).
A concreta distribuio de competncias entre os
nveis federal e federado (e nomeadamente das com-
petncias internacionais) deve ser verificada segundo
os termos constitucionais.
tpicas (ius belli, ius tractuum, ius legationis
e eventualmente tambm o direito de reclamao
internacional) conhecem limitaes.
So identificados como principais figuras de
Estado semi-soberanos o Estado vassalo, o Estado
protegido ou protectorado, o Estado federado, o
Estado confederado, o Estado neutralizado e o
Estado exguo.
ESTADO SUCESSOR
Tendo que a sucesso um fenmeno jurdico que
ocorre sempre que um Estado substitudo por outro
na responsabilidade das Relaes Internacionais em
relao a um territrio, o Estado sucessor aquele
que substitui o antecessor, ou seja, aquele que assume
as obrigaes aps a sucesso.
ESTADO SUSERANO
o Estado ao qual o Estado vassalo est subme-
tido por um lao medieval, segundo o qual este, ape-
sar de manter personalidade internacional, v o exer-
ccio de determinadas competncias internacionais
depender de autorizao. Para alm disso, a relao
de vassalagem impe tambm o pagamento de um
tributo. A figura da vassalagem existiu no mbito do
imprio otomano, sendo frequentemente referido no
quadro dos tipos de Estado semi-soberano.
ESTADO-TAMPO
Termo geopoltico que se refere a Estados pequenos
ou fracos, situados nas fronteiras de Estados mais
poderosos, e que do ponto de vista destes ltimos
funcionam como elementos de segurana interm-
dia. Antes do advento do poder areo, os Estados-tam-
po eram vistos como uma segurana contra hosti-
lidade directa ou ataques surpresa entre grandes
potncias. Apesar de no serem Estados-satlite, a sua
liberdade de aco era funo directa das necessi-
dades de segurana dos seus vizinhos poderosos. Por
exemplo, os Estados da Europa Central, e especial-
mente a Polnia, eram vistos no perodo entre guer-
ras como Estados-tampo entre a Alemanha e a Unio
Sovitica. Historicamente, os Estados-tampo acaba-
ram por contribuir para a manuteno da balana de
poder, ao reduzirem as possibilidades de conflito.
ESTADO VASSALO
Estado semi-soberano cuja capacidade interna-
cional est limitada na medida em que o exerccio
de determinadas competncias depende de autori-
zao do Estado suserano, impondo-se tambm o
pagamento de um tributo.
ESTAGFLAO
Termo de economia que surgiu no incio dos anos de
1970, descrevendo uma situao em que o desem-
ESTADO PROTEGIDO 80
ameaa ou agresso externa. Nas experincias his-
tricas de protectorados, tais como as de Marrocos
ou da Tunsia pela Frana, o Estado protector exer-
cia tambm algumas funes no plano interno, sendo
representado por um residente geral.
ESTADO PROTEGIDO
O Estado protegido ou Protectorado, consiste num
Estado que reconhecendo dificuldades em garantir
a sua defesa contra ameaas externas, obtm da parte
de uma potncia, por via convencional, uma garan-
tia de proteco.
O Estado protegido torna-se assim num Estado
semi-soberano, na medida em que as suas competn-
cias soberanas (em especial no mbito do ius belli)
so convencionalmente limitadas.
ESTADO PROVIDNCIA
Sistema poltico que garante um vasto leque de bene-
fcios sociais aos seus cidados.
Termo que se vulgarizou na Gr-Bretanha durante
a Segunda Guerra Mundial, em particular aps a
publicao do Relatrio Beveridge, em 1942, onde se
delineava um conjunto de medidas que assegurasse
o j existente direito a penso de velhice, mas tam-
bm o direito a subsdio de desemprego e de doena,
bem como uma srie de outras proteces financei-
ras, numa base regular.
Anteriormente, estes aspectos ou no tinham sido
abordados, ou eram-no de uma forma geralmente
inadequada (Robertson).
ESTADO RECEPTOR
Estado no qual instalado um posto consular.
Corresponde ao inverso do Estado que envia (aquele
que representado). Equivale no direito diplomtico,
ao Estado acreditador.
ESTADO SEM NAO
Tipo de Estados que, em virtude da grande diversi-
dade tnica e dos conflitos existentes entre os dife-
rentes grupos tnicos, tornam ineficaz a aco dos
governos, os quais, em vo apelam unidade da
nao. o caso de alguns Estados da frica negra,
delimitados por fronteiras artificiais, como, por
exemplo, o Ruanda ou o Burundi, em que a feroz riva-
lidade entre tribos torna impossvel o desenvolvi-
mento de um sentimento nacional.
ESTADO SEMI-SOBERANO
O Estado semi-soberano um sujeito de Direito
Internacional, sob a forma estadual, que muito
embora mantendo personalidade e capacidade jur-
dica internacional, admite, por alguma via, uma
limitao nesta. Assim, as competncias soberanas
Tipos de estratgia
Segundo alguns autores, podemos considerar trs
tipos de estratgia.
A nvel superior encontra-se a estratgia total,
competindo-lhe, por exemplo, determinar o conceito
estratgico de Defesa Nacional. Neste nvel, as tare-
fas de concepo e de coordenao predominam cla-
ramente sobre as de execuo. Esta da responsa-
bilidade do Chefe de Estado.
Num segundo nvel de deciso encontram-se as
estratgias gerais, cuja numerao e definio
dependem no s dos diferentes pontos de vista, mas
tambm da forma peculiar de organizao e funcio-
namento de cada unidade poltica. As estratgias
gerais so a psicolgica, a poltica, a econmica e a
militar. Cada uma delas recebe os seus prprios objec-
tivos finais e as suas misses da estratgia total. Estas
competem aos ministros que gerem os sectores
implicados. Neste nvel, as tarefas de concepo e
coordenao equilibram-se com as de execuo.
A um terceiro nvel, encontram-se as estratgias
particulares, subdivises das estratgias gerais, con-
forme a natureza dos diferentes meios, ou dos sec-
tores de aplicao. Quanto preparao e utilizao
dos meios, Abel Couto distingue trs tipos de estra-
tgia: a estratgia operacional, que trata da con-
cepo e execuo da manobra estratgica ao nvel
dos grandes subordinados; a estratgia gentica,
que tem por objecto a inveno, construo ou obten-
o de novos meios, a colocar disposio da estra-
tgia operacional, no momento adequado; e a estra-
tgia estrutural, que tem por objecto a deteco e
anlise das vulnerabilidades e potencialidades das
estruturas existentes e a concepo das correces
mais adequadas, ou de novas estruturas.
Quanto aos modos de aco, pode-se distinguir a
estratgia directa da estratgia indirecta. A
escolha de uma ou de outra depende da influncia
de quatro conjuntos de factores: objectivos, margem
de liberdade de aco, relao de foras e personali-
dade do estratego. Para o general Beaufre, a estra-
tgia directa uma concepo da estratgia funda-
mentada na procura da deciso, ou da dissuaso, atra-
vs do emprego ou da existncia de meios militares.
Por sua vez, a estratgia indirecta aquela em que
a deciso no procurada directamente pelo afron-
tamento de foras militares.
ESTRUTURA ECONMICA
Conjunto de formas e actos relaes entre as foras de
produo relativamente permanentes. A estrutura eco-
nmica consiste no conjunto das relaes durveis, num
certo territrio entre diversos elementos populao,
economia, ou sociedade e que evolui lentamente.
Qualquer mudana rpida significa crise ou ruptura.
ESTRUTURALISMO
Abordagem terica, derivada do estudo da linguagem
que procura identificar as estruturas de um sistema
social ou cultural.
ESTRATGIA 81
prego elevado, ou estagnao, coexiste com inflao
persistente. A sua explicao reside fundamental-
mente na inrcia caracterstica do processo infla-
cionista.
ESTRATGIA
Palavra de origem grega, composta pelo substantivo
stratos, que significava exrcito, com o verbo agein,
que significava agir ou conduzir, da qual resultaram
trs palavras: strategos, designao dada ao general,
comandante de um exrcito; strategia, que designava
a percia militar do general; e strategema, designando
o plano ou a aco do general. Ou seja, o strategema
era parte (ou resultado) da strategia, e esta, quali-
dade do strategos.
De acordo com o conceito clssico, entende-se que
o objecto da estratgia apenas a guerra, mas con-
sidera-se que aquela dever actuar em tempo de paz,
de forma a preparar a guerra, e que os meios a uti-
lizar, sendo fundamentalmente os militares, podero
ser tambm outros que os possam potenciar
(Raymond Aron).
Segundo Mead Earle, a estratgia trata da guerra,
da preparao para a guerra e do modo de travar a
guerra. Definida de maneira restrita, a arte do
comando militar, a arte de lanar e dirigir uma cam-
panha. A estratgia a arte de controlar e utilizar os
recursos de um pas, ou de uma coligao, inclusive
as suas Foras Armadas, a fim de promover e assegu-
rar efectivamente os seus interesses vitais contra os
seus inimigos actuais, potenciais, ou apenas supostos.
Por outras palavras, pode-se afirmar que a estra-
tgia a arte de empregar meios de coaco em
ambiente hostil, praticada pelos mais elevados esca-
les de deciso, para aquisio de objectivos fixados
pela poltica e disputados entre unidades polticas.
A estratgia considerada uma arte e uma cin-
cia. Enquanto aquisio e tratamento sistemtico de
conhecimentos, formulao de hipteses, sua veri-
ficao, elaborao de teorias, leis, princpios e con-
ceitos, a estratgia pode ser considerada uma cin-
cia descritiva. Enquanto prtica daquele conheci-
mento, tirando todo o partido da liberdade de aco
que o aleatrio sempre deixa no jogo aberto do duelo
das vontades e tendo a intuio, a inspirao, o gnio
e o estilo pessoal um papel muito importante, ser
ento uma arte.
Existem dois significados tcnicos possveis para
o conceito de estratgia, o poltico-militar e o empre-
sarial. Este, mais recente, inspirado no primeiro, nos
seus princpios e mtodos, mas diferente sob vrios
aspectos. Para a estratgia empresarial, os actores so
os directores ou os responsveis principais pela direc-
o de uma empresa, e colocam aquela ao servio dos
interesses dessa mesma empresa. No sentido origi-
nal do conceito, o poltico-militar, a estratgia, por-
que sendo sempre por definio abrangente e direc-
tora da totalidade do tempo e espao de uma guerra
ou de um conflito, s poder ser praticada por quem dis-
ponha da autoridade mxima para dirigir e coorde-
nar todos os esforos, todos os meios emprenhados.
EUROCORPS 82
EUROCORPS
O Eurocorps foi criado na 59. cimeira franco-alem,
realizada em Maio de 1992, em La Rochelle. Desde
ento, registou-se a adeso de trs outros Estados:
a Blgica (Junho de 1993), Espanha (Dezembro de
1993) e Luxemburgo (Maio de 1996). O Eurocorps
conta com 50 mil homens e est operacional desde
Novembro de 1995.
O Eurocorps inscreve-se no mbito das foras que
dependem da Unio da Europa Ocidental (UEO).
Pode intervir enquanto tal no mbito da UEO ou da
OTAN e efectuar misses humanitrias, misses de
evacuao de cidados e operaes de restabeleci-
mento ou de manuteno da paz sob a gide das
Naes Unidas ou da OSCE. A mobilizao do Euro-
corps sob o controlo poltico da UEO foi objecto de
um acordo concludo em Setembro de 1993. A mobi-
lizao sob a autoridade da OTAN foi estabelecida no
acordo de Janeiro de 1993.
EXEQUATUR
Acto pelo qual o Estado receptor admite ou d o
seu acordo em relao pessoa indicada pelo Estado
que envia para chefe do posto consular.
EXRCITO PERMANENTE
Exrcito profissional e a tempo inteiro, para o qual
tendem os exrcitos de boa parte dos Estados, ao pre-
sente, em virtude das armas sofisticadas e das novas
tecnologias utilizadas.
EXPANSO ECONMICA
Aumento temporrio e reversvel da produo, sem
implicaes profundas na organizao econmica e
social.
poltica mundial: a nvel militar, econmico, ecol-
gico, social e cientfico. Essas repercusses so a nvel
quantitativo e qualitativo.
A nvel quantitativo, as Relaes Internacionais,
neste sculo, foram marcadas pela rapidez do cres-
cimento da populao mundial (queda da taxa de
mortalidade, consequncia da difuso de hbitos de
higiene e dos avanos na medicina) e pelo aumento
das migraes internacionais.
Presentemente, verifica-se que o hemisfrio norte,
industrializado, caracterizado por uma fecundidade
baixa e por um fraco crescimento demogrfico, e que
o hemisfrio sul, subdesenvolvido, caracterizado
por um forte crescimento demogrfico.
Mas o fenmeno da urbanizao passou a ser uni-
versal, pela concentrao das populaes nas cida-
des, tanto nos pases desenvolvidos como nos pases
no desenvolvidos.
A nvel qualitativo, a estrutura da populao de um
pas ou de um grupo de pases tambm importante,
determinando a predominncia de jovens ou de ido-
sos, de homens ou de mulheres, com todas as con-
sequncias que essa desigual distribuio implica.
Por outro lado, o grau de homogeneidade da popu-
lao de um Estado, do ponto de vista tnico, reli-
gioso, social ou poltico um factor no negligen-
civel para a governabilidade e estabilidade de um
Estado, podendo ter repercusses a nvel interna-
cional. Finalmente, no negligenciemos a impor-
tncia dos movimentos migratrios, como o turismo,
as migraes e os refugiados que, no raras vezes,
se constituem em elementos de desacordo entre os
Estados e de perturbao das Relaes Internacionais.
O factor econmico tem um papel determinante
na vida internacional. A desigualdade econmica
entre os pases e o subdesenvolvimento constituem
problemas fundamentais das Relaes Internacionais.
A histria fornece numerosos exemplos de conflitos
motivados por rivalidades econmicas, pelas lutas
pelo controlo de matrias-primas, alargamento de
mercados, etc. A arma alimentar e a arma mone-
tria fazem parte da guerra econmica (tal como
as armas petrolfera, tecnolgica, cientfica), sem
esquecer o embargo.
A aco da OPEP, a existncia da ASEAN, o
papel do GATT, entretanto substitudo pela OMC),
a criao do Mercado Comum/UE, o crescente
poder das empresas multinacionais ou, ainda, as
FACTORES DAS RELAES
INTERNACIONAIS
Por factores das Relaes Internacionais entendemos
os instrumentos de poder ao servio dos actores no
jogo da poltica internacional.
Para compreender a sociedade internacional con-
tempornea necessrio, por um lado, tomar em
considerao os factores que influenciam o seu fun-
cionamento, e, por outro lado, analisar a sua estru-
tura.
Os principais factores que influenciam o funcio-
namento da sociedade internacional, na medida em
que podem determinar o comportamento dos acto-
res das Relaes Internacionais, so os factores geo-
grfico, demogrfico, econmico, militar, cientfico
e tecnolgico, governamental, ideolgico, cultural e
espiritual, meditico e a liderana.
No possvel determinar uma hierarquia de
importncia entre os vrios factores das Relaes
Internacionais, variando tal importncia, isolada-
mente ou em conjunto, com outros factores, no
tempo e no espao.
O quadro geogrfico de um Estado constitui um
importante factor explicativo das Relaes Inter-
nacionais. Os Estados dividem entre si a maior parte
do espao terrestre. Assim, a ocupao de territrios
foi sempre uma ambio dos governantes, a causa da
maior partes dos conflitos, sendo a sua conquista a
consagrao da vitria.
Apesar de o clima, o relevo e a qualidade do solo
no serem determinantes na definio da poltica
externa dos Estados, mas apenas condicionantes, a
localizao de um Estado no globo (acesso ao mar,
posio insular, controlo das vias de comunicao)
permite aumentar ou diminuir as opes da poltica
externa dos Estados, cabendo aos governantes e aos
povos determinar as opes que marcaro o destino
do Estado.
Pelas suas caractersticas, este factor igualmente
um dos factores condicionantes do poder de um
Estado, sendo o mais estvel. Os Estados so natu-
ralmente condicionados pela geografia dos seus ter-
ritrios, desempenhando, tambm, um papel impor-
tante na evoluo da sociedade.
Tal como o factor geogrfico, o factor demogrfico
influencia as Relaes Internacionais. Tem reper-
cusses, quer a nvel das polticas nacionais, quer na
F
riculturais as minorias culturais exigem o reco-
nhecimento da sua especificidade atravs de uma
maior autonomia; no debate sobre a preferncia a dar
modernidade ou aos valores tradicionais e, quando
utilizado pelos governantes, para justificar polticas
expansionistas e de conquista.
A ideologia constitui um sistema coerente e glo-
bal de explicao da evoluo do mundo e das socie-
dades mundiais, produzido e difundido por um grupo
restrito. A funo principal das ideologias de legi-
timar ou criticar uma sociedade, com base num sis-
tema de valores de referncia considerado universal.
Regra geral, contm um discurso de ocultao de cer-
tos factos histricos, de acordo com o interesse do
grupo defensor da ideologia.
Finalmente, temos o factor meditico, resultado
da revoluo tcnica e poltica das ltimas cinco
dcadas e cuja influncia na opinio pblica nacio-
nal e internacional presentemente muito forte. O
aumento da sua influncia , simultaneamente, causa
e efeito da eroso da soberania dos Estados. A media-
tizao dada a um facto pode determinar, simulta-
neamente, o impacto e a importncia desse facto para
a opinio pblica internacional.
Na anlise do factor meditico devemos, tambm,
ter em ateno os fenmenos de subinformao (pa-
ses em desenvolvimento); sobreinformao (pases
desenvolvidos); e desinformao (manipulao da
informao para fins polticos, ideolgicos ou eco-
nmicos).
Em suma, o factor meditico pode ter o efeito de
acelerar um processo de destabilizao interna de um
pas; reforar o poder de um governante ou grupo
social (lbi); permeabilizar fronteiras; internacio-
nalizar um conflito ou um facto de carcter nacio-
nal; reforar a solidariedade internacional; isolar um
regime poltico (frica do Sul); pressionar a demo-
cratizao/respeito pelos Direitos do Homem, etc.
FEDERAO
Associao ou unio de Estados, que aceitam criar
um novo Estado a quem dotam de poder superior, de
poder soberano. Passa ento a existir uma Constitui-
o comum, um governo comum, um nico exrcito,
uma nica poltica de defesa, uma nica moeda e uma
nica poltica externa. Apesar de poderem no per-
der a sua identidade e at de manterem, na maior
parte dos casos, Constituies prprias, o certo que
os Estados associados, designados de Estados fede-
rados, no so soberanos, j que a soberania passa a
ser exercida pelo novo Estado, o Estado federal.
FEMINISMO
Defesa dos direitos da mulher e exigncia de igual-
dade em relao aos homens, em todas as esferas da
vida social. O feminismo, que data do fim do sculo
XVIII na Europa, reforou-se consideravelmente a
partir de finais do sculo XIX, de tal modo que, hoje
existem movimentos feministas na maior parte dos
pases.
84 FEDERAO
reivindicaes dos pases em desenvolvimento no
sentido da instaurao de uma Nova Ordem
Internacional (NOEI), etc., demonstram a impor-
tncia das trocas comerciais internacionais para os
Estados. A interdependncia entre os Estados , regra
geral, econmica, antes de ser poltica.
O factor militar, quer no plano das armas clssi-
cas, quer no plano das armas de destruio macia,
desempenha tambm um papel incontestvel nas
Relaes Internacionais. Os meios militares de um
Estado so utilizados para garantir a sua defesa.
Contudo, as polticas de fora, os actos de agresso,
a inteno de anexao fazem do factor militar, mui-
tas vezes, um instrumento de destabilizao das
Relaes Internacionais. Existe, no entanto, uma
tomada de conscincia internacional do excesso de
armamentos, quer pela opinio pblica, quer,
mesmo, pelos governantes, levando a um esforo
colectivo no sentido da limitao dos armamentos
ou mesmo do desarmamento.
O mesmo acontece com o factor cientfico e tec-
nolgico, quer agravando a desigualdade entre os
Estados desenvolvidos e os Estados em vias de desen-
volvimento, quer produzindo um maior desgaste dos
recursos naturais e criando ameaas globais (ameaa
ambiental).
Por outro lado, os progressos tcnicos aceleraram
as comunicaes em todos os domnios, criando uma
rede mundial de comunicaes e informaes que
vieram perturbar o equilbrio mundial, bem como a
soberania dos Estados.
O factor cientfico e tecnolgico est interligado
com o factor militar, permitindo aos Estados o
desenvolvimento e aperfeioamento dos seus arse-
nais de armamentos, bem como das estratgias e tc-
ticas militares.
A transferncia de tecnologia, a proteco do
ambiente, as catstrofes ecolgicas e a cooperao
cientfica internacional constituem novos e impor-
tantes problemas das Relaes Internacionais.
O factor governamental, associado, ou no, ao fac-
tor de liderana, diz respeito influncia que os gover-
nos exercem, quer no desenvolvimento dos seus Esta-
dos, quer nas Relaes Internacionais, pela definio
das directrizes da poltica externa dos seus Estados.
Uma boa capacidade governativa traduz-se na capa-
cidade dos governos em transformar as capacidades
do pas em capacidades reais, bem como, pelas suas
iniciativas, reforar a cooperao internacional.
Temos, assim, uma classificao em bons e maus
governos; governos democrticos e governos auto-
ritrios.
Quanto ao factor de liderana, podemos afirmar
que o carcter e a personalidade dos governantes
podem ser consideradas como um dos elementos das
Relaes Internacionais, na medida em que aos
governantes cabe, sobretudo, a iniciativa de deciso,
apesar de ser em nome do Estado.
Procura-se, assim, uma inter-relao entre o
carcter e a personalidade do governante, e a quali-
dade de estadista.
A influncia do factor ideolgico, cultural e espi-
ritual manifesta-se na fragilizao dos Estados plu-
85
geogrficos, mas tambm o tempo, a durao, a hist-
ria e as relaes com outros fenmenos a eles ligados.
Dessa necessria considerao do vector temporal
resulta perceber-se que os factos geogrficos no per-
manecem imutveis.
FONTES DE DIREITO INTERNACIONAL
O elenco das fontes de direito Internacional normal-
mente retirado do artigo 38. do Estatuto do Tribu-
nal Internacional de Justia (ETIJ), j que sendo
caracterstica dos tribunais o facto de estes realiza-
rem a Justia por via da aplicao (exclusiva) das fon-
tes de Direito, essa a norma que identifica tais ins-
trumentos.
A norma refere as convenes, o costume, os prin-
cpios gerais de Direito, a jurisprudncia, a doutrina
e a equidade. Foi no entanto elaborada pelo chamado
Comit dos Dez, nos anos 1920, quando se decidiu
criar o primeiro tribunal permanente, o Tribunal
Permanente de Justia Internacional, no quadro da
Sociedade das Naes, merecendo na actualidade
algumas crticas que so todavia enquadrveis no
momento histrico da discusso e aprovao do dis-
positivo.
Assim, ao referir o costume, entendia-se este
como prova de uma prtica geral aceite como direito,
sendo que ao presente este claramente admitido
como fonte autnoma e j no num plano probat-
rio. Por outro lado, a referncia aos Princpios Gerais
de Direito vem circunscrita aos que so reconheci-
dos pelas naes civilizadas, o que numa leitura con-
tempornea parece fazer surgir um carcter dis-
criminatrio inaceitvel (apesar de poder ser expli-
cado em termos diferentes no momento da sua adop-
o).
A terceira crtica que se coloca ao elenco do artigo
38. do ETIJ tem a haver com o seu carcter incom-
pleto (ou, se se preferir, com o seu carcter no
expressamente enunciativo que durante algum
tempo alimentou uma discusso, j que alguns auto-
res defendiam um suposto carcter taxativo). Ao pre-
sente, est claramente reconhecido que para alm
do referido elenco havero de aceitar-se como fonte
autnoma os actos jurdicos unilaterais e parece
que tambm os actos concertados no convencio-
nais (subsistindo aqui algumas divergncias doutri-
nais. H mesmo uma parte da doutrina que conti-
nua a no os considerar por no terem efeitos obri-
gatrios, e, tambm, quem prefira entend-los den-
tro da teoria das convenes, no os autonomizando).
As fontes de Direito Internacional no conhecem
entre si qualquer hierarquia de princpio, situando-
-se todas no mesmo plano, o que implica que as nor-
mas de qualquer uma delas podem alterar ou revo-
gar regras surgidas no quadro de outra.
Apesar disso, tem-se afirmado e desenvolvido uma
hierarquia de normas, ou seja, determinadas normas
(independentemente da fonte) so afirmadas como
tendo primazia sobre as outras. Isso acontece com
as regras de ius cogens, com determinadas con-
venes, como a Carta das Naes Unidas, etc.
FLUIDEZ DOS FENMENOS GEOGRFICOS
As perspectivas feministas das Relaes Internacio-
nais, essencialmente a partir de finais da dcada de
1980, introduziram o gnero como categoria emp-
rica e instrumento terico relevante na anlise das
relaes de poder global, bem como um ponto de par-
tida normativo para a construo de ordens mundiais
alternativas. Juntamente com um conjunto de novas
perspectivas sobre as polticas mundiais, como o
ps-modernismo, o construtivismo, e a teoria
crtica, as teorias feministas tm contestado o poder
e conhecimento das teorias tradicionais das Relaes
Internacionais. Acima de tudo, estas novas perspec-
tivas procuram mover o estudo das Relaes Inter-
nacionais do seu foco singular nas relaes interesta-
tais, para uma anlise mais abrangente dos actores
e estruturas transnacionais, e das possibilidades de
transformao na ordem mundial.
O feminismo defende que as vises tradicionais das
relaes Internacionais distorcem o nosso conheci-
mento, quer sobre as relaes, quer sobre as trans-
formaes internacionais. Estas tm levado a argu-
mentos simplistas que reproduzem as dicotomias que
tm marcado as Relaes Internacionais, com influn-
cia clara do gnero. Definem o poder como poder
sobre outros, a autonomia como reactiva e no rela-
cional, e a poltica internacional com base na ausn-
cia da mulher e na negao das polticas domsticas.
Isto torna as mulheres e o gnero invisveis, porque
falha em perceber o significado poltico de divises
fundamentais baseadas no gnero, institucionaliza-
das a nvel pblico e privado no Estado e no sistema
de Estados. Tambm ignoram as actividades polti-
cas e o activismo das mulheres, quer se estejam a
mobilizar para a guerra, quer protestem ou organi-
zem campanhas de reconhecimento dos seus direi-
tos fundamentais. Em suma, as perspectivas das Rela-
es Internacionais que no tomam em considera-
o questes de gnero acabam por no dar ateno
a aspectos essenciais da ordem mundial. As pers-
pectivas feministas demonstram que, em muitas cir-
cunstncias, o poder global e as transformaes no
pertencem apenas ao domnio das elites polticas e
econmicas, mas tambm a outras reas mais reca-
tadas das sociedades; procuram assim ajudar no reco-
nhecimento de mudanas de poder no seio dos Esta-
dos com ramificaes na ordem mundial, conside-
rando que a observao e interpretao destas mudan-
as, medida que surgem numa variedade de con-
textos globais e locais, constitui uma funo central
do estudo das Relaes Internacionais.
FLUIDEZ DOS FENMENOS
GEOGRFICOS
Conceito definido por Vidal de La Blache, gegrafo
e historiador, pertencente escola francesa tambm
designada de escola possibilista. Para La Blache, a
natureza, como espao, no determina compor-
tamentos, simplesmente oferece ao homem uma
grande variedade de possibilidades, entre as quais ele
livremente escolhe. No apenas o espao que deve
ser considerado para uma explicao dos fenmenos
Existe ainda uma instncia permanente, o conse-
lho permanente da francofonia (CPF), institudo pela
Cimeira de Paris de Novembro de 1991. Trata-se de
uma instncia poltica de deciso composta por 15
representantes pessoais dos chefes de Estado ou de
governo, nomeados em cada cimeira. Encarregado
de preparar a cimeira, toma todas as medidas que
visam a aplicao prtica das decises adoptadas pelos
chefes de Estado, no respeito pelo quadro oramen-
tal fixado. O conselho permanente tambm o gabi-
nete da ACCT, o operador principal da francofonia.
As realizaes da francofonia situam-se ao nvel
cultural, com a criao de centros de leitura e de
animao cultural; lingustico, com a aplicao pr-
tica de programas de cooperao lingustica desti-
nados a promover a modernizao das lnguas afri-
canas e crioulas, promoo do francs cientfico e tc-
nico; audiovisual, com o desenvolvimento da televi-
so francfona por satlite e criao de um centro
de trocas multilaterais de actividades francfonas e
de um Centro Internacional de rdios e televiso de
lngua francesa, que ajuda promoo de trocas de
jornalistas e tcnicos assim como sua formao;
educativo, com a produo de instrumentos de comu-
nicao educativos; agrcola, com a criao de cen-
tros regionais de especializao agrcola e de ajuda
aos pases do sul para produzirem respeitando o
ambiente; e por fim, poltico, com a vontade dos
Estados mais ricos reforarem a solidariedade para
com os mais pobres, sem impor condies, dando ori-
gem ao Programa especfico de solidariedade e ao
Programa especial de desenvolvimento da ACCT que
lhe permitiu agir eficazmente na ajuda a Estados em
dificuldade.
Compreendendo 51 pases, a comunidade franc-
fona que ambiciona ser uma organizao interna-
cional plena, representa hoje, 131 milhes de pes-
soas, ou 2,5% da populao mundial. No entanto,
deve fazer face a dois desafios: a lngua francesa
encontra-se ameaada pelo desenvolvimento mun-
dial da utilizao do ingls e a maioria dos Estados
francfonos so Estados em desenvolvimento que
necessitam de ajuda.
FRONTEIRA
Linha imaginria, expressa cartograficamente, que
marca os limites do territrio de um Estado, resul-
tante de negociao, tratados, exploraes ou con-
quistas. A sua primeira funo , pois, a de delimi-
tar o territrio no qual se exerce a soberania do
Estado. A fronteira, que nunca foi intangvel, nem
definitiva, sofreu uma certa eroso a partir das lti-
mas dcadas do sculo XX, devido globalizao,
criao dos espaos regionais (Unio europeia,
NAFTA, etc.), e ao prprio direito de ingerncia por
razes humanitrias. As fronteiras africanas, que per-
manecem intocadas aps a descolonizao, no foram
fixadas, ao contrrio do que comum afirmar-se, pela
Conferncia de Berlim (1884-1885), mas por acor-
dos entre os pases europeus, estabelecidos entre
1880 e 1914 (Maurice Vasse).
FORAS PRODUTIVAS 86
FORAS PRODUTIVAS
Expresso usada por Marx para ilustrar os factores
que promovem o crescimento econmico de uma
sociedade (Marxismo).
FORDISMO
Conjunto de inovaes desenvolvidas por Henry Ford
(1863-1947) e que esto na origem do micro-sistema
fordiano, caracterizado pelo trabalho em srie, pela
introduo da linha de montagem, pela estandardi-
zao e pelo discriminatrio five dollars a day, a
que s tinham acesso os bons operrios, pagos ao dia
e no hora ou pea.
O desgaste do modelo taylorista/fordista, que pres-
supunha a existncia de um consumo de massas,
constituiu a razo principal da baixa de produtividade
das economias industriais capitalistas, a partir dos
finais da dcada de 1960.
FRUM DO PACFICO SUL
South Pacific Forum
Criado em 1971 pela Austrlia, Nova Zelndia e 15
Estados insulares. O frum nasceu da vontade dos
Estados insulares fazerem da regio uma zona des-
nuclearizada. Preocupa-se essencialmente com ques-
tes ambientais. Tem como membros, 16 pases e ter-
ritrios do Pacfico. Tem sede em Suva (Fiji).
FRANCOFONIA
Conceito utilizado em 1880 pelo gegrafo Reclus, que
procurava classificar as populaes segundo critrios
lingusticos. Por francofonia, entende-se o conjunto
de Estados ou regies que tm em comum o uso da
lngua francesa. Trata-se, pois, de uma comunidade
mais lingustica e cultural que poltica.
O espao francfono ou francofonia representa,
assim, os pases que tm em comum a utilizao do
francs. A utilizao da mesma lngua permitiu fun-
dar solidariedades diversas, que incitam realizao
de programas de cooperao em matria de defesa da
lngua francesa, de difuso da cultura francesa, mas
tambm nos domnios da educao, da comunicao,
da informao cientfica e tcnica, do desenvolvimento
tecnolgico, da agricultura e da sade. O seu organismo
mais importante a agncia de cooperao cultural
e tcnica (ACCT), criada pela Conveno de Niamey
de 20 de Maro de 1970, que reagrupa 21 membros,
e foi at 1986, a pea mestra da francofonia.
A instncia suprema de deciso no seio da fran-
cofonia desde 1986, a cimeira dos chefes de Estado
e de governo que tenham em comum o uso do fran-
cs. A continuidade das cimeiras assegurada pela
conferncia ministerial da francofonia (CMF), com-
posta pelos ministros dos negcios estrangeiros de
todos os Estados-membros. Esta ao mesmo tempo
o conselho de administrao e a conferncia geral da
ACCT.
mes ocidentais, resultando na rejeio do seu estilo
de vida e das suas influncias. O fundamentalismo
islmico tem assumido posies extremistas violen-
tas, traduzidas em aces de grupos radicais, como
a Al-Qaeda. Apresentando uma nova forma de ter-
rorismo internacional, tem evoludo de aces pro-
movidas pelo Estado ou contra alvos domsticos, para
um activismo que ultrapassa fronteiras e de carc-
ter supranacional.
FUNDO INTERNACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO AGRCOLA
(FIDA)
International Fund for Agricultural Development
uma instituio especializada das Naes Unidas.
Foi criado em 13 de Junho de 1976, na Conferncia
de Roma sobre o estabelecimento de um Fundo
Internacional de Desenvolvimento Agrcola. Visa aju-
dar as populaes rurais pobres dos pases em desen-
volvimento, concedendo a projectos de desenvolvi-
mento rural recursos financeiros a taxas muito favo-
rveis. Tem 161 Estados-membros.
FUNDO MONETRIO INTERNACIONAL
(FMI)
International Monetary Fund (IMF)
Foi criado na Conferncia de Bretton Woods, reali-
zada em 1944. Os seus Estatutos conferem ao FMI a
promoo da cooperao internacional em assuntos
monetrios, o aumento do emprego e do rendimento
real atravs da expanso e do equilbrio do comr-
cio internacional, a estabilidade cambial, a multila-
teralizao do sistema de pagamentos (para tran-
saces correntes), o seu financiamento temporrio
e o contributo para a correco dos desajustes da
balana de pagamentos. Tais objectivos no muda-
ram, embora as funes do Fundo se tenham alte-
rado profundamente. Originalmente, o Fundo limi-
tava-se a trocar por moedas internacionalmente acei-
tes, as moedas dos pases membros. Depois da pri-
meira emenda dos Estatutos, o FMI deixou de ser um
mero posto de cmbio para se tornar num verdadeiro
banco, criando crditos sem contrapartida os Direi-
tos de Saque Especiais. Tambm no incio, o Fundo
fazia respeitar o compromisso de estabilidade cam-
bial assumido por cada pas membro, ao comunicar-
-lhe a paridade central da sua moeda face ao ouro
ou ao dlar. Depois da segunda emenda dos Estatu-
tos, as actividades de vigilncia do Fundo alar-
garam-se a toda a poltica cambial dos Estados
membros e s opes da poltica econmica com
implicaes no valor da moeda: de rbitro de um
sistema de cmbios estveis passou a rbitro de um
sistema estvel de cmbios. Depois dos choques petro-
lferos na dcada de 1970 e da crise da dvida na dcada
de 1980, passou de uma interveno conjuntural a
uma interveno estrutural, alargando os mecanis-
mos de financiamento e a sua aco a longo prazo.
FUNCIONRIO CONSULAR 87
FUNCIONRIO CONSULAR
Toda a pessoa, incluindo o chefe do posto consular,
encarregada nesta qualidade do exerccio de funes
consulares. Existem duas categorias de funcionrios
consulares: os funcionrios consulares de carreira e
os funcionrios consulares honorrios.
FUNDAMENTALISMO
Crena que defende um retorno ao significado lite-
ral dos textos sagrados. Termo que surge na Con-
ferncia Bblica de Niagara Falls e numa srie de tex-
tos intitulados Os Fundamentos: Um Testemunho da
Verdade, publicados entre 1910 e 1915 nos Estados
Unidos, como reaco ao declnio moral e espiritual
que grassava no protestantismo. Tinha por objectivo
restaurar a f histrica com base em cinco funda-
mentos, nomeadamente a inspirao e infalibilidade
das Escrituras, a divindade de Cristo, a reparao dos
pecados, e a ressurreio e segunda vinda de Cristo.
Visava a afirmao das Sagradas Escrituras como ver-
dade absoluta e imutvel que deveria ser reconhe-
cida publicamente e posta em prtica de forma legal.
Significa, ento, o reconhecimento de determinados
princpios como verdades essenciais, com autoridade
absoluta e suprema, independentemente do seu con-
tedo. O termo fundamentalismo, que tem geralmente
associada uma conotao pejorativa, descreve os
excessos polticos de movimentos cuja identidade se
define por uma adeso vincada a uma crena reli-
giosa, e tem sido amplamente usado para descrever
grupos radicais islmicos. Contudo, aplicvel a
denominaes crists, como por exemplo grupos bap-
tistas, luteranos e presbiterianos radicais que dizem
que regressaram aos fundamentos da Cristandade,
pretendendo que a igreja seja a nica autoridade e
ensinando o milenarismo bblico.
FUNDAMENTALISMO ISLMICO
Termo utilizado pelo ocidente para descrever grupos
islmicos radicais, bem como os regimes de alguns
pases muulmanos que fundam as suas actividades
na prtica islmica e nas Escrituras. Visa recriar uma
sociedade islmica pura, no impondo simplesmente
a charia (lei cannica representando a vontade da
Al e a que todos os fiis se submetem), mas esta-
belecendo um Estado islmico atravs da aco pol-
tica. O Islo entendido no apenas como uma reli-
gio, mas como uma ideologia poltica que deve ser
integrada em todos os aspectos da sociedade,
incluindo, por exemplo, a economia, justia social e
poltica externa. A vitria do fundamentalismo isl-
mico no Iro, aps a Revoluo de 1979 liderada por
Khomeini, conferiu novo impulso aos movimentos
muulmanos conservadores que em todo o mudo
rabe lutam pelo endurecimento de posies relati-
vamente ao Ocidente e pela valorizao da tradio
e do Coro como modelos da sociedade e do Estado.
O fundamentalismo torna-se, desta forma, o ele-
mento de unidade de todos os opositores aos regi-
FUNDO DAS NAES UNIDAS PARA A INFNCIA (UNICEF) 88
FUNDO DAS NAES UNIDAS
PARA A INFNCIA (UNICEF)
United Nations Childrens Fund
O Fundo Internacional de Socorro Infncia (FISE)
foi criado pela Resoluo 57 da Assembleia Geral das
Naes Unidas, a 11 de Dezembro de 1946, como
rgo temporrio para fornecer socorro de urgncia
s crianas de pases em guerra. O Fundo tornou-se,
sob o nome de Fundo das Naes Unidas para a Infn-
cia, mais conhecido pelas siglas UNICEF, um rgo
permanente das Naes Unidas, atravs da Resoluo
802, da assembleia geral de 9 de Outubro de 1953.
A UNICEF est encarregada de defender os direitos
das crianas, ajudar a responder s suas necessida-
des essenciais e melhorar a sade da criana em geral.
Tem 36 Estados-membros.
FUNDO DAS NAES UNIDAS
PARA A POPULAO (FNUAP)
United Nations Population Fund
um rgo subsidirio da Assembleia Geral. Foi
criado pelo secretrio geral em Julho de 1967,
enquanto fundo de afectao especial, tendo sido
designado de Fundo das Naes Unidas para as acti-
vidades em matria de populao. Pela Resoluo
3 019, de 18 de Dezembro de 1972, a Assembleia Geral
decidiu colocar o fundo sob sua autoridade. O FNUAP
visa favorecer a cooperao no domnio demogrfico,
como o estudo da evoluo da populao e o servio
de planificao familiar e desenvolver actividades de
informao e de comunicao nestes domnios. As
suas actividades alargaram-se, entre outros, aos
aspectos educativos e de preveno da sida. Tem 168
Estados-membros.
problemas ligados relao entre a geografia e o uso
da coaco em situaes de conflito, quer pelo seu
mtodo prprio, afim do mtodo estratgico.
Num documento do Instituto de Altos Estudos
Militares portugus refere-se que Geoestratgia o
estudo das constantes e variveis do espao que, ao
objectivar-se na construo de modelos de avaliao
e emprego, ou ameaa de emprego, de formas de
coaco, projecta o conhecimento geogrfico na acti-
vidade estratgica.
Trata-se de um estudo centrado na Geografia mas
que se caracteriza pela construo de modelos ou
cenrios de emprego da coaco (actual ou poten-
cial), com base no conhecimento geogrfico.
GEOGRAFIA POLTICA
o estudo sincrnico da geografia a partir de um
ponto de vista poltico, examinando e descrevendo
as condies espaciais da vida dos povos organiza-
dos em Estados, nas relaes biunvocas que dessas
condies decorrem entre os processos polticos e os
respectivos ambientes geogrficos.
Segundo Dix, gegrafo e geopoltico alemo da
Escola de Munique, a geografia poltica a cincia
que estuda o lugar e o mbito do poderio dos Estados.
GEOPOLTICA
Mtodo explicativo que relaciona os factores de poder
do Estado com a poltica internacional e o meio geo-
grfico.
A geopoltica uma combinao da cincia pol-
tica e da geografia, que estuda as relaes que exis-
tem entre a conduo da poltica externa de um pas
e o quadro geogrfico no qual ela se exerce (Pascal
Boniface).
Constitui um mtodo da poltica externa que explica
e prev o comportamento da poltica internacional
em funo de variveis geogrficas, como a dimen-
so do territrio, localizao, topografia, demogra-
fia, recursos naturais, etc.
o estudo diacrnico da poltica a partir de um
ponto de vista geogrfico, nas suas relaes com os
ambientes fsico e social, estudo esse orientado para
as Relaes Internacionais, dedicando especial aten-
GAULLISMO
Expresso que caracteriza o pensamento e prtica
poltica do general Charles de Gaulle. Como adverte
Ren Rmond, no fcil caracterizar o gaullismo,
desde logo porque no h uma identificao precisa
que o permita enquadrar na tradicional tipologia
direita/esquerda. De Gaulle, ao recusar ele prprio
esta tipologia, que considerava artificial e ruinosa
para a Frana, contribuiu para uma definio muito
prpria da aco poltica por si empreendida. No
sendo considerado uma ideologia, classificao tam-
bm recusada, quer por de Gaulle, quer pelos seus
seguidores, o gaullismo traduz a um tempo um estilo
de liderana e uma particular forma de fazer poltica.
Distante dos partidos, descrente dos polticos, pode-
mos afirmar, seguindo ainda Ren Rmond, que exis-
tiram vrios gaullismos. Um gaullismo eleitoral,
traduzido por um claro agrupamento de eleitores pro-
venientes de todo o tipo de classes e um gaullismo
parlamentar consubstanciado numa coligao de
ideias e propostas unidas em torno de um mesmo
chefe, Charles de Gaulle.
GEOESTRATGIA
o estudo das relaes entre os problemas estrat-
gicos e os factores geogrficos, escala das grandes
regies ou mesmo escala mundial, procurando
deduzir a influncia dos factos geogrficos (econ-
micos, demogrficos, sociais, etc.) nas situaes estra-
tgicas, bem como as possveis consequncias, nesses
factos geogrficos, da aplicao das manobras estra-
tgicas e da consecuo dos respectivos objectivos.
Constitui um mtodo de interpretao da fenome-
nologia poltica vocacionado para a percepo e an-
lise dos conflitos (expressos ou potenciais), bem como
dos comportamentos possveis nesses conflitos.
Para Pierre Clrier, a geopoltica e a geoestrat-
gia so duas cincias distintas mas intimamente rela-
cionadas, formando um dptico homogneo que ofe-
rece, tanto ao poltico como ao militar, um mesmo
mtodo de aproximao aos problemas necessaria-
mente interligados do mundo actual.
A geoestratgia surge como um elemento, ou parte,
da geopoltica, da qual se distingue fundamental-
mente, quer pela sua especializao no estudo dos
G
blocos, alianas, divises administrativas, nas res-
pectivas posies, dimenses e configuraes, bem
como na situao relativa de ncleos econmicos e
demogrficos, traados de fronteiras, etc.); o mtodo
funcional, que se centra no estudo de zonas ou
regies como conjuntos funcionais politicamente
homogneos ou coordenados, procurando detectar
foras de convergncia e de dissociao no seu rela-
cionamento com o espao. Os dois mtodos acres-
centados por Cohen seriam: o mtodo de compor-
tamento, segundo o qual se partiria do estudo
das percepes e valorizaes das diversas situa-
es e relaes espaciais, percepes e valoriza-
es essas analisadas atravs dos comportamen-
tos; e o mtodo sistmico, segundo o qual o pro-
cesso poltico (relaes polticas, estruturas e for-
as sociais), e o espao geogrfico (lugar, regio e
ambiente) so estudados como um sistema em que
o processo poltico e o espao geogrfico interactuam
globalmente, definindo-se diversas zonas de aco
poltica e ideolgica caracterizadas por diferentes
percepes.
GERGIA, UCRNIA, USBEQUISTO,
AZERBAIJO E MOLDVIA (GUUAM)
Criada em Outubro de 1997 como uma unio con-
sultiva, tinha como objectivo reforar a cooperao
poltica, econmica e estratgica entre estas quatro
ex-Repblicas Soviticas, e lutar contra o extremismo
religioso, o terrorismo e o trfico de droga na regio.
Passou a designar-se como GUUAM, com a entrada
do Usbequisto em Abril de 1999.
GESTO DE CONFLITO
Situao em que um conflito armado permanece,
mas evitando ou pelo menos reduzindo a sua gravi-
dade, expressa particularmente no uso de violncia
entre as partes em disputa. Se a deteriorao da situa-
o resultar num agravamento da violncia, a ges-
to poder ser restaurada atravs da negociao de
um cessar-fogo ou armistcio.
GLASNOST
Termo utilizado pelos meios de comunicao oci-
dentais para designar as novas iniciativas, relacio-
nadas em particular com a cooperao entre super-
potncias na poltica externa sovitica aps 1985, sob
a tutela de Mikhail Gorbatchev. Glasnost significa
abertura e demonstra a crena de Gorbatchev numa
imprensa livre para criticar a ineficincia das ini-
ciativas estatais, de modo a impulsionar a reestru-
turao da sociedade. Acabou por salientar mais os
falhanos iniciais do processo de reestruturao do
que persuadir o povo para apoiar a causa. Em 1985-
-1986, a elite sovitica no poder entendeu que o esta-
tuto de superpotncia e a hegemonia ideolgica e
poltica que este implicava tinham custos econmi-
cos pesados face ao benefcio limitado da resultante.
90 GEOPOLTICA (MTODOS)
o ao que se relaciona com a gerao, a aquisio
e o emprego do poder, tentando definir constantes,
tendncias, limites e condicionamentos. Constitui
um mtodo de interpretao da fenomenologia
poltica, vocacionado para a percepo e definio de
objectivos, de interesses, de condicionantes, e dos fac-
tores de poder.
Para o jurista sueco Kjellen, a geopoltica a cin-
cia do Estado como organismo geogrfico e, signi-
ficativamente, como soberania. Para o general e ge-
grafo alemo Haushofer, geopoltica a cincia que
trata da dependncia dos factos polticos em relao
ao solo. Apoia-se na geografia, em especial na geo-
grafia poltica, doutrina da estrutura espacial dos
organismos polticos. Para o gegrafo e socilogo
brasileiro Josu de Castro, a geopoltica uma dis-
ciplina cientfica que busca estabelecer as correla-
es existentes entre os factores geogrficos e os
fenmenos polticos, a fim de mostrar que as direc-
tivas polticas no tm sentido fora dos quadros geo-
grficos. O que chamamos de geopoltica no uma
arte de aco poltica na luta entre os Estados, nem
to pouco uma frmula mgica de predizer a hist-
ria, como queria Spengler. apenas um mtodo de
interpretao da dinmica dos fenmenos polticos
na sua realidade espacial, com as suas razes mer-
gulhadas no solo ambiente. Por fim, para o general
Pierre Gallois, um dos mais importantes nomes do
pensamento militar e estratgico europeu aps a
Segunda Guerra Mundial, a geopoltica o estudo
das relaes que existem entre a conduta de uma pol-
tica de poder no plano internacional e o quadro geo-
grfico em que se exerce.
Nos ltimos anos assistiu-se a uma renovao
da Geopoltica, nomeadamente com Ives Lacoste, o
qual rejeita a herana emprica e proftica da antiga
Geopoltica, mas no abdica de uma percepo ou
compreenso global dos conflitos, luz das carac-
tersticas territoriais dos Estados e sua territoriali-
dade.
GEOPOLTICA (MTODOS)
Os mtodos utilizados pelos estudos geopolticos
englobam as teorias geopolticas, as quais condi-
cionam tanto a escolha dos mtodos como a sua
expresso. Saul Bernard Cohen refere seis mtodos
utilizados pelos diversos autores no estudo das rela-
es entre os processos polticos e os ambientes geo-
grficos, os quais so aplicados quer na geografia pol-
tica quer na geopoltica. Segundo Cohen, esses mto-
dos seriam os quatro enunciados por Hartshorne,
mais dois que ele prprio prope. Os quatro reco-
nhecidos por Hartshorne seriam: o mtodo da an-
lise do poder, o qual se centra no levantamento e
estudo dos factores de poder, perspectivados em fun-
o do espao territorial, como fundamental para
entender as relaes entre os Estados; o mtodo his-
trico, que se centra no estudo da Histria (em parti-
cular da poltica) em funo da geografia; o mtodo
morfolgico, que se centra no estudo das formas e
caractersticas estruturais (associaes de Estados,
91
GLOBALIZAO
Este conceito, de origem anglo-saxnica, forjado nas
escolas de gesto americanas, e sinnimo, em Frana,
de mundializao, traduz o extraordinrio desenvol-
vimento das relaes econmicas, sociais, culturais
e polticas a nvel mundial, a partir dos anos 1980.
Serve para designar um movimento complexo de
abertura de fronteiras econmicas e de desregula-
mentao, que permitiu s actividades econmicas
capitalistas estender o seu campo de aco ao con-
junto do planeta. O desmoronamento do bloco sovi-
tico e o aparente triunfo planetrio do modelo libe-
ral no incio dos anos 1990, acompanhados do desen-
volvimento das telecomunicaes, deram a esta
noo uma validade histrica. A globalizao cons-
titui, assim, uma nova etapa na evoluo do capita-
lismo industrial, sucedendo internacionalizao das
firmas e capitais.
Sob o ponto de vista econmico, a noo de glo-
balizao integra trs fenmenos diferentes: o pri-
meiro fenmeno o do desenvolvimento rpido dos
mercados financeiros mundiais nos finais dos anos
1970, estimulados pela desregulamentao dos mer-
cados financeiros e pelo aparecimento de novas tec-
nologias de informao; o segundo fenmeno o da
mundializao das actividades das empresas tanto do
sector manufactureiro como dos servios; e o terceiro
fenmeno, que de natureza ecolgica, traduzindo
uma inquietude geral que se desenvolveu a partir de
finais dos anos 1980.
Estes trs fenmenos esto na origem do senti-
mento de que os poderes pblicos no podem con-
trolar o funcionamento dos mercados, num mundo
onde reina a incerteza e a instabilidade real ou
latente.
Segundo a OCDE, a mundializao desenvolveu-
-se em vrias fases, a ltima das quais, a da globali-
zao (anos 1980), corresponde instalao de ver-
dadeiras redes planetrias, graas aos progressos da
tecnologia e dos servios. Os Estados tornam-se cada
vez mais interdependentes, prisioneiros do sistema-
-mundo. Falar de globalizao evocar a dominao
do sistema capitalista sobre o espao mundial. Este
fenmeno inscreve-se numa tendncia de submisso
progressiva de todos os espaos fsicos e sociais lei
do capital, lei da acumulao contnua que a fina-
lidade suprema do sistema capitalista. Hoje em dia,
muitos aspectos da vida das pessoas so influencia-
dos por organizaes e redes sociais localizadas a
muita distncia da sociedade onde vivem. Um aspecto
crucial no estudo da globalizao a emergncia de
um sistema mundial ou seja, h razes para se olhar
o mundo como uma nica ordem social.
GOLPE DE ESTADO
Tomada de poder atravs da fora. Ao contrrio do
que acontece com a Revoluo, nenhum movi-
mento social est envolvido.
Aco de um pequeno grupo contra a autoridade
de facto e em que aquele grupo, actuando com rapi-
dez e aniquilando ou neutralizando determinadas
GLOBAL (EMPRESA)
A nova poltica de Gorbatchev levou modernizao
da poltica econmica resultando numa transfern-
cia alargada de recursos do sector militar para o sector
civil. Isto conduziu a um novo esprito de dtente,
que se manifestou claramente na Guerra do Golfo
com o apoio tcito sovitico s polticas dos aliados.
Muitos analistas tm argumentado que a liberali-
zao da Europa de Leste em 1989 foi uma conse-
quncia directa da doutrina Gorbatchev. Enquanto
a nova orientao foi saudada internacionalmente,
internamente as suas repercusses incluram elevada
preocupao no s quanto ao futuro poltico de
Gorbatchev, mas tambm quanto continuao da
coerncia da Unio e do papel dominante do partido
comunista. A crescente instabilidade nacionalista,
rivalidades tnicas e insatisfao econmica exa-
cerbadas pela glasnost e perestroika produziram
movimentos de secesso que levaram desintegrao
da Unio Sovitica. Em finais de 1989, as Repblicas
do Bltico (Estnia, Letnia e Litunia) j haviam
demonstrado o seu desejo de desenvolvimento de uma
nova relao com Moscovo. Cedo as outras repbli-
cas autnomas lhes seguiram os passos: Ucrnia, Bie-
lorrssia, Moldvia, Armnia, Azerbaijo, Gergia, e
as repblicas muulmanas do Cazaquisto, Quirgisto,
Tajiquisto, Turquemenisto e Usbequisto. A 19 de
Agosto de 1991, numa tentativa de inverter os efei-
tos liberais da perestroika e glasnost, quer dentro
quer fora da Unio Sovitica, os conservadores lan-
aram um golpe de estado contra a administrao
Gorbatchev, que se revelou um fracasso. O seu falhano
acelerou a dissoluo da Unio Sovitica e, a 25 de
Dezembro, Gorbatchev demitiu-se formalmente da
Presidncia, sucedendo-lhe Boris Ieltsin. Desta forma,
no incio de 1992, a Unio Sovitica deixou formal-
mente de existir como entidade geopoltica e sujeito
do Direito Internacional.
GLOBAL (EMPRESA)
Multinacional (empresa)
GLOBALISMO
Os autores da abordagem globalista tendem a cen-
trar-se na questo geral de saber qual a razo da inca-
pacidade de tantos Estados para se desenvolverem.
uma corrente que tem nomes como Marx, Hobson
e Lenine no seu passado histrico e filosfico, no que
respeita perspectiva destes autores sobre o capita-
lismo e o imperialismo. O globalismo defende a impor-
tncia da anlise histrica para a compreenso do sis-
tema internacional o factor histrico-chave o capita-
lismo; a existncia de determinados mecanismos de
dominao que impedem os Estados menos desenvolvi-
dos de se desenvolverem e que consequentemente con-
tribuem para um desenvolvimento desigual escala
mundial (dependncia norte/sul); e a importncia dos
factores econmicos, absolutamente determinantes
para se explicar a evoluo e funcionamento do sis-
tema capitalista mundial e para se relegar os Estados
menos desenvolvidos para uma posio subordinada.
capacidade executiva e legislativa e detendo o mono-
plio do uso da fora. Implica que os Estados pres-
cindam da sua soberania, submetendo-se a um sis-
tema nico de lei mundial. Em virtude de ter como
objectivo ltimo a manuteno da paz e ordem inter-
nacionais, o conceito de governo mundial fre-
quentemente conotado com o pacifismo.
GREENPEACE
Organizao no governamental que desempenha um
importante papel nas Relaes Internacionais,
influenciando os Estados e os comportamentos das
comunidades atravs do mundo, sobretudo no que
diz respeito ao ambiente (Maurice Vasse).
GRUPO DOS DEZ (G-10)
Criado em 1962, o Grupo G-10 constitudo pelos
ministros das finanas e os governadores dos ban-
cos centrais dos pases mais industrializados, den-
tro do Fundo Monetrio Internacional. O Comit de
Bale, criado em 1974 pelo Grupo para reforar a
cooperao entre os bancos, possui um secretariado.
Tem 11 Estados-membros: Alemanha, Blgica,
Canad, Estados Unidos, Frana, Itlia, Japo, Pases
Baixos, Reino Unido, Sucia e Sua.
GRUPO MINORITRIO
Grupo de pessoas de determinada sociedade que par-
tilha um conjunto de interesses e crenas comuns
num leque variado de assuntos, levando a que neces-
sitem ou desejem um tratamento especial face
maioria. Geralmente, no grupo minoritrio poss-
vel identificar uma identidade comum, no existindo
apenas em oposio maioria.
Os grupos minoritrios mais importantes em ter-
mos polticos so as minorias raciais, religiosas e
tnicas, que enfrentam um conjunto alargado de des-
vantagens/dificuldades na sociedade onde se inserem.
Muitas vezes estes grupos so afastados ou subordi-
nados aos interesses dominantes, face aos quais
necessitam de proteco (Robertson).
GRUPO DOS OITO (G-8)
Trata-se de um grupo informal que reuniu pela pri-
meira vez, em 1975, por iniciativa do presidente fran-
cs, Giscard dEstaing, e cujo objectivo consiste em
estabelecer uma concertao entre as grandes potn-
cias sobre as questes econmicas, diplomticas,
estratgicas e transversais (ambiente, terrorismo,
crime organizado, droga, armas nucleares, etc.) e de
promover a cooperao internacional. Em Junho de
1997, o G-7 acolheu oficialmente a Rssia, trans-
formando-se em G-8, salvo para as questes econ-
micas e financeiras. Em Junho de 2002, a Rssia tor-
nou-se membro do grupo de forma plena. O pas que
recebe a cimeira anual assegura o secretariado das
reunies.
GOVERNAO MUNDIAL 92
personalidades que desempenham funes de chefias
fundamentais, consegue apoderar-se do poder. uma
aco de elite e no de massas. Embora os prepara-
tivos de um golpe de Estado possam ser demorados,
a sua execuo rpida e sbita (Abel Couto).
GOVERNAO MUNDIAL
O conceito de governao mundial refere-se neces-
sidade de promover o desenvolvimento de sistemas
de regulao multilaterais para incitar interde-
pendncia global e ao desenvolvimento sustentado.
O conceito de governao mundial no deve ser con-
fundido com o de governo mundial, que implica uma
autoridade singular ou unitria. A governao mun-
dial envolve a participao de actores no-estatais,
como organizaes no-governamentais, corporaes
multinacionais, meios de comunicao com abran-
gncia global e indivduos. No h um modelo nico
de governao mundial, uma vez que se trata de um
processo complexo e dinmico de deciso interactiva
face a um leque alargado de assuntos comuns. Pro-
cura a construo de um sistema internacional mais
cooperativo, baseado no respeito pelos princpios
democrticos, de mercado livre e de partilha de valo-
res. Uma dimenso importante da ideia de governao
mundial prende-se com a reforma das Naes Unidas,
em especial uma maior nfase na interveno huma-
nitria e um maior envolvimento da organizao na
promoo dos valores democrticos, por exemplo,
atravs da monitorizao de processos eleitorais.
GOVERNO
Processo de legislao e tomada de decises polti-
cas por parte de funcionrios de um aparelho pol-
tico. Pode falar-se de governo enquanto chefias res-
ponsveis politicamente pela tomada de decises. No
passado, quase todos os governos eram chefiados
por monarcas ou imperadores, mas nas sociedades
modernas so chefiados por polticos que no rece-
bem o poder atravs de herana, mas so eleitos ou
nomeados com base na sua experincia ou qualifi-
cao para o cargo.
GOVERNO MILITAR
Governao chefiada por lderes militares e no por
funcionrios eleitos. Os governos militares prolife-
raram no sculo XX, em muitas partes do mundo. H
vrios tipos de governos militares, desde aqueles em
que os militares tendem a governar de forma directa,
at outros em que a governao conduzida por fun-
cionrios nomeados ou directamente responsa-
bilizados pelas chefias militares.
GOVERNO MUNDIAL
Traduz a ideia de uma instituio global suprana-
cional, que centralizaria em si autoridade para obser-
var os assuntos da comunidade mundial, possuindo
GRUPOS DE INTERESSE
Grupos organizados para alcanar objectivos espe-
cficos na rea poltica, actuando principalmente
atravs de presso e fazendo lbi junto dos rgos
legislativos.
GUARDA-CHUVA NUCLEAR
O termo guarda-chuva nuclear decorre do perodo
da guerra fria para traduzir a extenso das armas
nucleares norte-americanas defesa da Europa e do
continente norte-americano. Em termos mais gen-
ricos designa ento que um Estado detentor de armas
nucleares se compromete a alargar a outro Estado
ou grupo de Estados a proteco resultante da posse
destas armas. Geralmente, este compromisso toma
a forma de um compromisso de aliana, exemplifi-
cado pela posio dos EUA na OTAN, aps 1949.
GUERRA
Gaston Bouthoul, no seu Trait de Polmologie,
define a guerra como uma luta armada e sangrenta
entre grupos organizados. Trata-se, assim, de um
conflito em que a violncia aberta e as armas so
efectivamente utilizadas. Para Ortega y Gasset, a
guerra um invento dos homens para resolverem
determinados conflitos.
Raymond Aron, na Paz e guerra entre as naes,
define-a como conflito armado entre unidades pol-
ticas, o que se integra na mesma linha de pensa-
mento de Bouthoul. Aron precisa o conceito ao deli-
mitar o mbito. No se trata de qualquer conflito
armado entre grupos organizados, mas sim, apenas,
entre unidades polticas. Por sua vez, Claude
Rousseau considera a guerra um fenmeno de vio-
lncia poltica, mas introduz uma referncia ao
direito, afirmando que uma luta armada entre
Estados, utilizando meios e formas regulamentados
pelo Direito Internacional, com o fim de impor um
ponto de vista poltico. Quincy Wright entende que
se trata de um conflito entre grupos polticos, espe-
cialmente entre Estados soberanos, conduzido por
importantes contingentes de foras armadas durante
um perodo de tempo considervel. Mantm para o
conceito as caractersticas de conflito armado entre
unidades polticas, omite qualquer referncia ao
Direito, no o limita ao mbito internacional, mas
acrescenta referncias ao tempo (durao) e ao
volume das foras utilizadas, o que permite incluir
os conflitos armados entre rebeldes e governos, bem
como aqueles em que no chega a existir declarao
de guerra, e, por outro lado, excluir do conceito sim-
ples incidentes de fronteira, ou aces de fora rpidas.
Trata-se de conceber a guerra como um fenmeno
exclusivamente cultural, um produto da irraciona-
lidade, ou da m organizao social, concepo que
, em geral, partilhada por todos os pacifistas.
Alguns autores contemporneos, como o general
Beaufre, preconizam um conceito de guerra alargado,
abrangendo situaes em que a luta armada no
GRUPO DOS QUINZE (G-15) 93
So Estados-membros, a Alemanha, Canad, Esta-
dos Unidos, Frana, Itlia, Japo, Reino Unido, Rssia
e a Comisso Europeia.
GRUPO DOS QUINZE (G-15)
Constitudo em 1989, por quinze pases em desen-
volvimento, em Belgrado, aquando da nona Cimeira
dos Pases no Alinhados, com o objectivo de coor-
denar as posies dos pases em desenvolvimento,
face ao Grupo dos Sete, ento formado pelos pases
mais industrializados.
Tem 19 Estados-membros: Arglia, Argentina, Chile,
Colmbia, Egipto, ndia, Indonsia, Iro, Jamaica,
Qunia, Malsia, Mxico, Nigria, Peru, Senegal,
Venezuela, Jugoslvia e Zimbabwe.
GRUPO DO RIO
Criado em 1986, teve no incio uma vocao pol-
tica e um dispositivo permanente de consulta e
de concertao poltica, mas, mais tarde, alargou
os seus objectivos cooperao econmica. Foi
tambm adoptada uma coordenao regular com
a Unio Europeia, sob a forma de reunies minis-
teriais. Tem 19 Estados-membros: Argentina, Bol-
via, Brasil, Chile, Colmbia, Costa Rica, Equador,
Guatemala, Guiana, Honduras, Mxico, Nicar-
gua, Panam, Paraguai, Peru, Uruguai, Repblica
Dominicana, El Salvador e Venezuela. O seu secreta-
riado encontra-se em Assuno (Paraguai).
GRUPO DOS 77 (G-77)
O grupo foi criado em 1964, no quadro da primeira
Conferncia das Naes Unidas para o Comrcio e
Desenvolvimento (CNUCED), visando estabelecer
uma posio comum dos pases em desenvolvimento
nas Naes Unidas, face aos pases industrializados.
Originalmente com 77 membros, ao presente regista
134 membros.
GRUPO DOS 20 (G-20)
Criado em Setembro de 1999, agrupa os ministros
das finanas e governadores dos bancos centrais de
20 pases industrializados e emergentes para formar
um frum de preveno das crises financeiras, com
vista a promover a estabilidade financeira inter-
nacional. Tem 19 Estados-membros mais a Unio
Europeia.
GRUPO DOS 24 (G-24)
Agrupa os ministros das finanas e governadores dos
bancos centrais dos pases em desenvolvimento,
membros do Fundo Monetrio Internacional. O
Grupo foi criado em 1971 pelo Grupo dos 77, para
contrabalanar o peso do Grupo dos 10 no seio do
FMI.
Norte, Pas Basco, ou Palestina. Isto por duas razes:
as actividades terroristas no incluem combates; pelo
contrrio, prprio das aces terroristas evitarem
cuidadosamente todo o contacto com foras arma-
das, orientando-se sempre para alvos indefesos ou
mal defendidos; e, por outro lado, os terroristas no
podem ser considerados combatentes, no s pelos
motivos atrs invocados, mas tambm porque no
cumprem, e deliberadamente se recusam a cumprir,
qualquer das normas do Direito Internacional, rela-
tivamente quer a prisioneiros, quer a procedimen-
tos blicos (proibio do uso de determinados meios
de morte e destruio, salvaguarda de determinados
locais, etc.), quer discriminao entre combaten-
tes, procurando mesmo, intencionalmente, atingir
civis indefesos e neutros.
Conceito de guerra segundo Clausewitz (1780-1831)
Clausewitz estuda o fenmeno da guerra na sua
complexidade social e poltica, assim como ao nvel
da sua natureza militar. O conceito de guerra expresso
em toda a sua obra, da qual se destaca o livro Da
guerra, pode sintetizar-se no seguinte: a guerra um
fenmeno poltico complexo com origem no Estado.
A primeira definio que Clausewitz apresenta da
guerra uma definio racional, deduzida, subs-
tantiva e polarizada: acto de violncia destinado a
forar o adversrio a submeter-se nossa vontade.
De acordo com esta definio, a guerra um duelo
no qual a violncia o meio para obter um fim
impor a vontade. Daqui resulta que, em teoria, desde
que necessrio para atingir o fim, legtimo o uso
ilimitado da fora. Do conceito de guerra ideal,
Clausewitz deduziu a lei da ascenso aos extremos,
atravs do princpio de reciprocidade a que chamou
lei do outro. Na guerra reduzida sua essncia, acto
de violncia para mtua imposio de vontades, ine-
vitavelmente cada aco de um dos adversrios con-
tra o outro obriga este a responder com aco da
mesma natureza, a fim de no ser submetido (lei do
outro, isto , nenhum dos lutadores inteiramente
livre de decidir o seu comportamento), devendo porm
acrescentar na resposta um pouco mais de violncia
do que a recebida, para por sua vez tentar submet-
-lo, do que resulta uma espiral de violncias cres-
centes, que s dever terminar quando uma das par-
tes atingir o limite das suas foras (ascenso aos
extremos). Segundo a essncia da guerra, portanto,
esta deveria logicamente conduzir sempre ani-
quilao (no sentido de p-las fora de combate, no
necessariamente no de extermin-las) das foras
armadas do inimigo, e ao derrube do respectivo
governo. No conceito de guerra ideal, os advers-
rios so imaginados em situao de oposio abso-
luta, excluindo-se totalmente todas as circunstncias
exteriores prpria luta, num jogo de soma nula, em
que tudo o que um ganha o outro perde.
No conceito de guerra real, Clausewitz con-
templa as contingncias que no mundo dos factos
sempre se verificam. As guerras concretas no so
instantneas, nem desligadas do espao, e, por
isso, enquanto decorrem, as foras e a vontade dos
adversrios vo sofrendo inevitvel desgaste, tanto
GUERRA 94
chega a ocorrer, nem houve sequer declarao de
guerra, situaes essas que englobam o seu conceito
de guerra fria. Assim sendo, o conceito clssico de
guerra como conflito armado entre unidades polti-
cas, adequado guerra praticada at 1945, j no cor-
responde inteiramente s realidades do mundo
actual. alargado s situaes em que, sem chegar
a haver luta armada, mas mantendo-se esta como
possibilidade, as unidades polticas pratiquem siste-
mtica e continuamente, umas em relao s outras,
actos diplomticos, econmicos, polticos e de pro-
paganda, apoios a movimentos de dissidentes ou de
insurrectos, infiltrao de agentes, organizao de
alianas, movimentao de foras militares, estabe-
lecimento de bases militares no estrangeiro, etc., des-
tinados a enfraquecer ou de qualquer forma prejudi-
car os governos adversos e os respectivos interesses.
A guerra surge-nos como uma luta armada, fun-
damentalmente entre Estados, no englobando
outras formas de violncia que no a militar enquanto
irreconcilivel com a paz, sendo a paz e a guerra duas
noes que se excluem mutuamente; submetida a
convenes que marcam o seu comeo (declarao
de guerra) e o seu termo (armistcio ou tratado de
paz); respeitando, no seu desenrolar, regras de direito
e de honra; e mesmo como ltima ratio regum, seria
uma ruptura temporria do equilbrio de foras que,
tendo sido capazes de estabelecer a paz, no so sufi-
cientes para a manter.
No conceito de guerra h que considerar trs ele-
mentos essenciais. O primeiro o da guerra ser con-
cebida como uma manifestao da violncia colec-
tiva. Este o seu meio, e para muitos autores, desde
Clausewitz a Raymond Aron, passando por todos os
marxistas, mesmo esta a sua caracterstica funda-
mental, no se devendo designar por guerra um con-
flito em que a violncia colectiva, fsica e armada,
entre as partes, no ocorra efectivamente.
Um segundo aspecto diz respeito natureza tanto
dos agentes como dos objectivos. Todos os autores
concordam que se trata de grupos organizados, pros-
seguindo objectivos que podem colocar-se em diver-
sos domnios, mas, embora a linguagem comum fale,
por exemplo, de guerras entre grupos organizados
de criminosos, na linguagem tcnica consensual
reservar-se o conceito para a luta entre grupos poli-
ticamente definidos, procurando atingir fins que,
embora de uma grande diversidade, so formulados
por rgos polticos, visando configurar uma futura
situao de paz politicamente diferente da anterior.
Num terceiro elemento, pe-se o problema dos
aspectos formais, como o da existncia ou no de uma
declarao de guerra, o da durao das hostilidades,
o da dimenso das foras envolvidas e o do nmero
de mortes directamente causadas pelas aces de
guerra.
Estes aspectos formais so indispensveis para dis-
tinguir as guerras dos incidentes de fronteira, das
aces relativamente rpidas, das aces isoladas de
represlia, ou das actividades terroristas. Vrios auto-
res afirmam ser errado falar-se em guerras a prop-
sito de actividades terroristas, quando estas consti-
turem a nica forma de luta, como na Irlanda do
Norte no previam nem desejavam; os anos de 1970
e 1980 foram perodos de estagnao econmica glo-
bal, de resistncia dos Estados Unidos sua deca-
dncia e de desencanto do Terceiro Mundo, desilu-
dido com a sua prpria estratgia.
Embora no implicando conflito armado entre
soviticos e americanos, a guerra fria conheceu vrias
crises e conflitos: o bloqueio de Berlim (1948-1949);
a guerra da Coreia (1950-1953); a crise do Suez (1956);
a construo do muro de Berlim (1961); a guerra do
Vietname (1964-1975); e a crise do Afeganisto (1979).
A causa fundamental da guerra fria foi a sria con-
vico, tanto por parte da URSS como por parte dos
Estados Unidos da Amrica, de que a confrontao,
imposta pela incompatibilidade ideolgica, era ine-
vitvel. O capitalismo e o comunismo eram mutua-
mente repelentes. Os lderes soviticos acreditavam
que o comunismo triunfaria no mundo e que a Unio
Sovitica era a vanguarda de um Estado socialista no
caminho da era comunista global. Acreditavam tam-
bm que os poderes imperialistas ocidentais esta-
vam destinados historicamente a tentar evitar o
triunfo do comunismo e, por isso, a prosseguirem
uma poltica agressiva contra eles. Por seu lado, os
americanos e outros lderes ocidentais assumiam
como certo que a Unio Sovitica estava determinada
a fortalecer o seu poder poltico e econmico para
prosseguir a sua expanso sem olhar a meios para
atingir o seu fim um mundo comunista liderado
pelos soviticos. Os dois blocos eram compelidos, pela
simples existncia do bloco oposto, a prosseguir uma
zero-sum competition e cada um dos dois blocos via
na incompatibilidade ideolgica uma inevitabilidade
de confronto histrico que se confirmava na guerra
fria.
Os lderes soviticos caracterizavam o sistema oci-
dental como imperialista decadente; por seu lado,
os lderes americanos retratavam os regimes comu-
nistas como terrveis autocracias. We will bury you
declarou o lder sovitico Kruschev, acreditando
na superioridade do sistema comunista. Um quarto
de sculo depois, o presidente norte-americano
Ronald Reagan chamava Unio Sovitica o imp-
rio do mal.
A guerra fria foi, portanto, no somente uma riva-
lidade poltica no sentido tradicional como entre
Roma e Cartago no sculo III a.c. ou como entre a
Frana e a Gr-Bretanha no sculo XVIII. Ela con-
teve um elemento de intensificao: a ideologia.
Evidentemente que outras motivaes, interesses e
objectivos tiveram o seu papel, incluindo o interesse
nacional, interesses institucionais, e consideraes
psicolgicas pessoais. Mas, todos estes factores ten-
deram a fortalecer o elemento ideolgico e no a
enfraquec-lo. A guerra fria foi uma luta entre duas
vises filosficas e sociopolticas da vida humana
dois projectos de sociedade que se serviram da ideo-
logia, pois s esta consegue exprimir essas vises,
quer integrando uma comunidade ao redor destas,
quer legitimando o seu regime poltico de autoridade.
Assim, num esforo de sntese obviamente sim-
plificador podemos dizer que de um lado estava o
comunismo, com um sistema no democrtico, com
GUERRA FRIA 95
maior quanto maior for a durao das hostilida-
des, desgaste esse que se designa por atrito ou atri-
o, e que tambm proporcional s distncias
percorridas, intensidade dos combates e conse-
quente consumo de recursos, e natureza e difi-
culdade dos obstculos opostos progresso das
foras, pelo que resulta desigual para cada uma das
partes em luta.
A afirmao de Clausewitz que condensa, na sua
opinio, as relaes da guerra com a poltica, conhe-
cida pelo nome de frmula: A guerra no
somente um acto poltico, mas um verdadeiro ins-
trumento poltico, uma continuao das relaes
polticas, uma realizao destas por outros meios.
Esta frmula permite entender a distino feita por
Clausewitz entre os fins da guerra (objectivo da
guerra) e os fins na guerra (objectivo na guerra). A
guerra tem por objectivo a paz; o objectivo na guerra
destruir as foras militares, o que significa que estas
tm de ser colocadas em tais condies que se tor-
nem incapazes de prosseguir o combate.
Tipos de guerra
Entre os vrios tipos de guerra, importa ter em
considerao a guerra fria; a guerra clssica ou con-
vencional, que comporta essencialmente o emprego
de meios militares, com excepo de meios nuclea-
res, combinado com aces de guerra fria e, even-
tualmente (caso de potncias nucleares), a guerra
nuclear (caracterizada pela ameaa de emprego ou
pela prpria utilizao de armas nucleares); as guer-
ras internas (no mbito das quais se podem consi-
derar quatro formas principais de aces violentas,
visando a conquista do poder pela fora: as revolu-
es, os golpes de estado, as revoltas militares e as
guerras subversivas).
GUERRA FRIA
Expresso de Bernard Baruch, conselheiro de Roose-
velt, para qualificar o perodo compreendido entre
os finais da Segunda Guerra Mundial (1945) e a queda
do Muro de Berlim (1989), perodo tambm qualifi-
cado por Raymond Aron de guerra improvvel, paz
impossvel, uma vez que a dissuaso nuclear impe-
diu as duas superpotncias rivais, EUA e URSS, de
desencadearem uma guerra, mas sendo tambm a paz
impossvel, uma vez que os dois actores em causa
eram adversrios.
Segundo Immanuel Wallerstein, este perodo apre-
senta quatro caractersticas essenciais: os Estados
Unidos da Amrica constituam a potncia hegem-
nica num sistema mundial unipolar, com o seu poder
baseado na vantagem esmagadora da sua produtivi-
dade econmica a partir de 1945 e num sistema de
alianas com a Europa ocidental e o Japo, atingindo
o apogeu entre 1967 e 1973; os Estados Unidos e a
URSS envolveram-se num conflito formal (mas no
real), no qual a URSS agia como agente subimperia-
lista dos Estados Unidos; o Terceiro Mundo imps a
sua presena aos Estados Unidos, URSS e Europa
ocidental, reivindicando direitos que os pases do
GUERRILHA 96
uma economia centralizada e regulada por valores
materialistas. Do outro lado o sistema de democra-
cia liberal, com uma economia de mercado, por vezes
regulado por valores cristos.
GUERRILHA
Do espanhol guerrilla, significa pequena guerra,
procurando designar ao mesmo tempo uma tcnica
e uma forma blica historicamente real, caracteri-
zada sobretudo pela irregularidade dos combatentes,
pelo uso de meios no convencionais e pelo seu
mbito infra-estatal. A no convencionalidade con-
siste no corte com a tradio militar que uniu os
exrcitos modernos, residindo numa nova tcnica
blica, a qual vive da actuao em pequenos ncleos,
da mobilidade dos combatentes, da flexibilidade de
estruturas organizativas e logsticas, do uso de todas
as armas possveis, finalmente do recurso a meios que
vo desde a guerra psicolgica aco terrorista.
Quanto irregularidade dos guerrilheiros, ela tra-
duz-se numa certo pragmatismo marcial, que pode
incluir a no exibio de sinais distintivos, a ocul-
tao de armas, a movimentao clandestina e a no
subordinao ao poder poltico organizado. A sua
forma de luta consiste basicamente em aces de sur-
presa, por meio de emboscadas, com rpida incur-
so no local de combate e fcil retirada.
O actual conceito de guerrilha surgiu durante a
guerra da independncia espanhola (1808-1814).
Posteriormente, desempenhou um papel relevante na
independncia da Amrica Latina e j no sculo XX
converteu-se no principal instrumento das lutas anti-
colonialistas e de resistncia perante foras domi-
nadoras ou invasoras. Com a independncia das col-
nias, a guerrilha, integrada essencialmente por cam-
poneses, passou a ser tambm urbana, como processo
de apoio s aces iniciadas nas zonas rurais, com
as suas zonas libertadas controladas pelos guerri-
lheiros. A guerrilha consegue assim distrair parte das
foras do inimigo, que se v forado a proteger os
seus prprios centros de deciso poltica. A guerri-
lha revolucionria deu origem ao aparecimento de
tericos, de entre os quais se destacam Mao Ts-Tung
na China, Ho Chi-Minh e Giap no Vietname e Che
Guevara na Amrica Latina.
nhar esse papel. Deste modo, o conceito de hege-
monia aproxima-se bastante do de poder. Actual-
mente, tem havido tendncia para alargar o conceito
no sentido de aceitar como actores hegemnicos mais
do que um Estado, como, por exemplo, o trilate-
ralismo a trade, envolvendo os Estados Unidos da
Amrica, Japo e Unio Europeia pelo menos
em termos econmicos. Na teoria marxista, o
termo hegemonia usado com uma conotao
mais tcnica e especfica. De acordo com Antonio
Gramsci (1891-1937), hegemonia refere-se capa-
cidade da classe dominante exercer o poder atra-
vs da conquista do consentimento daqueles que
subjuga, como alternativa ao uso da coero. Como
uma forma de domnio no coerciva, a hegemonia
tipicamente entendida como um processo cultu-
ral ou ideolgico que opera atravs da disseminao
de valores e crenas burguesas na sociedade. Con-
tudo, tem tambm uma dimenso poltica e econ-
mica: o consentimento poder ser manipulado por
aumentos de pagamentos ou por reformas sociais e
polticas.
HIGH POLITICS/LOW POLITICS
As high politics so as polticas respeitantes lei e
ordem e guerra e paz. So tradicionalmente as pol-
ticas de segurana e defesa ligadas aos interesses
estratgicos dos Estados. Por contraponto, as cha-
madas low politics, so as polticas relativas s ver-
tentes scio-econmicas. Esta diviso entre high e
low politics tradicionalmente defendida pelos rea-
listas clssicos e parte do pressuposto que as pri-
meiras so mais importantes que as segundas e que
os estadistas tendem a ter menos interesse pelas low
politics do que pelas high politics.
Com o final da guerra fria e a crescente interna-
cionalizao das relaes entre os Estados, bem como
face a um conjunto alargado de novos desafios de
ndole econmica, social, cultural, religiosa, poltica,
etc., as low politics tm assumido cada vez maior
relevncia na cena internacional, onde os factores
socio-econmicos so cada vez mais preponderantes,
afectando o quadro onde se desenvolvem as Relaes
Internacionais actuais.
HARDWARE
Conjunto de equipamentos fsicos utilizados nos sis-
temas informticos.
HEARTLAND
Conceito utilizado, em 1919, por Halford John Mac-
kinder (1861-1947). Corresponde a uma reviso dos
limites da rea do pivot geogrfico da Histria
(1904), mantendo no essencial o significado geopo-
ltico deste. As principais alteraes verificam-se a
sul, onde aqueles limites se expandem, passando a
abranger todo o deserto do Gobi assim como o pla-
nalto do Tibete at aos Himalaias, e, sobretudo, a
oeste, onde a linha limite, agora, liga o Mar Negro
ao Bltico passando deste modo a incluir o Cucaso,
os Crpatos e parte dos Balcs.
Em 1919, Mackinder refere, ainda, a existncia
de um heartland do sul, que se estende pelo inte-
rior de frica desde o Sara at regio do Cabo.
Constitui uma vasta regio plana de revesti-
mento herbceo, separada das regies litorais
por linha praticamente contnua de obstcu-
los naturais de difcil transposio, cadeias de mon-
tanhas paralelas costa e densas florestas nas regies
tropicais, fazendo dela uma regio de difcil acesso
para as potncias martimas mas de fcil transita-
bilidade por linhas interiores, susceptvel de
poder gerar um poder terrestre de dimenso conti-
nental na potncia que conseguisse unific-la e
desenvolv-la.
HEGEMONIA
Hegemonia (do grego hegemonia, lder), , no seu
sentido mais simples, a ascendncia ou domnio de
um elemento do sistema sobre outros, como, por
exemplo, o predomnio de um Estado no seio de uma
Liga ou Confederao. Um Estado hegemnico um
Estado dominante em termos econmicos e milita-
res, que usa o seu poder sem igual para criar e pr
em prtica regras que tm por objecto a preservao
da ordem mundial e das suas posies nessa mesma
ordem. No sistema internacional, esta liderana ou
primazia seria concretizada pelo Estado hegemnico
que possusse capacidade suficiente para desempe-
H
98 HIPTESE
HIPTESE
Ideia ou intuio acerca de um determinado estado
de coisas e que a base de um teste emprico pos-
terior.
A hiptese constitui um poderoso instrumento de
conhecimento, proporcionando uma orientao
investigao, propondo uma tentativa de explicao,
fornecendo um plano e indicaes precisas quanto
maneira de conduzir a explorao.
Alguns autores distinguem a hiptese derivada da
observao (hiptese indutiva), da hiptese derivada
de uma teoria susceptvel de estabelecer previses
(hiptese dedutiva).
A hiptese, por si s, no garante o xito da inves-
tigao e deve ser submetida continuamente a veri-
ficaes (Bruno Deshaies).
no contexto do Wilsonianismo doutrina de Woodrow
Wilson (presidente dos EUA entre 1912 e 1920) pre-
conizando que os americanos s podiam defender
envolvimentos internacionais justificados pelos seus
valores morais.
Os pressupostos do idealismo encontram-se expres-
sos nos chamados Catorze Pontos do presidente norte-
-americano Wilson, anexos ao Tratado de Paz de Ver-
salhes.
Wilson pediu s naes europeias que empreen-
dessem algo para que no estavam filosfica nem his-
toricamente preparadas, precisamente depois de a
guerra de 1914-1918 lhes ter esgotado os recursos.
Durante trezentos anos, as naes europeias tinham
baseado a sua ordem mundial no equilbrio de inte-
resses nacionais e as suas polticas externas na pro-
cura de segurana, considerando qualquer beneficio
adicional como um bnus. Wilson pedia s naes da
Europa que baseassem a sua poltica externa em con-
vices morais, deixando que a segurana aconte-
cesse acidentalmente, se acontecesse... Convencido
de que todas as naes do mundo tinham um inte-
resse igual na paz e que, portanto, se uniriam para
punir aqueles que a perturbassem, Wilson props a
defesa da ordem internacional pelo consenso moral
entre os defensores da paz, institucionalizada na
Sociedade das Naes, ento criada (Henry Kissinger).
De acordo com Philippe Braillard, esta concepo
das Relaes Internacionais pe o acento tnico na
interdependncia e na cooperao, considerando que
as Relaes Internacionais contemporneas no cor-
respondem ao modelo conflitual e interestatal do
paradigma realista. Efectivamente, a dinmica de
modernizao desencadeada pela revoluo industrial
e que conheceu, depois da Segunda Guerra Mundial,
um impulso sem precedentes, sob o efeito do desen-
volvimento tecnolgico e do crescimento das trocas
internacionais, contribuiu para tecer uma teia com-
plexa de interdependncias entre as diversas socie-
dades e para fazer aparecer novos tipos de actores
nas Relaes Internacionais. Este processo de moder-
nizao suscitou necessidades e solicitaes novas
nas nossas sociedades e fez aparecer sistemas de valo-
res fundamentados no bem-estar econmico e social.
Outras foras supranacionais, transnacionais,
subnacionais e multinacionais tomaram lugar na
cena internacional limitando, em numerosos casos,
a margem de manobra dos Estados.
IALTA (CONFERNCIA DE)
Reunio dos representantes dos Estados Unidos da
Amrica, URSS e Gr-Bretanha, que teve lugar em
Ialta, na Crimeia, entre 4 e 11 de Fevereiro de 1945,
com o objectivo das trs potncias resolverem algu-
mas questes que permaneciam em aberto, no con-
texto ps-Segunda Guerra Mundial, nomeadamente
o futuro da Europa aps a derrota da Alemanha de
Hitler.
De acordo com as resolues tomadas, a Alemanha
desmilitarizada e dividida em quatro zonas ocu-
padas pelos Estados Unidos, URSS, Gr-Bretanha e
Frana. Fica tambm obrigada a pagar compensaes
financeiras e perde boa parte do seu territrio, nomea-
damente a Prssia oriental e parte da Pomernia. A
Polnia absorve parte dos territrios desmembrados
da Alemanha, embora Roosevelt, Churchill e Estaline
no conseguissem estar de acordo quanto s suas
fronteiras. Nesta reunio, as trs potncias compro-
meteram-se, ainda, a reconstruir o continente euro-
peu pela via democrtica, constituindo governos
legalmente representativos dos sectores no fascis-
tas da populao.
A URSS comprometia-se, aps a capitulao da
Alemanha, a entrar em guerra com o Japo, mas exi-
giu a parte meridional da ilha Sacalina, as ilhas
Curilhas, a restituio das suas posies perdidas na
guerra russo-japonesa de 1904-1905, e o restabele-
cimento da sua influncia na Manchria (China).
Mais tarde, a violao da resoluo sobre a demo-
cratizao da Europa por parte da Unio Sovitica,
impondo regimes comunistas nos pases da Europa
Oriental, ento ocupados pelo exrcito vermelho,
levou diviso da Europa em dois blocos, pela cor-
tina de ferro, a justificar, de certo modo, o mito ali-
mentado durante a guerra fria, da partilha do mundo
em Ialta.
IDEALISMO
Teoria das Relaes Internacionais que pe a tnica
na importncia das normas morais e legais, e na
importncia das organizaes internacionais, em
oposio teoria realista (realismo), que enfatiza
o poder, o interesse nacional e a soberana indepen-
dncia do Estado. O conceito surgiu nos anos de 1920,
I
Assim, o esprito da ideologia depende, evidente-
mente, do regime poltico, do sistema de poder. Se
este liberal, as ideologias florescem plenamente
e enriquecem-se com o confronto; se autorit-
rio, refugiam-se no seio de sociedades secretas e a
estreiteza necessria da sua base social refora o seu
dogmatismo e a sua intransigente pureza. V-se
assim que a natureza das ideologias diz respeito
natureza do regime poltico. Conforme este professe
ou no o pluralismo, permita ou no que as corren-
tes de ideias se exprimam, tal ideologia ser prs-
pera ou esqueltica, aberta ou esclerosada. Neste
sentido, a grande distino entre ideologias situa-
-se ao nvel das ideologias totais versus ideologias
parciais. Esta diferena baseia-se nos regimes pol-
ticos em que estas se inserem e pretendem legitimar.
Deste modo, quando falamos em ideologia total esta-
mos a referir-nos ideologia de um regime totalit-
rio, que pretende a explicao global do papel do
homem nesse mesmo sistema, no lhe deixando
espao alternativo.
Foi mesmo o sistema totalitrio quem melhor usou
a ideologia para legitimar o seu poder. De facto, nos
regimes totalitrios ela era fundamental, pois aqui
o sistema funcionava para e com a ideologia.
IGREJA
Conjunto de pessoas que pertencem a uma orga-
nizao religiosa estabelecida, como a igreja cat-
lica na sua origem, uma pequena seita agrupada
em redor dos apstolos , as igrejas orientais cat-
licas, as igrejas orientais ortodoxas, e a igreja orto-
doxa.
ILHA MUNDIAL
Nome atribudo por Halford John Mackinder, em
1919, ligao entre a frica e a Eursia, enorme
massa continental, separada do resto do mundo por
uma cintura contnua de oceanos (da a designao
de ilha). Esta divide-se, segundo o autor, em seis
regies distintas: dois heartlands (o da Eursia e o
que fica a sul do deserto do Sara), duas regies de
separao e de articulao entre a frica e a Eursia
(Sara, agregando o Magrebe e o Prximo e Mdio
Oriente a que Mackinder designa de Arbia), e duas
regies densamente povoadas (Europa costeira e a
regio costeira das mones), sede de potncias mar-
timas.
IMAGEM
Conceito utilizado com dois sentidos bsicos. Um
relativo a uma perspectiva geral das Relaes
Internacionais e da poltica mundial, que consiste na
assuno de determinados pressupostos acerca dos
actores e dos processos das Relaes Internacionais.
O outro relativo ao ponto de vista de um indivduo
acerca do mundo, o qual tende a ter uma interpre-
tao subjectiva da realidade. Como conceito anal-
100 IDEOLOGIA
IDEOLOGIA
O uso mais antigo da palavra ideologia proveio de
uma escola de pensamento da filosofia francesa sete-
centista, de um grupo de pessoas que se chamavam
a si prprias ideologues, defensoras de uma teoria das
ideias, considerando que a filosofia no tem a ver com
coisas, com a realidade, mas apenas com ideias. Se
esta escola de pensamento tem ainda algum inte-
resse, talvez porque o uso pejorativo da palavra
ideologia comea precisamente por referncia a ela.
Como opositores do Imprio Francs sob Napoleo,
os membros desta escola eram displicentemente tra-
tados por ideologues. Por consequncia, a conotao
negativa do termo remonta a Napoleo e foi aplicada
pela primeira vez a este grupo de filsofos.
provvel que tenha sido o filsofo francs Destutt
de Tracy quem, em 1795, usou pela primeira vez a
palavra ideologia. Divulgou-se com a interveno
retrica da Revoluo Francesa, depois com a an-
lise marxista, e assim ganhou vrios sentidos, que
Roger Scruton reduz a dois principais: uma doutrina
que pretende fornecer uma completa viso do homem
e da sociedade, derivando dessa premissa um pro-
grama de aco poltica neste sentido, compreende
todos os aspectos da condio poltica do homem e
pretende influenciar a mudana dessa condio; no
sentido marxista, corrente ortodoxa, a ideologia refere
o conjunto de ideias e valores com a funo social
de consolidar e justificar uma ordem econmica,
representando, como sendo da natureza humana,
as condies sociais que persistem. Trata-se, enfim,
de alcanar a hegemonia de classe dominante per-
suadindo os oprimidos de que a sua situao natu-
ral e justificada: como foi dito, mistifica, legitima e
consola.
Foi por isso que Norberto Bobbio introduziu a dis-
tino entre significado fraco e significado forte da
palavra ideologia: no primeiro caso, trata-se de refe-
rir um conjunto de valores e de ideias guias do com-
portamento poltico; no segundo caso, o conceito de
Marx da falsa conscincia das relaes de domnio
entre classes, fundamental, servindo a ideologia para
manter a obedincia e a estrutura. Por seu turno,
Raymond Aron chamou s ideologias o pio dos inte-
lectuais.
Cabe perguntar como as diferentes solues ou
aplicaes da palavra ideologia se relacionam com a
polissemia diversidade de contextos semnticos e
histricos, ou significados culturais do conceito
ideologia, o qual, por sua vez, estaria relacionado com
a tenso entre a nfase dos temas da emancipao e
da liberdade, em diferentes contextos da histria da
modernidade, e um correspondente deslocamento do
seu contedo utpico.
A ideologia tem como funo bsica preencher,
atravs da legitimao, o hiato que existe sempre
entre a pretenso do sistema de poder e a crena do
cidado na legitimidade dessa pretenso. Assim, a
ideologia tem uma relao de homologia com o tipo
de regime, de sistema de poder. Por outras pala-
vras, a ideologia que legitima um sistema de poder
existe em relao reflexa com esse sistema de poder.
riormente constituiu a base da viso comunista das
Relaes Internacionais e das causas da guerra. O
movimento competitivo gerado pelo capitalismo
resultaria invariavelmente em guerras imperialis-
tas generalizadas, que por sua vez destruiriam o pr-
prio capitalismo, dessa forma abrindo caminho ao
socialismo. Na tradio marxista, o Imperialismo
entendido, ento, como um fenmeno econmico
que tipicamente resulta da presso para a exporta-
o de capital.
A equao capitalismo = imperialismo = guerra
teve enorme influncia no mundo do sculo XX,
embora o seu poder explicativo seja limitado. Vrios
analistas questionam a conexo entre capitalismo e
imperialismo e apontam a frequncia de guerras e
conquistas imperiais muito antes do desenvolvimento
do capitalismo moderno (Schumpeter). Alm do
mais, difcil explicar o registo expansionista da ex-
-Unio Sovitica sob esta frmula (imperialismo
socialista) bem como o a aparente ausncia de dese-
jos imperialistas em sociedades capitalistas avana-
das como a Sua ou Sucia.
Explicaes alternativas, questionando a insis-
tncia marxista/leninista na ligao entre capitalismo
e imperialismo abundam na literatura. As exigncias
das polticas de poder, imperativos estratgicos,
manobras diplomticas, a procura de honra e pres-
tgio, o surgimento de nacionalismos agressivos,
mudanas na tecnologia militar, a mudana no poder
dos mares, o desenvolvimento das comunicaes, o
aumento do poder dos media, a extenso do sistema
ferrovirio, a inveno do telgrafo so factores que
tm sido identificados como relevantes no surgi-
mento do imperialismo moderno, tal como o foram
os impulsos humanitrios ou missionrios, e ideo-
logias raciais. Claramente, o fenmeno no sus-
ceptvel de uma explicao monocausal ou determi-
nstica; mais provvel que resulte da combinao
de um nmero de diferentes elementos que existiam
em alguns imperialismos e no noutros. Aparte a
viso marxista/leninista, outra que enfatiza a natu-
reza determinstica do imperialismo a escola rea-
lista, onde o imperialismo entendido como uma
consequncia inevitvel de um sistema internacio-
nal multiestatal anrquico. De acordo com os teri-
cos realistas, o Imperialismo um fenmeno pol-
tico, traduzido na procura de poder e vantagens estra-
tgicas atravs da expanso e conquista.
No seu uso corrente o termo foi politizado e
refere-se a qualquer forma de dominao de um
grupo sobre outro. Imperialismos econmico, cul-
tural, estrutural so expresses frequentemente
usadas para descrever formas de relacionamento sub-
tis que no envolvem controlo poltico claro. Os neo-
marxistas chamam a ateno para esta forma mais
subtil de imperialismo, o denominado neocolonia-
lismo, atravs do qual as potncias industrializadas
dominam economicamente territrios estrangeiros,
enquanto respeitando a sua independncia poltica
formal. As noes de neoimperialismo, neocolonia-
lismo e dependncia ajudaram no processo de trans-
formao do sentido do termo face ao seu significado
tradicional, de tal modo que, para alguns, o termo
IMPERIALISMO 101
tico das Relaes Internacionais introduzido por
Boulding, uma imagem uma construo subjectiva
feita por um indivduo ou grupo acerca do seu meio
fsico e social. uma construo psicolgica que
resulta da amlgama de factores cognitivos e afecti-
vos que contm elementos do passado, presente e
futuro. Deste modo, existe sempre uma diferena
entre a imagem e a realidade. A imagem mais bsica
na poltica internacional a imagem que os povos
tm de si mesmos, expressa atravs do conceito de
nacionalidade e das ideias de nacionalismo. Outra
das formas mais comuns de operacionalizar o con-
ceito em Relaes Internacionais atravs das ima-
gens de amigo/inimigo, de amizade ou de hostilidade
que os actores da poltica internacional tm dos seus
interlocutores, conhecida como mirror image.
IMPERIALISMO
Imperialismo , genericamente, a poltica de exten-
so do poder de um Estado para alm das suas fron-
teiras. Numa fase inicial, o imperialismo era uma
ideologia que apoiava a expanso militar e aquisies
imperiais, geralmente com base em doutrinas nacio-
nalistas e racistas. Actualmente, o termo mais usado
para descrever o sistema de domnio poltico ou explo-
rao econmica que a prossecuo de tais objecti-
vos ajudou a estabelecer. Refere-se, ento, relao
entre um Estado hegemnico e Estados, naes ou
povos subordinados ao seu controlo. A poltica impe-
rial, geralmente significa uma projeco deliberada
do poder de um Estado para alm da sua rea origi-
nal de jurisdio, com o intuito de formar uma uni-
dade poltica e administrativamente coerente sob o
controlo da potncia hegemnica. Este domnio est
associado ao colonialismo. Um imprio poder resul-
tar da completa integrao econmica e poltica dos
subordinados sob a forma de entidade supranacio-
nal, enquanto as colnias esto separadas e subor-
dinadas por definio. No entanto, na prtica, os dois
conceitos coincidem.
A expanso territorial um fenmeno antigo, mas
no mundo contemporneo identificam-se duas fases
distintas: imperialismo mercantilista ou dinstico,
aproximadamente entre 1492 e 1763, que testemu-
nhou o controlo Europeu do hemisfrio ocidental e
de grande parte da sia; e o novo imperialismo, de
1870 a 1914, e que revelou a subjugao de grande
parte da frica e de parte do Extremo-Oriente ao
domnio europeu. O perodo entre estas duas formas
de Imperialismo foi caracterizado por consideraes
internas, como a balana de poder, livre comrcio,
nacionalismo e a Revoluo Industrial a ocuparem
as agendas dos Estados europeus.
Relativamente ao desenvolvimento das teorias do
Imperialismo, a segunda fase atraiu mais ateno. O
primeiro esforo nessa direco foi o de Hobson, que
ligava o fenmeno a exigncias do capitalismo maduro
aos mercados, oportunidades de investimento, mat-
rias-primas e mo-de-obra barata. A tese defendida
por Hobson foi retomada por Lenine em Imperialism:
The Highest State of Capitalism (1916), que poste-
INFORMTICA
Conjunto das reas cientficas e das tcnicas aplica-
das ao tratamento automtico da informao.
INICIATIVA PARA AS AMRICAS
Enterprise for the Americas Initiative
Em Junho de 1990, os EUA apresentaram a proposta
Iniciativa para as Amricas, dentro de um quadro
de apoio aos governos da Amrica Latina e Carabas,
para enveredarem no trilho das reformas. Neste pro-
grama foram focados trs aspectos essenciais: as tro-
cas, os investimentos e a dvida externa.
O comrcio intra-continental representa a pea
fundamental, tendo em vista a etapa final da criao
de uma zona de comrcio livre para todo o espao
americano. nesta perspectiva que os EUA come-
aram, a partir de 1991, a negociar acordos-quadro
sobre trocas e investimentos, de carcter bilateral,
com a maior parte dos pases da regio.
Tendo em vista a implantao de um regime aberto
em matria de investimentos, tornando a Amrica
Latina um plo de atraco de capitais, a Iniciativa
para as Amricas criou dois novos programas admi-
nistrados pelo Banco Interamericano de Desenvol-
vimento. O primeiro consubstancia-se em emprs-
timos sectoriais para apoiar os esforos de privati-
zao e liberalizao de investimentos. O segundo
caracteriza-se pela criao de um Fundo de Inves-
timento Multilateral.
No que se refere dvida externa, foi criado um
organismo gerido pelo Secretrio de Estado do
Tesouro norte-americano, a fim de tratar dos planos
de reduo das dvidas externas dos pases latino-
-americanos.
INICIATIVA DE DEFESA ESTRATGICA
(IDE)
Strategic Defence Initiative (SDI)
Sistema constitudo por equipamento e armas no
nucleares, colocados principalmente no espao e
capaz de detectar, identificar, seguir, interceptar e
destruir msseis balsticos durante a sua trajectria.
Conhecido pela expresso Guerra das Estrelas,
foi proposto pelo presidente dos EUA, Ronald Reagan,
em Maro de 1983.
O sistema reparte-se por quatro camadas corres-
pondentes s quatro fases consideradas na traject-
ria dos msseis: fase inicial, de lanamento ou de igni-
o; fase de separao individual das ogivas trans-
portadas pelo mssil; fase intermdia, espacial ou
balstica; e fase terminal de reentrada na atmosfera
em direco aos alvos.
No espao, localizam-se sensores e satlites que
controlam as trajectrias dos msseis e ogivas, bem
como estaes de raios laser e de feixes de partcu-
las, os quais vo atingir e destruir os msseis ou ogi-
vas, directamente ou por intermdio de espelhos
reflectores. Em terra existem sistemas de comando,
IMPOSIO DA PAZ 102
corresponde a um slogan poltico to vago e abran-
gente que perdeu utilidade prtica ou terica no
estudo dos assuntos internacionais.
IMPOSIO DA PAZ
Peace enforcement
Interveno militar com o objectivo de impor o cum-
primento de resolues ou sanes internacionais
tendo em vista a manuteno ou a reposio da paz
e segurana internacionais. O pessoal armado neste
tipo de intervenes est autorizado a agir para alm
do estatuto de neutralidade, podendo recorrer fora
para, por exemplo, obter um cessar-fogo.
IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE
Causa de cessao da vigncia (ou de suspenso da
dita vigncia) das convenes internacionais, nos ter-
mos da qual o desaparecimento ou destruio per-
manente de um objecto indispensvel execuo da
conveno autoriza uma parte a impor esse efeito.
Se esta impossibilidade for temporria, apenas pode
ser invocada como motivo de suspenso da aplica-
o do tratado.
IMUNIDADE JURISDICIONAL
Privilgio de que beneficiam os agentes diplom-
ticos no Estado acreditador que consiste na impos-
sibilidade de ser imposto a este a presena perante
as autoridades jurisdicionais para apreciao da sua
conduta. Ela absoluta em termos penais e conhece
algumas excepes em termos civis e administrati-
vos. Implica ainda que o agente no seja obrigado a
prestar depoimento como testemunha. A imunidade
jurisdicional no Estado acreditador no isenta o
agente diplomtico da jurisdio do Estado acre-
ditante, o qual pode (por isso) renunciar imunidade
dos seus agentes diplomticos e restante pessoal.
INDEPENDNCIA
Conceito que indica o exerccio exclusivo da autori-
dade de um Estado sobre uma determinada rea ter-
ritorial, autoridade essa reconhecida pelos outros
actores no sistema. Neste sentido, o termo indepen-
dncia corolrio de soberania. O termo pode ainda
ser usado para descrever um objectivo poltico pros-
seguido por indivduos, interesses e faces que pro-
curam a independncia ou a autodeterminao para
um grupo identificvel, geralmente consistindo numa
nao ou grupo nacional.
INFLAO
Processo cumulativo de alta dos preos, mais ou
menos importante segundo a gravidade da distoro
existente num dado momento em determinada eco-
nomia, entre os fluxos reais e os fluxos monetrios.
nalistas (David Mitrany), pelos neofuncionalistas
(Ernst Haas e Leon Lindberg) at corrente das comu-
nicaes e transaces (Karl Deutsch). No entanto,
todos estes autores partilham os seguintes pressu-
postos bsicos, que passamos a enunciar: rejeio da
viso tradicional centrada no Estado, ressaltando a
crescente importncia de actores no estatais como
as organizaes internacionais e as corporaes
transnacionais; entendimento do sistema interna-
cional como sendo uma sociedade internacional, con-
siderando que os vrios tipos de laos que ligam os
Estados e que se estendem atravs das fronteiras, do
origem a interdependncias, bem como a regras, nor-
mas e instituies que influenciam decisivamente o
funcionamento das Relaes Internacionais; consi-
derao de que o poder que os Estados exercem no
sistema internacional temperado pela sociedade
internacional, e por interesses vrios econmicos,
sociais, e outros , que os Estados perseguem e que
j no so facilmente alcanados atravs do uso de
fora militar, tendo portanto, uma compreenso plu-
ral do poder no sistema internacional, e defendendo
que no existe uma hierarquia na sua objectivao;
e particular interesse no estudo do funcionamento
das organizaes internacionais, e no modo como
estas podem influenciar o desenvolvimento do sis-
tema internacional.
INSTITUIO
Para Marcel Mauss, a noo de instituio remete
para as maneiras de pensar e de agir de que no
somos os autores porque legadas historicamente, e
que funcionam como modelo ou regra de compor-
tamento.
O mundo institucional por isso experimentado
como realidade objectiva, tratando-se no entanto, de
acordo com a perspectiva da construo social da rea-
lidade (Berger e Luckmann), de uma objectividade
produzida e construda pelos actores sociais. As ins-
tituies so produes sociais e histricas, resul-
tantes de prticas sociais partilhadas e tipificadas.
por isso que, como consideram Berger e Luckmann,
as instituies so tipificaes recprocas de aces
habituais por tipos de actores, tipificaes estas que
so produzidas e construdas pelos actores no
decurso de uma histria partilhada. O mundo insti-
tucional transmitido pelo conhecimento, conhe-
cimento este que define os papis e os actores nas
instituies, fornecendo as regras de conduta insti-
tucionalmente adequadas. Podemos, nessa medida,
considerar que, enquanto sistemas de regras, as ins-
tituies organizam deveres, obrigaes e direitos,
e ordenam conjuntos de papis. Consistem, no entanto,
no s em sistemas de regras, mas tambm nas sig-
nificaes normativas que lhes do sentido. por isso
que noo de Mauss, Descombes (1996) acrescenta
as significaes comuns. As instituies, tal como as
regras ou as normas, so da ordem do sentido.
As instituies constituem, assim, uma realidade
histrica objectiva e convencional, que detm meca-
nismos de controlo social e de legitimao. Ao nvel
INQURITO 103
controlo e comunicao para tratar toda a corrente
de informao, que se processa a ritmo extrema-
mente alto e em tempo muito curto, virtualmente
fora da capacidade de deciso humana. O sistema
pode dispor ainda de submarinos, avies e estaes
como bases emissoras de raios laser e feixes de par-
tculas. O objectivo principal do projecto de defesa
estratgica evitar a guerra nuclear, na persuaso
de que ele leva logicamente ao abandono dos ms-
seis nucleares por impotentes e obsoletos. Esta
doutrina revolucionria, visto substituir a ameaa
de retaliao nuclear, em que se baseia a paz nuclear,
pela dissuaso fundamentada num sistema de defesa
no nuclear.
INQURITO
Mecanismo poltico de regulao pacfica de confli-
tos, previsto na Carta das Naes Unidas, que con-
siste na interveno de um terceiro, que investiga os
factos que esto na origem de um litgio, tendo em
vista a caracterizao da sua materialidade, natureza
e circunstncias acessrias. Trata-se portanto de um
mecanismo acessrio, normalmente utilizado em
conjugao com outros, no mesmo processo.
Na investigao cientfica, o inqurito constitui um
dos mtodos de pesquisa que implica a aplicao de
questionrios populao em estudo.
INSTALAES CONSULARES
So assim considerados os edifcios, ou parte dos edi-
fcios e terrenos anexos que, qualquer que seja o seu
proprietrio, sejam utilizados exclusivamente para
as finalidades do posto consular.
INSTITUCIONALISMO LIBERAL
Os institucionalistas liberais tendem a ver os ltimos
400 anos da Histria das Relaes Internacionais
como um processo de mudana gradual de um sis-
tema poltico fragmentado onde o Estado teve o seu
aparecimento e a sua sedimentao institucional, e
onde as relaes entre as unidades se baseavam exclu-
sivamente no poder e no uso da fora para um sis-
tema contemporneo mais integrado e interdepen-
dente, onde o Estado penetrado por uma srie de
relaes econmicas e de entidades no-estaduais que
actuam atravs das suas fronteiras. Neste novo sis-
tema, a guerra j no vista como o instrumento
poltico privilegiado; aqui, as relaes entre actores
baseiam-se na cooperao e na institucionalizao de
organizaes internacionais. Houve, portanto,
uma reformulao no sistema internacional, que pas-
sou a funcionar como uma sociedade internacional
com aceitao de normas e regulamentos emanados
de instituies internacionais, em vez das simples
relaes de poder entre Estados.
A perspectiva institucionalista liberal abrange um
variado nmero de autores que se estendem por
vrias correntes; desde a corrente da interdependncia
complexa (Robert Keohane), passando pelos funcio-
A teoria da integrao econmica procura equa-
cionar as maiores vantagens do agrupamento, as
quais se podem sintetizar da seguinte maneira:
aumentos de produo decorrentes da diviso inter-
nacional do trabalho e da especializao internacio-
nal, em funo das vantagens comparadas; aumen-
tos de produo face ao aproveitamento das econo-
mias de escala; melhoria das razes de troca da rea
face a pases terceiros; mudanas foradas na efi-
cincia, geradas pela presso concorrencial; mudan-
as induzidas pela integrao, decorrentes de avan-
os tecnolgicos, afluxo de capitais e diferentes velo-
cidades de circulao de factores.
O conceito de integrao econmica poder assen-
tar em dois tipos: o primeiro o conceito liberal,
tambm chamado funcional, que representa o enten-
dimento clssico baseado no liberalismo econmico,
em que se reala o mecanismo das foras de mercado
e em que as regras do jogo da concorrncia so cum-
pridas. No fundo, a tal mo invisvel de Adam
Smith ao processar o equilbrio da comunidade sob
mltiplos aspectos, tais como aprovisionamento, uti-
lizao de recursos produtivos, sistemas de preos e
de remunerao dos factores, enfim, o conjunto de
foras interactivas que desembocam e actuam no
mercado. Este conceito significa, pois, a abolio de
todos os entraves aos movimentos de mercadorias,
pessoas, servios e capitais entre as vrias parcelas
da rea integrada. Nele est subjacente a fraca inter-
veno do Estado.
O segundo o conceito intervencionista, tambm
designado estruturalista ou institucional, em que se
parte da ideia da necessidade de interveno poltica
atravs de um conjunto de medidas administrativas
e legislativas. Isto no significa que haja uma rejei-
o da economia de mercado. Esta necessria, ainda
que corrigida pela interveno do Estado, sobretudo
ajudando a implantar situaes de concorrncia imper-
feita (afastando monoplios e oligoplios), regulando
a estabilizao macroeconmica, fomentando uma
adequada poltica de rendimentos e preos, e estabe-
lecendo metas de crescimento econmico e de desen-
volvimento sustentvel.
INTERDEPENDNCIA
A interdependncia significa dependncia mtua.
referente a situaes nas quais os actores ou acon-
tecimentos em diferentes partes do sistema se afec-
tam mutuamente. Podemos defini-la melhor atravs
de quatro caractersticas: origens, benefcios, custos
e simetria. Quanto s origens, a interdependncia
pode ter origem em fenmenos fsicos (na natureza)
ou sociais (econmicos, polticos e perceptivos). Deste
modo, a interdependncia ecolgica, econmica e
poltico-militar (teoria da interdependncia com-
plexa).
INTERESSE NACIONAL
De acordo com Charles Beard (1934), o primeiro aca-
dmico a produzir um estudo cientfico sobre o con-
INSURRECTO 104
do controlo, as instituies estabelecem padres e
normas de conduta que regem e controlam os com-
portamentos; ao nvel da legitimao, trata-se dos
modos pelos quais o universo institucional pode ser
explicado e justificado. Por ltimo, e seguindo ainda
Berger e Luckmann, as instituies apresentam os
seguintes aspectos: objectividade so exteriores aos
actores, constituindo uma realidade objectiva; his-
toricidade as tipificaes recprocas das aces e dos
actores so construdas no decorrer de uma hist-
ria partilhada; e sedimentao as instituies sur-
gem como uma realidade quase inaltervel, dada a
sua dimenso histrica, comportando uma tradio.
INSURRECTO
Grupo armado que surge numa situao de rebelio,
no territrio de um Estado, pondo em causa a sua
unidade e integridade territorial. O seu reconheci-
mento visa sujeit-lo ao Direito Internacional huma-
nitrio, no implicando outra capacidade que no
neste quadro preciso. Por isso, parte da doutrina no
lhe reconhece sequer personalidade internacional, o
que parece excessivo, j que, no entendimento con-
temporneo segundo o qual a diferenciao se deve
fazer segundo a capacidade e j no em termos de
atribuio (ou no) da personalidade, pode bem admi-
tir-se essa personalidade ao insurrecto reconhecendo-
-se todavia o carcter muito limitado da sua capaci-
dade, nos termos referidos.
INTEGRAO
Haberler definiu integrao pelas relaes econ-
micas mais estreitas entre certas reas. Este con-
ceito, extremamente amplo, tem enquadramento
na teoria neoclssica que parte de um mercado de
concorrncia perfeita, onde as unidades econmicas
esto plenamente integradas, umas em relao s
outras, constituindo um todo homogneo e coerente.
Bela Balassa utiliza uma definio mais precisa,
considerando a integrao como um processo e um
estdio. Como processo, a integrao entende-se como
as medidas que visam a supresso da discriminao
entre as entidades econmicas que resultariam da
existncia de diferentes Estados nacionais; conside-
rada como estdio, a integrao significa a ausncia
de diferentes formas de discriminao entre as enti-
dades econmicas nacionais.
Por sua vez, para Tinbergen, a integrao a cria-
o da estrutura econmica internacional mais dese-
jvel para suprimir as barreiras artificiais para uma
aco ptima de livre-cambismo, introduzindo todas
as formas requeridas de cooperao e de unio.
Tinbergen considera dois tipos de integrao: a nega-
tiva, que envolve a remoo das discriminaes e res-
tries circulao (caso em que se enceta um pro-
cesso de desarmamento pautal ou se aplica uma nor-
malizao tcnica); e uma positiva, que abarca as
modificaes das instituies e instrumentos, tendo
em vista promover objectivos amplos de polticas har-
monizadas no espao integrado.
no tempo de modo a poderem mostrar a sua validade
e qualidade.
Outros historiadores e analistas, dentro da mesma
abordagem, defenderam esta posio, nomeadamente
Edgar Furniss e Richard Snyder, que se limitaram a
estabelecer que o interesse nacional o que os gover-
nos nacionais, isto , o que os decisores decidem que .
Alguns autores consideram esta abordagem insu-
ficiente, porquanto apontando para o stio certo (os
decisores), no consegue estabelecer qualquer rela-
o de crtica entre as polticas desenvolvidas e a von-
tade dos cidados, as vantagens e desvantagens das
decises.
Todavia, apesar deste uso oportunista do conceito,
tem que se reconhecer que, sem uma ideia de inte-
resse nacional, a conduo da poltica externa fica
sem referncias ou hierarquia de tarefas. E isto por-
que a funo do conceito fundamentalmente nor-
mativa, fornecendo o padro para julgar as polticas
externas. Por isso mesmo, a sua definio estrita-
mente posicional ( o que definem os governantes)
tambm no satisfaz, embora seja a expresso aca-
bada do puro realismo positivista.
Assim, o interesse nacional, apresenta princpios
essenciais que foram sendo identificados ao longo do
tempo: princpio de inclusividade, isto , o interesse
deve poder ser imputado a toda a nao ou pelo
menos a grande parte dela de modo a superar os inte-
resses de faco ou de grupo; princpio de exclusi-
vidade, ou seja, a definio do interesse nacional no
leva em linha de conta os interesses de outras colec-
tividades polticas exteriores ao pas e s lhe presta
ateno na medida em que podem vir a ter efeito nos
interesses domsticos; princpio de relevncia externa,
ou seja, os interesses que compem o interesse nacio-
nal devem poder ser afectados significativamente pela
conjuntura internacional e, consequentemente, pela
direco da poltica externa do Estado.
Joseph Nye entende que o conceito de interesse
nacional um conceito vago, usado tanto para des-
crever como para prescrever uma poltica externa.
Os especialistas podem iluminar o caminho, mas no
podem decidir. Na sua opinio, o interesse nacio-
nal excessivamente importante para o deixar apenas
nas mos dos geopolticos. Os polticos eleitos devem
desempenhar o papel-chave.
O seu valor na anlise das Relaes Internacionais
tem sofrido uma dura eroso com a perda do mono-
plio do Estado enquanto actor das Relaes Inter-
nacionais e da perda de importncia do meio estra-
tgico-diplomtico, e com a emergncia de modelos
de anlise da interdependncia e globalizao da
sociedade mundial. Desta forma, o termo interesse
nacional tem vindo a ser propositadamente ignorado
nos tratados de Relaes Internacionais devido sua
relao simbitica com a realpolitik e com o realismo
poltico.
Seja como for, o que parece ressaltar quanto ao
interesse nacional a segurana, ou seja, a sobrevi-
vncia do Estado independente na comunidade
internacional, a integridade do territrio, a popula-
o intacta, a economia em desenvolvimento e as
caractersticas culturais prprias.
INTERESSE NACIONAL 105
ceito, o termo interesse nacional foi introduzido no
lxico poltico a partir do sculo XVI, com o desen-
volvimento do Estado-nao e do nacionalismo,
substituindo a noo de razo de estado.
Em Relaes Internacionais, o conceito de inte-
resse nacional usado com um duplo sentido: como
um instrumento analtico identificador de objecti-
vos e metas da poltica externa de um Estado e como
um conceito abrangente, usado no discurso poltico,
para justificar opes polticas.
Em ambos os casos, diz respeito a directrizes fun-
damentais que regem a poltica do Estado relativa-
mente ao seu ambiente externo. aplicado, apenas,
nas relaes externas de um Estado, relacionando-
-se, assim, especificamente com a poltica externa:
a expresso sinnima para o meio interno habitual-
mente utilizada interesse pblico.
Expressa no os interesses particulares dos deci-
sores polticos mas sim os interesses da sociedade
como um todo, ficando ligada, assim, aos conceitos
de soberania popular e legitimidade do Estado. Desde
ento, representa a legitimao do exerccio/poder
do Estado nas Relaes Internacionais.
Enquanto instrumento de anlise poltica, tem sido
associado com a Escola realista, cujo principal pro-
tagonista foi Hans Morgenthau (1951), para quem o
conceito tinha uma importncia fundamental na
compreenso do processo poltico internacional.
A tese defendida por Morgenthau, de que a aqui-
sio e o uso do poder constitui o primeiro interesse
nacional, provocou um profundo efeito na gerao
acadmica das dcadas de 1950 e 1960, e consequen-
temente no desenvolvimento da escola realista. Para
Morgenthau, a ideia de interesse nacional era defi-
nida em termos de poder enquanto motivo central
do comportamento internacional do Estado. Contudo
a nfase dada por Morgenthau s dimenses econ-
mica e militar, excluindo outros factores (em espe-
cial a noo de que os princpios e valores morais
podem ter um papel dominante na formulao da
poltica) levaram a uma reapreciao do conceito e
a uma rejeio de que o princpio de interesse nacio-
nal pode ser considerado sinnimo de conquista de
poder. Desde ento a ideia de interesse nacional
enquanto elemento-chave na anlise da poltica
externa tem vindo a ser abandonada: os tericos da
deciso poltica, em particular, argumentam que em
vez de um interesse objectivo e real, o que rege a pol-
tica externa so um conjunto de diversas e subjec-
tivas preferncias que mudam periodicamente em
resposta quer do processo poltico interno quer do
ambiente externo. O interesse nacional , assim, mais
o que os decisores polticos entendem que .
O seu contedo diria respeito a tudo aquilo que os
governantes, na conjuntura, definem como sendo o
interesse nacional. Embora demasiado realista e
emprico, nem por isso lhe falta a base de estudos fun-
damentados.
O representante mais elaborado desta posio
Stephen Krasner, que entende ser prefervel consi-
derar o interesse nacional como os objectivos e con-
dutas governamentais tal como se expressam nas
polticas adoptadas, que devem ser nacionais e durar
tculas (CERN), na Sua, no incio da dcada de 1990,
que veio simplificar muito a utilizao da Internet.
As principais razes do sucesso da Internet so a
variedade das informaes que a se podem encon-
trar, o seu baixo custo de acesso e a possibilidade de
navegar facilmente de um site para outro. As suas
diferentes funes transformaram a Internet num
novo espao de trocas e de comrcio, num ciber-
espao, local de batalhas industriais, comerciais, e
mesmo polticas e culturais. Este ciberespao no
somente um ambiente que favorece o comrcio elec-
trnico. Tornou-se o ponto de passagem obrigatrio
de todo o comrcio e de toda a indstria no sentido
mais amplo do termo (Rosnay).
Hoje em dia, todas as actividades industriais e
comerciais encontram-se ligadas, directa ou indi-
rectamente rede das actividades econmicas. Por
outro lado, as grandes administraes utilizam a Web
para entrarem em contacto com os seus adminis-
trados. Os pases adoptam a Web para melhor faze-
rem conhecer as suas vantagens tursticas, indus-
triais e comerciais. Mesmo os polticos escolhem a
Internet para constiturem novas relaes com os
eleitores. E os departamentos oficiais do Estado no
ignoram, longe disso, a importncia deste poderoso
instrumento na sua afirmao e divulgao inter-
nacional, todos eles possuindo sites que desenvolvem
um importante papel numa nova cultura poltica e
na repartio dos poderes.
INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)
Empresa que fornece servios na rea da Internet.
Para alm da ligao Internet, os ISP podem
tambm disponibilizar contas de correio electr-
nico, reas de armazenamento e pginas de Internet,
para alm da prestao de servios de apoio nesta
rea.
INTERVENO
Termo que cobre uma srie de situaes onde um
actor intervm nos assuntos de outro. Pode tratar-
-se de uma situao onde a alocao autoritria de
valores dentro do ambiente interno de um actor
feito por ou com a assistncia e aprovao de pessoas
ou organismos que representam outros actores inter-
nacionais. Relativamente interveno militar, esta
trata o uso da fora de forma implcita ou explcita,
por um Estado ou grupo de Estados que interferem
na jurisdio domstica de outro Estado. De acordo
com o sistema de Estados soberanos clssico, esta-
belecido aps Vesteflia, o intervencionismo era res-
tringido em termos legais e diplomticos, em parti-
cular relativamente integridade territorial e inde-
pendncia poltica, sendo a interveno nestes
assuntos proibida pelo princpio de soberania. O flo-
rescimento do Estado liberal e democrtico e o
aumento do nmero de actores no sistema interna-
cional, como, por exemplo, as organizaes inter-
nacionais, criaram um ambiente mais favorvel
interveno. Assim, partindo-se do princpio de no-
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) 106
Na sua essncia, a origem da ideia de interesse
nacional prende-se com os princpios de segurana
nacional e sobrevivncia (defesa da ptria e a pre-
servao da sua integridade territorial). Presume-se
que todas as outras opes polticas lhe esto subor-
dinadas. A expresso interesse vital tambm
usada com frequncia neste contexto, reflectindo que
uma determinada deciso poltica to importante
para o bem-estar do Estado que no pode ser posta
em causa, podendo resultar no uso da fora militar
para a defender. Outros elementos tm vindo a ser
includos no conceito de interesse nacional: bem-
-estar econmico; promoo de princpios ideolgi-
cos e o estabelecimento de uma ordem mundial mais
favorvel.
Num mundo em profunda e rpida mudana, onde
as polticas externas dos Estados tm vindo a assu-
mir um carcter cada vez mais multilateral e trans-
nacional, o conceito de interesse nacional tem sido
alvo de debates enrgicos e ambguos, sem resulta-
dos, portanto, claros e objectivos, ou no fosse o inte-
resse nacional um conceito operativo, em perma-
nente adaptao, face aos inputs (constrangimentos)
do ambiente interno e internacional.
INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES (IBM)
Uma das maiores e mais antigas empresas de infor-
mtica do mundo. Oferece solues que abrangem
vrias reas desde o equipamento at s aplicaes
informticas.
INTERNET
Aquilo a que chamamos rede Internet, e que teve
origem no Departamento de Defesa dos Estados
Unidos da Amrica, no final da dcada de 1960, na
realidade um conjunto de computadores ligados por
um protocolo standard (TCP/IP Transfer Central
Protocol/Internet Protocol), o qual permite partilhar
os recursos escala mundial, utilizando principal-
mente os cerca de 900 milhes de linhas da rede tele-
fnica existentes. A fora da Internet reside na par-
tilha dos recursos entre computadores mltiplos.
Trs conceitos reforam este potencial: a interco-
mutabilidade, a interoperabilidade e a intercriativi-
dade. A intercomutabilidade favorece as relaes
entre os aparelhos pertencentes a plataformas dife-
rentes, tais como telefones, computadores portteis
ou servidores. A interoperabilidade permite as cone-
xes entre redes diferentes, de baixos ou mdios dbi-
tos, redes de cabos, de satlites ou hertzianas. E pela
primeira vez na histria, uma pessoa pode comutar
um sinal que chega ao seu site para um outro site
que se pode encontrar num pas longnquo, capaci-
dade at ao presente reservada a organizaes nacio-
nais ou transnacionais de comunicao.
O nmero de utilizadores cresceu exponencial-
mente, em particular desde a introduo do conceito
World Wide Web (WWW) pelo centro de fsica de par-
Os princpios fundamentais do procedimento
cientfico foram definidos por Gaston Bachelard da
seguinte forma: o facto cientfico conquistado, cons-
trudo e verificado: conquistado sobre os preconcei-
tos; construdo pela razo; verificado nos factos.
No final de um trabalho de investigao social, o
investigador deve ser capaz de compreender melhor
os significados de um acontecimento ou conduta,
captar com maior perspiccia as lgicas de funcio-
namento de uma organizao, reflectir pertinente-
mente sobre as implicaes de uma deciso poltica,
compreender com mais nitidez certos pontos de vista
e tornar visveis alguns dos fundamentos das suas
representaes.
INVIOLABILIDADE DIPLOMTICA
A inviolabilidade diplomtica verifica-se a trs
nveis: locais de misso, dos arquivos e documentos,
e dos agentes diplomticos.
A inviolabilidade dos locais de misso implica que
os agentes do Estado acreditador no possam pene-
trar nos locais de misso sem o consentimento do
chefe de misso; que o Estado acreditador tenha a
obrigao de tomar as medidas necessrias para pro-
teger os locais contra qualquer intruso, per-
turbao ou ofensa; e ainda que os locais da misso
e respectivo mobilirio no possam ser objecto de
busca, requisio, embargo ou medida de execuo.
A inviolabilidade dos arquivos e documentos diplo-
mticos absoluta, onde quer que estes se encontrem.
Finalmente, a inviolabilidade dos agentes diplo-
mticos implica que estes no podem ser objecto de
deteno ou priso, devendo ainda ser tratados com
o devido respeito. Alm disso, o Estado acreditador
deve ainda tomar as medidas necessrias para impe-
dir qualquer ofensa sua pessoa, liberdade ou digni-
dade. A residncia dos agentes diplomticos e os seus
documentos e correspondncia so tambm invio-
lveis, beneficiando de um regime idntico ao dos
locais de misso.
ISLAMISMO
Movimento ideolgico, poltico e religioso, assente
nos preceitos do Alcoro com o objectivo de dirigir
a sociedade civil. Afirmando o regresso aos valores
tradicionais, opondo-se ao modelo da sociedade oci-
dental, o islamismo, moderado ou fundamentalista,
defende um mundo muulmano politicamente uni-
ficado sob uma autoridade, em que Estado e socie-
dade se moldem s regras do direito islmico esta-
belecidas pelo Alcoro, a sunna (relatos e aces da
vida do profeta Maom) e nas hadith (comentrios).
A anlise de Samuel Huntington quanto ao choque
das civilizaes baseou-se, em grande parte, nas rela-
es do Islo com o resto do mundo (Maurice Vasse).
ISOLACIONISMO
Princpio da poltica externa de um Estado, tendente
a evitar as alianas permanentes ou a tomar posi-
INTERVENO HUMANITRIA 107
-interveno, o conceito evoluiu e so assumidas
como excepes legtimas ao princpio geral, a
autodefesa, contra-interveno, interveno para
assistir autodeterminao ou interveno
humanitria.
INTERVENO HUMANITRIA
Intruso coerciva nos assuntos internos de um Estado
devido a violaes dos direitos humanos. Envolve
aco militar da parte de um Estado, grupo de Esta-
dos ou organizao internacional com base no huma-
nitarismo, com o objectivo especfico de prevenir
ou aliviar o sofrimento e morte em larga escala,
incluindo genocdio. Apesar de no haver regras de
procedimento definidas, as intervenes humanit-
rias visamem geral alcanar um ambiente favorvel
e seguro para uma assistncia humanitria eficaz.
INVESTIGAO EM CINCIAS SOCIAIS
Genericamente, por investigao entende-se uma
actividade humana orientada a descobrir algo des-
conhecido. Tem a sua origem na curiosidade inata
dos homens, isto , no seu desejo de conhecer como
e porqu so as coisas, e quais so as suas razes e
os seus motivos. Responde tambm indigncia
natural do homem, ao qual a natureza no lhe deu
tudo resolvido, o que o obriga a investigar e a pro-
curar solues para os seus problemas, dificuldades
e necessidades.
De acordo com o que referimos, toda a averigua-
o sobre algo desconhecido e toda a procura de solu-
es para um determinado problema considerado
investigao, mas somente ser investigao cient-
fica se actuar de acordo com um mtodo cientfico,
e s ser social se o seu campo de investigao for a
sociedade.
Pode-se definir ento a investigao cientfico-
-social como o processo de aplicao do mtodo e das
tcnicas cientficas a situaes e problemas concre-
tos na rea da realidade social, para acima de tudo
encontrar resposta para os mesmos e obter novos
conhecimentos.
A investigao em primeiro lugar um processo
formado por um conjunto de fases de actuao suces-
sivas, orientadas neste caso a descobrir a verdade no
campo social. Enquanto processo, a investigao dis-
tingue-se atravs do mtodo cientfico, que no um
conjunto de actividades, mas sim um conjunto de
normas e regras genricas de actuao cientfica. Pelo
mesmo motivo, a investigao distingue-se das tc-
nicas em que, so tambm procedimentos, ainda mais
concretos que o prprio mtodo.
fundamental que a investigao cientfico-social
tenha como finalidade encontrar resposta para pro-
blemas desconhecidos, ampliando o mbito dos nossos
conhecimentos na rea social. A investigao cient-
fico-social, que exige necessariamente uma aplicao
o mais rigorosa possvel do mtodo e das tcnicas cien-
tficas no campo social, deve referir-se a problemas
concretos, o mais precisos e especficos possveis.
ao Tribunal Internacional de Justia a fim de que este
confirme a natureza imperativa da norma. Esta ins-
tncia jurisdicional assume portanto um papel cen-
tral na determinao da matria, tendo confirmado
j a natureza imperativa da proibio dos actos de
agresso, do genocdio ou dos atentados aos direi-
tos fundamentais, da inviolabilidade diplomtica, do
direito de autodeterminao dos povos, dos direitos
da pessoa, dos povos e das minorias, etc.
IUS LEGATIONIS
O direito de legao corresponde susceptibilidade
de receber e enviar misses diplomticas. Tradi-
cionalmente exclusiva dos Estados soberanos, esta
prerrogativa conhece hoje em dia variantes muito
prximas em relao a todos os sujeitos de Direito
Internacional. Assim, desenvolveu-se fundamental-
mente a partir da segunda metade do sculo XX um
regime relativo representao nas e das organiza-
es internacionais (no qual se procura articular os
interesses e necessidade da prpria organizao inter-
nacional, dos Estados nela representados e do Estado
anfitrio), e, em simultneo, a crescente importn-
cia dos movimentos de libertao nacional e dos beli-
gerantes fez surgir prticas de legao (normalmente
designados por escritrios de representao) que par-
tem da prtica diplomtica para fixarem regimes
bilaterais mais simplificados mas que claramente
integram o ius legationis.
IUS TRACTUUM
O direito de celebrar convenes internacionais era
tambm uma competncia tradicionalmente exclu-
siva dos Estados soberanos, mas que ao presente se
v alargada a todos os sujeitos de Direito Internacio-
nal, sendo que apenas o Estado soberano mantm
a capacidade plena (no conhecendo por isso limi-
taes), ao passo que os restantes sujeitos vem limi-
tada a sua capacidade convencional ao seu estrito
mbito de actividade.
IUS BELLI 108
o sobre determinadas matrias. Este princpio, que
influenciou durante muito tempo, embora com inten-
sidade diversa, a poltica americana, foi abandonado
definitivamente pelos EUA a partir da Segunda Guerra
Mundial e dos incios da guerra fria, encontrando-
-se, ao presente, completamente abandonado pela
potncia mais poderosa do sistema internacional
(Maurice Vasse).
IUS BELLI
Direito de fazer a guerra, ou, em termos gerais, de
usar a fora.
A proibio do uso da fora nas Relaes Inter-
nacionais introduzida pela Carta das Naes Unidas
parecia pr fim a esta prerrogativa estadual (j que
integra o elenco tradicional das manifestaes inter-
nacionais da soberania), no entanto, importa ter pre-
sente que essa proibio no absoluta, sendo a pr-
pria Carta a admitir excepes. Mais importante
parece ainda o facto de os Estados permanecerem os
nicos detentores legtimos de armamento militar,
pelo que esta matria permanece uma das caracte-
rsticas fundamentais da estadualidade (tenha-se pre-
sente que no apenas o direito de reclamao inter-
nacional ou o ius tractuum, mas tambm o ius
legationis, so actualmente reconhecidos a outros
sujeitos de Direito Internacional).
IUS COGENS
Regras ou princpios de Direito Internacional cuja
importncia universalmente reconhecida faz com que
se imponham a todos os Estados e impede estes de
os excepcionarem ou alterarem (excepto atravs de
regra com valor equivalente). Inclui a proibio do
genocdio, da pirataria, etc.
A figura recente no Direito Internacional. Scelle
procurou determin-lo materialmente (nos termos
do que o ius cogens consistiria nas regras de mbi-
tos especiais como o direito vida, liberdade de
circulao, s garantias de liberdade colectiva, etc.),
mas essa tarefa mostrou-se impossvel ou pelo menos
impraticvel. Ser o artigo 53. da Conveno de
Viena de 1969 que definitiva mas no pacificamente,
introduzir a definio que hoje em dia est gene-
ralizada: o ius cogens (ou normas de direito impe-
rativo) ser ento o conjunto de normas aceites e
reconhecidas pela comunidade internacional como
normas s quais nenhuma derrogao permitida e
que s podem ser modificadas por uma nova norma
de Direito Internacional geral com a mesma natureza.
Trata-se, no essencial, de normas cuja primazia se
justifica pelo facto de protegerem interesses da comu-
nidade internacional no seu conjunto e j no ape-
nas interesses das partes e que por isso impem obri-
gaes erga omnes.
Subsiste todavia a questo da sua determinao,
ou seja, saber como que esse reconhecimento se
processa. A soluo indirecta surge tambm na
Conveno de Viena quando, em situaes de con-
flito, se possibilita aos Estados o recurso unilateral
Assim, se todo o homem tem uma noo de justia
(e da necessidade de realizao da justia, por opo-
sio ao mero domnio da fora), tambm dispe da
razo que lhe permite descortinar a ordem natural
(segundo a tradio aristotlica, tratar-se- de cum-
prir a essncia das coisas, o que equivaler rea-
lizao da sua funo), ou seja, o conjunto de prin-
cpios e regras segundo os quais essa justia pode ser
atingida.
Trata-se de uma posio filosfica cuja principal
riqueza decorrer da capacidade de manter um
acento importante no contedo material (e ontol-
gico) das normas, limitando assim a margem de arb-
trio do poder poltico, mesmo quando expresso por
via legislativa. No deixa no entanto de merecer uma
crtica importante, dirigida aos contornos necessaria-
mente vagos (por se tratar sempre de contedos) a
que o direito natural se refere, o que abre caminho
a doses importantes de subjectivismo na respectiva
interpretao.
JURISPRUDNCIA
Doutrina dos tribunais estabelecida nas suas decises,
a qual reconhecida como fonte de Direito
Internacional, muito embora com uma funo auxi-
liar. A influncia do positivismo jurdico tem con-
seguido impor uma fragilizao da jurisprudncia no
plano das fontes (abandonando-se assim o seu aco-
lhimento neste elenco, no plano interno), mas que
a realidade nem sempre acompanhou.
No deve por isso ceder-se tentao da des-
valorizao da jurisprudncia j que conforme refe-
ria Thirlway, o Direito Internacional aquilo que o
Tribunal Internacional de Justia provavelmente
reconhea como tal. Por outro lado, so os prprios
Estados principais actores internacionais quem
acaba por reconhecer essa funo ao conferir juris-
prudncia a funo da determinao do ius cogens,
ao atribuir-lhe amplas margens de interveno, etc.
A principal jurisprudncia internacional natu-
ralmente a do Tribunal Internacional de Justia
(resultante no apenas das suas sentenas ou acr-
dos, mas tambm dos pareceres). No obstante,
igualmente relevante a de um nmero crescente de
tribunais internacionais em domnios especializados
(Direitos do Homem, Direito do Mar, etc.) e dos tri-
bunais arbitrais, cuja contribuio assinalvel na
determinao de regras no escritas e princpios
gerais. Cabe ainda, nesta fonte, a jurisprudncia de
tribunais nacionais em matrias internacionais,
muito embora o seu papel seja naturalmente mar-
ginal, realando-se os efeitos probatrios para
demonstrao de prticas em matria convencional
e de princpios gerais de direito, mas no se devendo
esquecer impulsos por vezes relevantes, destas ins-
tncias, por exemplo em matria de proteco de
Direitos Humanos, como foi o caso recente dos pedi-
dos de extradio do General Pinochet.
JUSNATURALISMO
Corrente filosfica tradicional relativa concepo
do Direito, que rene os contributos desde Aristteles
at actualidade, conhecendo importantes figuras
como S. Toms de Aquino, Francisco de Vitria e
Francisco Surez, ou, mais recentemente, Le Fur, e
que faz radicar o Direito na prpria natureza humana.
J
LIBANIZAO DOS CONFLITOS
CONTEMPORNEOS
O fim do imprio sovitico acabou com as iluses que
poderamos ter sobre a qualidade da existncia de paz
fundada sobre o equilbrio de terror entre as duas
superpotncias e sobre a subordinao dos mais fra-
cos aos dois blocos.
Na verdade, com o fim da guerra fria, e do sistema
tendencialmente bipolar que a suportava, o papel
hegemnico e polarizador das superpotncias na
explicao e compreenso da sociologia dos confli-
tos j no tem razo de ser.
As explicaes estratgicas baseadas na distino
entre conflitos centrais, onde as superpotncias esta-
vam face a face e se ameaavam directamente (cri-
ses de Berlim, Cuba, crise dos euromsseis pershing),
conflitos regionais, onde elas se enfrentavam pela
guerra indirectamente e intervinham com meios
humanos e armamento (Guerras da Coreia e do
Vietname), e conflitos locais, onde as superpotncias
prosseguiam a sua competio por actores inter-
postos, j no faz sentido. Toda esta tipologia fun-
dava-se no conceito de superpotncia concorrencial
e numa lgica de ocupao de espaos que obedecia
a um jogo de soma nula.
Ora, tudo isso acabou, e hoje importante reco-
nhecer a importncia dos chamados actores secun-
drios.
Mas, fundamentalmente, os conflitos no podem
ser analisados tendo em considerao unicamente os
factores estruturais do sistema internacional. Ou seja,
o nvel de anlise estrutural, que explica as Relaes
Internacionais com base na configurao de poder
e nos jogos que se desenrolam no sistema interna-
cional, j no consegue explicar cabalmente os novos
conflitos emergentes.
Neste sentido, fundamental procurar outro
paradigma explicativo, que tenha em considerao
as sociedades onde eles acontecem e, portanto, cen-
tre as explicaes nas dinmicas prprias das socie-
dades que lhes do origem.
Neste sentido, a polemologia moderna assume a
multidimensionalidade dos conflitos e defende uma
abordagem plural onde o nvel de anlise estrutural
se complemente com o nvel de anlise estatal e
microestatal. Portanto, a Sociologia Poltica interna
e Sociologia das Relaes Internacionais devem ser
LEGISLATURA
Perodo de tempo em que os deputados, detentores
do poder legislativo, esto em funes. Em Portugal,
e de acordo com a Constituio, a legislatura tem a
durao de quatro sesses legislativas, correspon-
dendo cada uma delas a um ano.
LEGTIMA DEFESA
O termo indica o direito que assiste um actor de
tomar as medidas necessrias para se proteger con-
tra danos concretos ou possveis contra si ou con-
tra os seus interesses.
LEX MERCATORI
Conjunto de princpios gerais e de regras costumeiras
elaboradas pela necessidade das crescentes trocas
comerciais.
De facto, a necessidade de estabelecer relaes con-
tratuais que ultrapassem as fronteiras nacionais
engendrou uma forma de regulao que, de alguma
forma, pode servir como premissa para uma certa
ordem transnacional. Dois exemplos fundamentais:
os contratos econmicos internacionais e as asso-
ciaes profissionais.
Os primeiros conheceram uma formidvel expan-
so, e constituem hoje um elemento essencial das
Relaes Internacionais. De facto, os contratos
estabelecidos entre os poderes pblicos dos Estados
e empresas privadas estrangeiras, cada vez mais fre-
quentes, no se submetem apenas ao Direito nacio-
nal do pas contratante, mas sim a diversos sistemas
jurdicos. Por outro lado, o fornecimento de bens e
servios, a construo de obras pblicas, a criao
de empresas comuns joint ventures e as conces-
ses para a explorao das riquezas naturais inter-
nacionalizaram-se.
Todos estes fenmenos transnacionais obrigam
criao de um conjunto de regras e de normas que
esto na base da construo de uma doutrina e juris-
prudncia de um novo direito transnacional.
Novos so tambm os direitos profissionais inter-
nacionais de origem privada.
L
LBI
O conceito de lbi deriva da existncia dos lobbies
(uma espcie de sala-de-espera) onde os membros do
parlamento ou congresso se encontravam, procu-
rando obter apoios para votaes nos mais variados
assuntos polticos. Deste modo, fazer lbi significa
exercer presso no sentido de obter apoio para uma
causa, um argumento, uma deciso poltica. Tanto
pode ocorrer num contexto institucional, onde um
representante de um grupo de presso poder fazer
lbi junto de um ministro, membro do parlamento
ou representante da sociedade civil, como tomar
forma dentro de um grupo de iguais, significando a
procura de apoio dos colegas para determinando
assunto ou aspecto.
LUCRO
Em termos contabilsticos so as receitas de ven-
das menos os custos atribuveis aos bens vendidos.
Corresponde s receitas das empresas que no so
utilizadas para comprar consumos intermedirios
(matrias-primas, energia, produtos semiacabados,
etc.) e para remunerar os trabalhadores (Capul e
Garnier).
Em teoria econmica, a diferena entre as recei-
tas de vendas e os custos de oportunidade total que
se incorreu ao produzir os bens vendidos.
LIGA DOS ESTADOS RABES (LEA) 112
combinadas e complementadas. Por outro lado,
torna-se fundamental integrar a dimenso cultural,
a dimenso scioeconmica e a dimenso transna-
cional na anlise estratgica actual.
Num esforo de sistematizao, podemos carac-
terizar a especificidade dos conflitos contemporneos
atravs de quatro elementos fundamentais, a saber:
autonomia crescente dos actores colectivos em
relao ao sistema estatal (actores infra-estatais); a
heterogeneidade dos actores (e ou actuantes) em pre-
sena; a grande importncia concedida ao status e
aos valores culturais e ideolgicos; e a influncia cres-
cente do transnacionalismo e da interdependncia.
A combinao destes quatro elementos introduz
na sociedade internacional uma racionalidade difusa
e complexa para a qual os estrategas da guerra fria
no estavam preparados.
Um dos traos comuns e definidores da especifi-
cidade dos novos conflitos contemporneos , cada
vez mais, o confronto violento resultante de um pro-
cesso de desintegrao rpida das sociedades que at
a tinham sido construdas com base numa lgica
unitria estatal. o processo que podemos designar
por libanizao, e que se vem generalizando por todas
as partes do globo.
Este processo coloca questes importantes e
complexas. Desde logo, o problema dos interlocu-
tores, com quem que se vai comunicar para resol-
ver o conflito, e quais so os interlocutores vlidos
quando o quadro institucional estatal j no faz sen-
tido. O Chade, o Lbano, o Camboja, o Afeganisto,
a Somlia, a Bsnia e o Kosovo demonstram a acui-
dade deste problema. A possibilidade de estabelecer
um acordo negociado com os actores (no sentido tra-
dicional) muitas vezes contrariada e destruda pelos
actuantes.
LIGA DOS ESTADOS RABES (LEA)
Arab League (AL)
Criada no Cairo, em 1945, por oito Estados rabes
independentes (Arbia Saudita, Egipto, Imen,
Iraque, Jordnia, Lbano, Lbia e Sria), a Liga inte-
grou, com a descolonizao, o conjunto de pases que
reclamavam a nao rabe, de lngua rabe e religio
islmica. Todos estes Estados so tambm membros
da Organizao da Conferncia Islmica. Tem por
objectivo estabelecer uma cooperao militar, pol-
tica e econmica entre os seus membros. A sua sede
foi transferida do Cairo para Tunes, de 1979 a 1990,
devido ao boicote rabe do Egipto, pela assinatura,
em Maro de 1979, de um tratado de paz com Israel.
A Liga foi suplantada como centro de gravidade do
mundo rabe-islmico por uma organizao regional
islmica, a Conferncia Islmica, e por uma organiza-
o sub-regional, o Conselho de Cooperao do Golfo.
Tem 22 Estados-membros. A sua sede no Cairo.
LINKAGE THEORY
Modelos de anlise da poltica externa dos Estados.
MANUTENO DA PAZ
Peacekeeping
Como expresso genrica, a manuteno da paz visa
a cessao de um conflito armado, ou pelo menos a
eliminao do factor violncia da relao entre as par-
tes, atravs da definio, por exemplo, de acordos de
cessar-fogo. uma actividade empreendida por acto-
res militares e civis de forma neutra e imparcial, com
o consentimento das partes e recorrendo fora ape-
nas em autodefesa. Recentemente, o termo tem sido
usado de forma mais especfica para descrever a pol-
tica das Naes Unidas de enviar foras internacio-
nais, os capacetes azuis, para reas politicamente
conturbadas. Estas operaes tm incidido em dis-
putas persistentes, como no Camboja; em situaes
de crise resultantes do final da guerra fria, como na
ex-Jugoslvia; e em casos de Estados com srias difi-
culdades em alcanar estabilidade, onde o apoio se
tem traduzido na conduo de eleies, administra-
o civil, e repatriao de refugiados, entre outros,
como nas antigas repblicas soviticas.
MAQUIAVELISMO
Simboliza a determinao de obter os objectivos dese-
jados, independentemente dos valores morais.
Segundo Maquiavel, os fins justificam os meios,
sendo que o fim essencial a segurana e a preser-
vao do poder do Estado. Associado ao realismo, com
o qual partilha algumas concepes, o maquiavelismo
traduz-se numa teoria de raison dtat, que justifica
a utilizao de qualquer meio desde que se obtenha
o fim que se pretende. Com caractersticas cnico-
-pessimistas, o maquivelismo est ligado ausncia
de dimenso moral na poltica, bem como con-
cepo da necessidade do poder. Deste modo, o poder
necessrio para a sobrevivncia do Estado, e para
se conseguir poder necessrio agir amoralmente.
MARXISMO
Corpo terico de pensamento resultante das teses
principais de Karl Marx (1818-1883), no qual, aps
o estudo da evoluo do capitalismo e das rela-
es sociais ou relaes de produo, props uma
MALA CONSULAR
Volumes exclusivamente dedicados ao transporte de
documentos consulares entre um posto consular e
o Estado que envia, ou seja o Estado representado
por esse servio. Devem estar devidamente assina-
lados, no podendo ser objecto de verificao excepto
quando existam fundadas suspeitas da sua utilizao
indevida.
Comparativamente, trata-se de um regime menos
protector do que o da mala diplomtica, o que
resulta da menor sensibilidade dos documentos con-
sulares, que tm mera natureza administrativa ou
comercial e no poltica.
MALA DIPLOMTICA
Volumes exclusivamente dedicados ao transporte de
documentos diplomticos entre uma misso diplo-
mtica e o Estado acreditante. Devem estar devi-
damente assinalados, no podendo ser objecto de
qualquer verificao ou abertura.
A mala diplomtica consiste tradicionalmente na
manifestao mais importante da liberdade de
comunicaes entre as misses diplomticas e os res-
pectivos Estados. Na actualidade, o desenvolvimento
das comunicaes imateriais veio a desvalorizar este
mecanismo, que em todo o caso continua a ter con-
sagrao e acolhimento universal.
MALTHUSIANISMO
Doutrina acerca da dinmica populacional, desenvol-
vida por Thomas Malthus (1766-1834), segundo a qual
o aumento da populao depara com limitaes
naturais, como a fome e a guerra.
A seu ver, o poder da populao indefinidamente
maior do que o poder da terra em produzir subsis-
tncia para o Homem. Da identificar o crescimento
da populao como um obstculo ao progresso
humano. Mais tarde, numa edio revista do seu tra-
balho (1803), adiciona os constrangimentos morais,
(o casamento tardio e a abstinncia) como factores
limitativos do crescimento populacional. J em mea-
dos do sculo XIX, o neomalthusianismo veio defen-
der princpios como o do controlo da natalidade nos
meios mais pobres.
M
MEGALPOLIS
A cidade das cidades na Grcia antiga. Conceito
usado no mundo contemporneo, relativo s gran-
des conurbaes.
MEIOS DE PRODUO
Meios pelos quais se processa a produo de bens
materiais numa sociedade, incluindo no apenas a
tecnologia mas tambm as relaes sociais entre os
produtores.
MELTING POT
Princpio que defende que as diferenas tnicas
podem ser combinadas de modo a criar novos padres
de comportamento influenciado por vrias fontes cul-
turais.
MEMBROS DO PESSOAL
DIPLOMTICO
So os membros do pessoal da misso que tiverem
a qualidade de diplomata. Em regra, devem ter a
nacionalidade do Estado acreditante. Tendo a
nacionalidade do Estado acreditador (ainda que em
simultneo com a do Estado acreditante), tm de ter
o consentimento deste, o qual poder retirar esse
consentimento a todo o tempo.
Tanto a sua nomeao (pelo Estado acreditante)
como expulso (pelo Estado acreditador) so livres,
fazendo-se esta atravs da declarao de persona non
grata.
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
Instrumento internacional de carcter menos for-
mal do que as convenes internacionais, utili-
zado frequentemente para indicar regras relativas
aplicao de uma conveno-quadro. Serve tam-
bm para regulamentar questes tcnicas ou de deta-
lhe.
Normalmente apresenta-se como acordo em
forma simplificada, sendo celebrado tanto por
Estados como por organizaes internacionais. A
ONU, por exemplo, conclui habitualmente memo-
randos de entendimento com os Estados-membros
para organizar as operaes de manuteno de paz
ou preparar conferncias que se reunam sob a sua
gide. Conclui ainda estes memorandos de entendi-
mento para regular a cooperao com outras orga-
nizaes internacionais.
MERCADO COMUM
Conceito de natureza poltico-econmica que implica
a unio aduaneira, mais a livre circulao dos fac-
tores de produo a liberdade de movimentao
dos trabalhadores, a livre circulao dos capitais, a
MATERIALISMO HISTRICO 114
viso global das relaes e transformaes sociais, ali-
cerada na mudana das condies de produo dos
bens e servios de uma sociedade, na luta de classes.
Apesar das vrias derivaes, possvel identificar
traos comuns s diferentes formulaes tericas
marxistas: a primazia dos fenmenos econmicos
sobre os polticos e culturais; o entendimento de que
a propriedade privada conduz desigualdade e explo-
rao; e a crena de que a sociedade ideal dever ser
alcanada atravs do proletariado ou dos seus lde-
res, no necessariamente proletrios, desenvolvendo
uma conscincia revolucionria, tomando o poder e
assumindo a vanguarda na constituio de uma socie-
dade comunista.
Transformada em dogma pelos comunistas, a teo-
ria marxista, datada do sculo XIX, deve ser enten-
dida, justamente e to-s, como uma teoria inter-
pretativa da sociedade capitalista, fecunda, mas fal-
vel porque no demonstrada.
MATERIALISMO HISTRICO
O conceito de materialismo histrico, associado aos
trabalhos de Karl Marx, resulta da conjugao da dia-
lctica, que entende o progresso com base num prin-
cpio de contradio, com o materialismo, que afirma
a superioridade da matria sobre o esprito. Deste
modo, o materialismo histrico explica a evoluo
da sociedade humana com base na constante oposi-
o entre as relaes sociais e as foras de produo,
sendo que as primeiras dependem das ltimas. A his-
tria de qualquer sociedade at aos nossos dias no
mais do que a histria da luta de classes (Karl Marx).
MEDIAO
Mecanismo poltico de regulao pacfica de confli-
tos, previsto na Carta das Naes Unidas, que con-
siste na interveno de um terceiro tendo em vista
aproximar as partes envolvidas num conflito, pro-
pondo bases de negociao e intervindo no desenrolar
das negociaes tentando aproximar as posies das
partes, sem todavia propor solues.
MEDITERRNEO MUNDIAL
Expresso atribuda por George Renner ao Oceano
rctico. Afirmando que, em frente ao heartland
euroastico de Mackinder se situa um espao equi-
valente em tamanho e recursos, compreendendo os
territrios dos EUA (incluindo o Alasca) e o Canad.
Renner defende que o advento do poder areo
colocou os EUA e a URSS face a face, atravs de
um pequeno mar facilmente transponvel, o rctico.
Esta circunstncia alterou a inviolabilidade espacial
daquelas potncias, tornando-as mutuamente vul-
nerveis. Desta forma, o rctico passou a desempe-
nhar um papel de primeira grandeza, a tal ponto que
Renner o redefine como Mediterrneo Mundial,
atravs do qual as condies de circulao so quase
ideais.
MERCADO COMUM DO CENTRO
AMERICANO (MCCA)
Central American Common Market
O Tratado de Mangua, que estabeleceu o Mercado
Comum do Centro Americano, entrou em vigor a 4
de Junho de 1961, abrangendo a Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras e Nicargua. O pro-
cesso de integrao desta sub-regio tem-se mostrado
difcil face a vantagens desiguais no mercado, com
efeitos negativos no crescimento econmico, no
comrcio e na industrializao. Da a razo de uma
emenda ao Tratado em Maro de 1975, que deter-
minou o estabelecimento da Comunidade Econmica
e Social da Amrica Central, em que se indicaram
as seguintes medidas: eliminao de obstculos
circulao de pessoas, mercadorias e capitais; coor-
denao e harmonizao das reas econmica,
social, fiscal, creditcia e captao de capitais estran-
geiros; e estabelecimento de um sistema correc-
tor de balanas de pagamentos entre Estados-mem-
bros e entre a Comunidade e o resto do mundo.
A MCCA adoptou uma pauta aduaneira comum
relativamente a pases terceiros e pratica a taxa zero
de direitos aduaneiros no que respeita a produtos
originrios, com excepo das mercadorias cons-
tantes de uma lista anexa ao Tratado que esto sub-
metidas a regimes especiais. A pauta aduaneira
comum representa um instrumento de proteco
s actividades produtivas da sub-regio, tratando
favoravelmente as matrias-primas e bens de equi-
pamento necessrios ao desenvolvimento econmico.
O MCCA foi relanado em 1991. Tem sede na cidade
de Guatemala.
MERCADO COMUM DO SUL
(MERCOSUL)
Southern Common Market
O Tratado que instituiu o Mercosul (Tratado de
Assuno) foi assinado em 26 de Novembro de 1991,
entre a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai,
e entrou em vigor a 1 de Janeiro de 1995. Repre-
senta um espao econmico na Amrica do Sul, ou
no Cone Sul, que envolve alguns sectores estratgi-
cos, nomeadamente, a agro-indstria, em virtude dos
pases integrados terem uma importante base agr-
cola, que constitui uma vantagem comercial a nvel
internacional; a indstria automvel, com uma pro-
duo mais concentrada no Brasil e na Argentina; a
construo, que diz respeito a projectos de infra-
-estruturas rodovirias entre os Estados-membros; os
servios urbanos, onde visvel a necessidade de fazer
face ao atraso de funcionalidade de servios essen-
ciais, tais como gua, saneamento bsico, habitao,
energia elctrica; e, por fim, programas de reflo-
restamento destinados a fornecer matria-prima
(madeira).
O Mercosul tem os seguintes objectivos: a amplia-
o da dimenso dos mercados, atravs da integra-
o, condio fundamental para acelerar os proces-
MERCADO COMUM DA FRICA ORIENTAL E AUSTRAL 115
liberdade de estabelecimento dos produtores e
comerciantes, e a livre prestao de servios pelas
empresas ou pelos profissionais livres, no caso da
Europa.
MERCADO COMUM DA FRICA
ORIENTAL E AUSTRAL
Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMESA)
Criado a 8 de Dezembro de 1994 pelo Tratado de
Kampala, o COMESA veio substituir a Zona de Pre-
ferncias Comerciais (PTA) criada em 1981 em
Lusaka (Zmbia). Visa a reduo das tarifas adua-
neiras e projecta uma tarifa externa comum para
2004, sendo o seu objectivo final a constituio de
uma comunidade econmica africana. Foi lanada em
Outubro de 2000 uma zona de livre comrcio por
nove dos seus Estados-membros. A Tanznia deixou
a organizao no fim de 2000.
A COMESA tem como misso contribuir para o
progresso econmico e social de todos os Estados-
-membros atravs de uma maior cooperao e inte-
grao em todas as reas de desenvolvimento, par-
ticularmente nos assuntos relacionados com o
comrcio, fronteiras e questes monetrias; trans-
porte, comunicao e informao; tecnologia, inds-
tria, energia; agricultura, ambiente e recursos natu-
rais.
So Estados-membros: Angola, Burundi, Cama-
res, Congo, Djibouti, Egipto, Eritreia, Qunia, Mada-
gscar, Malawi, Ilha Maurcia, Nambia, Uganda,
Ruanda, Seicheles, Sudo, Suazilndia, Zmbia e
Zimbabwe. Tem sede em Lusaka (Zmbia).
MERCADO COMUM DAS CARABAS
Caribean Common Market (CARICOM)
Criado em Agosto de 1973 pelo Tratado de Chaguara-
mas, o CARICOM sucedeu a outra experincia de inte-
grao denominada CARIFTA (1966), abarcando 13
pases da rea das Carabas. Trata-se de uma sub-
-regio de fraco crescimento econmico, baixo
comrcio intra-regional e dvidas externas muito ele-
vadas.
Tem por objectivos: promover a integrao eco-
nmica atravs de um mercado comum; coordenar
a poltica externa dos pases membros; e a coopera-
o em sectores especficos e em certos servios
comuns.
O Banco de Desenvolvimento das Carabas uma
instituio associada. Tem 15 Estados-membros:
Antgua e Barbuda, Baamas, Barbados, Belize,
Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, Montserrat,
Saint Kitts and Nevis, Santa Lcia, S. Vicente e
Granadinas, Suriname, Trindade e Tobago e Haiti.
So membros associados: Anguilla, Ilhas Turks e
Caicos, e Ilhas Virgens Britnicas. Tem sede em
Georgetown (Guiana).
que o autor defende a aplicao da explicao cau-
sal ao estudo dos factos sociais, aproximando os
mtodos sociolgicos dos mtodos objectivos das
cincias naturais. Determinar a especificidade da
sociedade, pr prova os mtodos de observao e
de anlise certificando a objectividade do conheci-
mento sociolgico, o programa que caracteriza a
afirmao da Sociologia como cincia e a sua auto-
nomia.
J Max Weber, sem invalidar a explicao, defende
sobretudo a compreenso e a interpretao: com-
preender o sentido da aco. Na medida em que o
fenmeno social produto da aco dos indivduos
que do um sentido ao seu comportamento, a dimen-
so subjectiva dos fenmenos sociais, relativa s sig-
nificaes atribudas pelos actores, deve ser tida em
conta. Hoje, a compreenso e a explicao associam-
-se nas cincias sociais, de modo a abordar e a ana-
lisar a realidade humana e social.
MTODO CIENTFICO
Mtodo, etimologicamente, caminho para, isto ,
o caminho que deve conduzir verdade cientfica.
Conjunto de procedimentos que conduzem a inves-
tigao para um determinado fim, de maneira a que
os resultados surjam de forma objectiva. Um ins-
trumento para se atingir o fim da cincia, isto , a
inteligibilidade do real.
Por outras palavras, os mtodos so princpios lgi-
cos e filosficos bastante especficos, que enquadram
e definem a cincia com um tipo de saber distinto
de outro tipo de saberes e empreendimentos huma-
nos.
O mtodo de investigao cientfica consiste em
formular questes sobre a realidade do mundo e a
realidade humana, baseando-se nas observaes da
realidade e nas teorias j existentes, antecipando
solues a estes problemas e confrontando-as com
a mesma realidade, mediante a observao dos fac-
tos, sua classificao e anlise.
O mtodo de Descartes (O Discurso do Mtodo,
1637) assentava em quatro regras metdicas: a regra
da dvida ter sempre um esprito crtico; a regra
da anlise dividir as dificuldades para melhor as
resolver; a regra da sntese reagrupar as solues
parciais obtidas com o intuito de atingir a soluo
global; e a regra da verificao assegurar que nada
foi esquecido.
Para Claude Bernard, o mtodo experimental
(Introduo ao Estudo da Medicina Experimental,
1865) era composto por trs fases: observao, des-
tinada a encontrar os factos problemticos e que
esto em contradio com as concepes anteriores;
explicao, que consiste em descobrir uma hiptese
que deve fazer face ao facto problemtico; e a veri-
ficao, que consiste em controlar a fundamentao
da hiptese, geralmente graas a instrumentos. A
verificao uma experimentao provocada.
Segundo Bachelard (O Novo Esprito Cientfico,
1934), em todas as cincias detecta-se uma influn-
cia recproca entre mtodo e doutrina (aqui, enten-
MTODOS NAS CINCIAS SOCIAIS 116
sos de crescimento; o desenvolvimento econmico
com justia social, a ser alcanado com melhor apro-
veitamento dos recursos disponveis, pela preserva-
o do meio ambiente, pela melhoria das intercone-
xes fsicas e pela coordenao das polticas macroe-
conmicas; a necessidade de insero internacional
dos Estados-membros tendo em vista a consolidao
de grandes espaos econmicos; a necessidade de
modernizar as respectivas economias a fim de
ampliar a oferta e a qualidade dos bens e servios, a
bem das condies de vida das populaes.
O Mercosul, que abrange um espao fsico de cerca
de 12 milhes de quilmetros quadrados, agrupando
duas das mais importantes economias da Amrica
Latina, representa 50% da sua populao e, em ter-
mos de PIB, 60% do total do subcontinente.
As principais fragilidades do Mercosul so as dbeis
infra-estruturas existentes nas ligaes entre os
Estados-membros; as disparidades entre os Estados-
-membros, detendo o Brasil 72% da superfcie total,
79% da populao e 64% do PIB global; polticas cam-
biais no coordenadas, o que cria uma situao de
incerteza permanente para os exportadores, com
repercusses na poltica comercial; e a grave crise
poltica, econmica e financeira que a Argentina tem
atravessado nos ltimos anos.
Em Dezembro de 1996, foi celebrado um Acordo
de Complementao Econmica com a Bolvia,
idntico na sua estrutura ao estabelecido com o Chile
em 25 de Junho de 1996. Estes acordos de associa-
o criaram uma zona de comrcio livre com o Mer-
cosul.
Tem o secretariado localizado em Montevideu.
MTODOS NAS CINCIAS SOCIAIS
Em vista dos objectivos a que se propem, dos pon-
tos de vista que perfilham e dos problemas que levan-
tam, as cincias sociais utilizam uma metodologia
prpria, assente em dados quantitativos e qualitati-
vos. Os mtodos e as tcnicas de pesquisa so varia-
dos, com utilizao do inqurito, entrevista, ques-
tionrio, anlise de documentos, observao directa,
observao participante e estatstica. Investigaes
matemticas, tais como as sondagens, que se torna-
ram um instrumento insubstituvel em cincias
sociais, so, muitas vezes, completadas por investi-
gaes e anlises qualitativas, fundadas sobre a obser-
vao ou a entrevista. Esta tendncia qualitativa e
mesmo descritiva tambm reforada por diver-
sas correntes que privilegiam o ponto de vista da
construo do sentido pelos actores sociais em situa-
o.
Em termos histricos, porm, podemos assinalar
duas tradies metodolgicas e epistemolgicas
que predominaram nas cincias sociais em geral e,
em particular, na Sociologia: a explicativa e a com-
preensiva. Com Durkheim, o facto social exterior
ao esprito e deve ser estudado por mtodos cient-
ficos; ou seja, a regra segundo a qual preciso tra-
tar os factos sociais como coisas acompanhada dos
utenslios e dos mtodos para os estudar. por isso
como foram formuladas pela escola sociolgica fran-
cesa, de Durkheim e Lvy-Bruhl. O essencial do
mtodo sociolgico reside na transposio dos
mtodos das cincias da natureza para o estudo das
sociedades humanas, de tal modo que o percurso
metodolgico a seguir respeita certas etapas que pas-
sam sequencialmente pela observao-constatao,
pela notao dos factos, pela comparao dos factos,
pela sistematizao das ligaes lgicas dos mesmos
e finalmente pela verificao, que permite testar a
pertinncia das observaes.
Influenciados pelo desenvolvimento da matem-
tica, numerosos especialistas das Relaes Interna-
cionais procuram utilizar tcnicas e mtodos mate-
mticos. A tradicional quantificao dos dados, a uti-
lizao de grficos, a construo de modelos, a teo-
ria dos jogos e a teoria da deciso, so alguns dos
mtodos, tcnicas e teorias da Matemtica aplicados
s Relaes Internacionais que, procuram dar a fen-
menos e a relaes fecundas mas, por vezes, confu-
sas, uma formulao mais precisa e rigorosa, esta-
belecer representaes esquemticas e relaes de
interdependncia mesmo sabendo ns que a quan-
tificao e a utilizao das tcnicas e mtodos mate-
mticos, no conferem, por si s, investigao em
Relaes Internacionais o rigor cientfico que se
exige.
Podemos adaptar, para as Relaes Internacionais
a reflexo que Charles Eisenman apresenta para a
Cincia Poltica, a propsito do seu objecto e mtodo:
quando uma cincia gera discusses prolongadas a
propsito do seu objecto e mtodo, sinal de que no
est segura, nem de um nem de outro.
Seja como for, torna-se cada vez mais necessria
uma reflexo metodolgica em torno das Relaes
Internacionais, reflexo tanto mais pertinente quanto
o seu desenvolvimento de modo algum levou uni-
ficao de perspectivas e metodologia.
METODOLOGIA
Estudo dos mtodos cientficos, dos vrios processos
que as cincias utilizam para descobrir e demonstrar
a verdade.
A metodologia do trabalho cientfico a disciplina
que tem como objectivo a aprendizagem dos funda-
mentos tericos da investigao e da prtica cient-
fica. O procedimento metodolgico implica tomar-
-se conscincia de um problema, formul-lo com cla-
reza e trabalhar em ordem sua resoluo.
Pode definir-se, de outro modo, como a disciplina
que examina e avalia as tcnicas de pesquisa, bem
como a gerao ou verificao de novos mtodos que
conduzem captao e processamento de informa-
o com vista resoluo de problemas de investi-
gao.
Segundo Bruno Deshaies, o objectivo de uma dis-
ciplina de metodologia consiste em fazer com que os
estudantes ganhem conscincia desse procedimento,
adquiram melhores conhecimentos e uma maior
compreenso das etapas a seguir quando se planeia
uma investigao concreta, e conheam os mtodos
MTODOS DAS RELAES INTERNACIONAIS 117
dida como o prprio desenvolvimento da cincia);
uma vez que uma cincia no se forma seno refor-
mando-se no seu objecto, mtodos e doutrina (Robert
Blanch).
Segundo Isaac Asimov (1979), o mtodo cientfico,
na sua verso ideal consiste em: detectar a existn-
cia de um problema; separar os aspectos essenciais
dos no essenciais; reunir todos os dados possveis
que incidam sobre o problema, mediante a observa-
o simples e experimental; elaborar uma genera-
lizao-base que os descreva da maneira mais sim-
ples possvel, atravs de um enunciado breve ou de
uma formulao matemtica (hiptese); atravs da
hiptese prever-se os resultados de experincias ainda
no realizadas, vendo posteriormente se a mesma
vlida; caso as experincias funcionem, a hiptese sai
reforada e pode converter-se numa teoria ou lei
natural.
De acordo com Madeleine Grawitz, importa distin-
guir mtodo e procedimentos cientficos. Enquanto
estes representam as etapas das operaes ligadas a
elementos prticos, concretos, adaptados a um fim
definido, o mtodo uma concepo intelectual que
ordena um conjunto de operaes, regra geral, vrios
procedimentos.
MTODOS DAS RELAES
INTERNACIONAIS
O estudo das Relaes Internacionais levanta pro-
blemas metodolgicos gerais que a Cincia Poltica
conhece no seu conjunto. Os seus mtodos so eclc-
ticos, mltiplos e relativos.
Eclcticos, porque dizem respeito a vrias cincias
Cincia Poltica, Histria, Direito, Geografia,
Economia, Cincias Exactas, etc.
Mltiplos e diversificados, tanto em funo do
objecto de estudo como das doutrinas de referncia.
A descrio anda de par com a sistematizao, a an-
lise com a sntese, o universal com o regional ou
local; a pesquisa pura com a ajuda deciso ou a jus-
tificao de uma poltica.
Relativos, porque essas anlises encontram-se sem-
pre sujeitas cauo e reviso, s raramente se
podendo medir a sua validade, uma vez que as suas
bases no so totalmente racionais; pelo contrrio,
incorporam preconceitos, pressupostos, valores e
referncias ideolgicas, alm de serem sempre tri-
butrios da subjectividade dos observadores.
As Relaes Internacionais no possuem, assim,
mtodos de anlise especficos, exigindo a investi-
gao nesta rea cientfica uma abordagem multi-
disciplinar (Braillard e Sur).
Os mtodos das Relaes Internacionais so, pois,
os mtodos da cincia, da Sociologia poltica e das
cincias sociais em geral, no dispondo de mtodos
nem de tcnicas prprias. Utilizam assim, o mtodo
sociolgico, o mtodo histrico, a anlise crtica e
comparativa e mesmo os mtodos matemticos.
Nas Relaes Internacionais como na Cincia
Poltica, enquanto cincias sociais, boa parte dos
investigadores segue as regras do mtodo sociolgico,
no deixaro de crescer, tendo em ateno o dese-
quilbrio demogrfico do mundo o envelhecimento
da populao do norte, que estagna face ao cresci-
mento e juventude do sul e o desequilbrio eco-
nmico os pases desenvolvidos concentram perto
de 90% do rendimento mundial.
MISSO DIPLOMTICA
Servio pblico de representao instalado no ter-
ritrio de outro Estado (misso permanente), ou
de representao eventual junto de outros sujeitos
de Direito Internacional (misso especial ou ad hoc).
MODELO
O modelo um esquema sinttico e abstracto que,
atravs de uma construo rigorosa, ordena os ele-
mentos da realidade. Um modelo consiste, portanto,
numa representao formal de ideias ou conheci-
mentos relativos a um fenmeno. Todo o modelo
um compromisso difcil entre, por um lado, a ten-
tativa de simplificao e, por outro, a tentativa de
reflectir a complexidade do real.
A construo de um modelo parte de uma srie de
observaes concretas ou experimentais. A partir des-
tas observaes estabelece-se a existncia de relaes
entre determinados elementos significativos (facto-
res variveis). A partir da existncia destas relaes
podemos deduzir um esquema explicativo que, pos-
teriormente, pode ser aplicado a situaes compa-
rveis, permitindo assim verificar as constantes e as
variveis prprias de cada caso de estudo.
Para Max Weber, o tipo-ideal (como o feudalismo,
o capitalismo, o protestantismo, a sociedade indus-
trial, a sociedade tradicional) um modelo cons-
trudo, que no refere seno aspectos julgados fun-
damentais do fenmeno a que se refere. Os modelos,
na acepo de tipo-ideal, so conceitos ou constru-
es intelectuais, que remetem para os traos mais
pertinentes do objecto ou da realidade que repre-
sentam, constituindo uma representao ideal: as
construes tpico-ideais da aco social, como as
preferidas pela teoria econmica, so estranhas rea-
lidade. Nesta medida, o modelo abstracto no sen-
tido lgico do tipo-ideal serve como meio de conhe-
cimento. A noo de modelo social utiliza-se por
vezes na acepo das normas e convenes que regem
os papis sociais; ou seja, no sentido das condutas
regulares e das actividades tipificadas no interior das
instituies, sendo a institucionalizao da conduta
uma tipificao recproca de aces habituais por
tipos de actores.
O modelo, ao nvel das prticas sociais, constitui
aquilo que um actor individual ou colectivo segue,
respeita, imita. Trata-se de um modelo de compor-
tamento, dotado de uma determinada significao
social. Um lder poltico pode funcionar como modelo
para o militante, ou um professor para o aluno, mas
pode tambm tratar-se de uma organizao social que
seja considerada um modelo a imitar, um sistema
jurdico, ou uma economia (liberal, socialista), etc.
MICROCOMPUTADOR 118
e tcnicas susceptveis de favorecer a procura de solu-
es para os problemas e de explicaes para eles.
A metodologia diz respeito actividade crtica diri-
gida pelos cientistas face aos procedimentos, teorias,
conceitos e descobertas produzidas pela investigao
cientfica.
Nas cincias sociais e humanas, como nas cincias
naturais, a metodologia representa o caminho essen-
cial atravs do qual se efectua o progresso cientfico.
MICROCOMPUTADOR
Computador em que a unidade central de processa-
mento (CPU) um microprocessador.
MICRO-ESTADO
Estado que apesar de uma reduzida expresso popu-
lacional e territorial, mantm a pretenso ao pleno
exerccio das suas capacidades soberanas (no que se
distingue, por exemplo, do Estado exguo que trans-
fere para o Estado limtrofe o exerccio parcial de
competncias estaduais, assumindo assim a qualidade
de Estado semi-soberano.
MICROSOFT
Empresa que desenvolve software (software house).
Fundada por Bill Gates, em 1976, foi responsvel pelo
fornecimento do Sistema Operativo MS-DOS para os
computadores pessoais IBM-PC (1981). A Microsoft
a maior empresa mundial de produo de software,
tendo como principais produtos os sistemas opera-
tivos da famlia MS-Windows e as aplicaes de pro-
dutividade pessoal integradas no MS-Office (Word,
Excel, PowerPoint e Access).
MIGRAES
Deslocaes com carcter temporrio ou permanente
de pessoas, devido a factores de natureza econmica,
poltica ou ecolgica, que podem desenvolver-se den-
tro do mesmo pas migraes internas ou de um
pas para outro migraes internacionais. A sia,
frica e Amrica Latina constituem zonas de emi-
grao e a Amrica do Norte, Europa e Austrlia,
zonas de imigrao. Os fluxos migratrios interna-
cionais desenvolveram-se no sentido sul-norte
(frica para a Europa; Amrica Latina para a
Amrica do Norte), mas com o fim da guerra fria,
assiste-se igualmente a movimentos de populaes
este-oeste, na Europa, com os imigrantes vindos da
Europa central e oriental para a Europa ocidental.
A intensidade das migraes, nomeadamente clan-
destinas, com destino Europa, levaram a Unio
Europeia a tentar controlar tais fluxos, assistindo-
-se, ao presente, tentativa de construo de uma
poltica comum de migrao. Os fenmenos migra-
trios revelam-se de uma complexidade crescente,
mas doutrina assente que, no futuro, as migraes
Em suma, a perspectiva tradicional assume que a
poltica externa formulada de uma forma homo-
gnea e unitria, em conformidade com os elemen-
tos de poder e com base na definio do interesse
nacional.
Modelo decisional de Snyder
Esta perspectiva apresenta quarto pressupostos
inovadores, a saber: a assuno que a poltica externa
consiste em decises tomadas por decisores polti-
cos identificveis e que, portanto, esta actividade
comportamental que requer explicao; a importn-
cia da percepo dos decisores relativamente defi-
nio da situao; a nfase dada s origens doms-
ticas e societrias da poltica externa; a assuno que
o prprio processo de deciso pode ser uma fonte
importante e independente de decises.
Assim, com Snyder, os factores externos deixam de
ser os factores primordiais e quase absolutos na expli-
cao do comportamento externo do Estado. Os fac-
tores externos passam a fazer parte de um conjunto
mais vasto de factores que, de uma forma geral, con-
dicionam uma situao especfica, a qual, por sua vez,
definida de acordo com a percepo dos decisores
polticos.
Em sntese, a perspectiva de Snyder introduz um
modelo de anlise onde os factores internos, os exter-
nos e o prprio processo de deciso so as variveis-
-chave para a explicao dos fenmenos de poltica
externa.
Linkage theory de James Rosenau
Baseado num modelo sistmico de input output,
a linkage theory insere-se na dinmica originada pela
teoria sistmica, no sentido de ampliar o horizonte
de estudo das Relaes Internacionais.
O seu pressuposto fundamental o da mtua inter-
penetrao e interdependncia entre o meio interno
e o meio internacional (sistema/ambiente). Rosenau
afirma que o investigador de poltica externa deve
preocupar-se em analisar os processos de linkage que
ocorrem entre os sistemas nacionais e o sistema
internacional.
Rosenau salienta que o processo caracterizado
pelas mudanas ocorridas nos Estados resultado da
crescente modernizao social combinadas com o
crescente desenvolvimento dos nveis de interde-
pendncia no sistema internacional, produziu alte-
raes nas exigncias do Estado que, por sua vez, se
reflectiram na natureza das suas polticas externas.
Em primeiro lugar, tornou-se cada vez mais dif-
cil separar a poltica interna da poltica externa.
Em segundo lugar, a distino entre as high poli-
tics que esto associadas com a sobrevivncia e a
segurana do Estado e as low politics que dizem
respeito riqueza e bem-estar dos cidados tornou-
-se menos importante, pois as segundas tm vindo
a assumir um papel cada vez mais importante.
Em terceiro lugar, a capacidade de controlo por
parte dos governantes relativamente sua poltica
externa, e mesmo em relao poltica interna,
tem vindo a diminuir com o crescimento da inter-
dependncia.
MODELO COMUNICACIONAL (KARL DEUTSCH) 119
MODELO COMUNICACIONAL
(KARL DEUTSCH)
Um dos modelos encontrados pela escola behavio-
rista, e que teve um grande impacto na disciplina
das Relaes Internacionais. Elaborado por Karl
Deutsch no seu estudo sobre o nacionalismo e a
comunicao, mais do que procurar definir o nacio-
nalismo atravs de critrios ideolgicos, Deutsch
tenta estabelecer uma correlao entre a coeso
de uma comunidade poltica e o nvel de comunica-
es intensidade, rapidez, frequncia das comuni-
caes de todos os tipos que se estabelecem entre
os seus membros.
A sociedade como uma comunidade desenvolve-se
atravs de uma aprendizagem social. Neste sentido,
uma comunidade compreende as pessoas que apren-
deram a comunicar entre si. Assim, uma comunidade
poltica baseia-se numa comunidade de hbitos com-
plementares e de facilidades de comunicao que per-
mite a construo de uma histria comum.
Partindo desta hiptese, Deutsch estuda vrios
tipos de sociedades onde se encontra uma diversidade
racial, cultural e lingustica, demonstrando a exis-
tncia de uma correlao entre o grau de coeso
nacional e a densidade de comunicaes entre as dife-
rentes categorias e os diferentes estratos dessas socie-
dades heterogneas.
MODELOS DE ANLISE DA POLTICA
EXTERNA DOS ESTADOS
Campo de estudo das Relaes Internacionais que
tem por objectivo analisar e explicar as polticas
externas dos Estados. Este subcampo das Relaes
Internacionais reflecte os debates terico-metodo-
lgicos globais das Relaes Internacionais e prope
vrios modelos de anlise que, mais do que rivais,
devem ser complementares e que, por bvias razes
de sistematizao, reduzimos aqui a quatro mode-
los fundamentais.
Modelo de anlise tradicional
A abordagem tradicional assume apriorstica e
implicitamente dois pressupostos tericos funda-
mentais: as atitudes adoptadas pelos Estados no sis-
tema internacional so unnimes, ou seja, os Esta-
dos so unitrios e monolticos na formulao e exe-
cuo das suas polticas externas; e a existncia de
uma dicotomia entre a poltica externa e a poltica
interna. Nesta ptica, a poltica interna encarada
como uma esfera distinta e independente da poltica
externa.
A perspectiva tradicional estabelece como princi-
pal problema de anlise a necessidade governamen-
tal de manter a autonomia e a integridade do Estado
face possibilidade de agresses exteriores. Assume
que os propsitos de aco do Estado so essencial-
mente determinados pelos factores externos.
Deste modo, so os factores externos e no os inter-
nos que so considerados como determinantes do
comportamento dos Estados.
MODUS VIVENDI
Instrumento convencional temporrio ou provisrio,
visando a sua substituio por uma conveno mais
desenvolvida e permanente. Pode tambm surgir
como mero acto concertado no convencional,
acordado de forma oficiosa.
MONARQUIA CONSTITUCIONAL
Contexto poltico em que o rei ou rainha so, em
grande medida, apenas figuras de Estado, sendo que
o verdadeiro poder est nas mos de outros lderes
polticos.
MONISMO
O monismo (ou corrente monista) surge no mbito
da questo relativa s relaes entre o Direito Inter-
nacional e o Direito Interno dos Estados, defendendo
a unidade do sistema jurdico, por oposio ao dua-
lismo que defende a independncia entre as ordens
internacional e interna.
Segundo esta perspectiva que hoje em dia pra-
ticamente unnime na doutrina as normas de
Direito Internacional tm, de per se, aplicao na
ordem interna (maxime pelos tribunais) sem qual-
quer recepo material, admitindo-se apenas uma
eventual exigncia pela ordem interna de actos de
recepo formal.
Esta posio de princpio conduz todavia acei-
tao da aplicao simultnea de regras provenien-
tes de diferentes ordens jurdicas (internacional e
interna), pelo que subsiste a questo do critrio a
aplicar em caso de conflito. Duas so as respostas
possveis: a do reconhecimento da primazia ou
primado do Direito Internacional (normalmente
apelidada de monismo com primado do Direito
Internacional) e a inversa, ou seja, da primazia do
Direito Interno (monismo com primado do Direito
Interno). Esta ltima acaba por conduzir negao
do Direito Internacional na medida em que permite
aos Estados afastarem quaisquer obrigaes inter-
nacionais atravs da adopo de um acto interno con-
trrio a essas obrigaes pelo que o seu acolhimento
hoje em dia pouco significativo na doutrina. Esta
tende, assim, a reunir-se em volta do monismo com
primado do Direito Internacional, que constitui a
nica posio de princpio que permite enquadrar
este ramo do Direito nessa qualidade. Em todo o caso,
a querela monismo-dualismo, que tradicionalmente
merecia nos programas de Direito Internacional uma
ateno importante, tem hoje em dia tendncia para
perder essa posio, j que, na doutrina e juris-
prudncia internacionais, se tem obtido um regime
de convergncia que por um lado afirma a obriga-
o dos Estados adequarem a sua ordem interna
ao cumprimento das suas obrigaes internacionais
(no que se aproxima do monismo com primado do
Direito Internacional), mas admitindo todavia que
o incumprimento dessas obrigaes no implica a
nulidade dos actos que consubstanciem esse incum-
MODERNIZAO 120
Modelo de anlise burocrtica de Allison
Allison demonstra a existncia de uma relao estreita
entre a utilizao de um determinado esquema con-
ceptual e a explicao encontrada na anlise de um
caso especfico. Deste modo, sistematiza as diferen-
tes abordagens relativas anlise da poltica externa,
atravs de trs modelos conceptuais, a saber: modelo
do actor racional; modelo de processo organizacio-
nal e modelo de poltica burocrtica.
De acordo com o modelo do actor racional ou tra-
dicional, os Estados so retratados como entidades
monolticas e unificadas, onde os decisores agem de
acordo com a lgica da maximizao do interesse
nacional.
No modelo de processo organizacional, a poltica
externa no entendida como o produto de escolhas
deliberadas por um actor governamental unificado,
mas antes como resultante de outputs de grandes
organizaes, que funcionam segundo comporta-
mentos padro.
A capacidade explicativa deste modelo reside na
localizao dos actores organizacionais interve-
nientes, na identificao dos seus procedimentos e
rotinas processuais.
O modelo de poltica burocrtica no considera
nenhum actor unitrio, mas antes numerosos acto-
res vistos como jogadores que no se concentram
numa s questo estratgica, mas em muitos e diver-
sificados problemas internacionais.
Estes diversos actores agem, no em funo de um
conjunto coerente de objectivos estratgicos, mas de
acordo com diversas concepes dos objectivos nacio-
nais, organizacionais e pessoais.
Em sntese, no modelo do actor racional, a pol-
tica externa concebida como produto da escolha
governamental. No modelo de processo organiza-
cional, a poltica externa concebida como produto
de outputs organizacionais. No modelo de poltica
burocrtica, a poltica externa concebida como
resultado de um jogo negocial disputado entre os
principais actores governamentais.
MODERNIZAO
Transformao dos processos de produo, por
intermdio de novas tecnologias, de novas formas de
trabalho e de novas organizaes e estruturas de
financiamento e de produo (concentrao).
MODIFICAO DAS CONVENES
INTERNACIONAIS
O termo modificao tem diversas acepes, mesmo
no plano estritamente jurdico. Por um lado utili-
zado em termos gerais para englobar reviso e
emendas e ainda para referir alteraes introdu-
zidas a uma conveno por algumas das partes e que
so aplicveis apenas s relaes entre estas.
No dispondo a conveno diferentemente, estas
so admitidas, enquanto no afectem os direitos e
obrigaes das outras partes nem contrariem o
objecto ou fim da conveno.
ceira via entre as polticas das grandes potncias
baseada no anti-imperialismo.
Na dcada de 1970 o movimento vai entrar numa
fase de crise ligada diversidade cada vez maior dos
regimes e das polticas seguidas pelos Estados do
Terceiro Mundo. O grau de unidade registado no inte-
rior do movimento era cimentado pela luta anti-
colonial, que deu lugar a interesses divergentes a
partir do momento em que os Estados do Terceiro
Mundo desenvolveram progressivamente estratgias
nacionais. Isto explica-se pelo facto destes pases no
terem identidade comum em matria de histria, de
cultura e de desenvolvimento econmico, e por exis-
tirem numerosas rivalidades de interesse poltico a
dividi-los.
Com a desagregao do Bloco de Leste, o movimento
perdeu muita da sua influncia internacional. Hoje,
tem 116 Estados-membros, tendo sido os ltimos pa-
ses a aderir Timor-Leste e So Vicente e Granadinas,
em Fevereiro de 2003.
MULTICULTURALISMO
Transculturao
MULTILATERALISMO
Sistema de coordenao de relaes entre trs ou
mais Estados de acordo com determinados princpios
de conduta, e com objectivos definidos. Traduz o reco-
nhecimento de que problemas escala mundial como
crises ambientais, controlo internacional do trfico
de estupefacientes e terrorismo no podem ser tra-
tados de forma individual por cada um dos Estados,
mas exigem esforos e polticas coordenados, desen-
volvidos de forma colectiva por vrios Estados.
MULTIMDIA
Termo associado ao equipamento ou aplicaes infor-
mticas que suportam imagens, som e vdeo no com-
putador.
MULTIPOLARIDADE
Sistema internacional englobando mais do que dois
centros de poder identificados como predominantes,
podendo estes plos ser Estados, blocos ou coliga-
es. O exemplo clssico de um sistema multipolar
o da balana de poder, que implica a distribuio
de poder no sistema internacional evitando uma
situao de hegemonia.
MULTINACIONAL (EMPRESA)
Firma ou corporao que possui firmas subsidirias
ou sucursais no exterior. Segundo a ONU, empresas
originrias de um pas, com actividades estveis e
controlando filiais em, pelo menos, dois pases
estrangeiros, onde realiza mais de 10% do seu volume
MOVIMENTO DE LIBERTAO NACIONAL 121
primento, mas to-s a responsabilizao internacio-
nal pelos danos da resultantes.
MOVIMENTO DE LIBERTAO
NACIONAL
Sujeito de Direito Internacional que consiste numa
entidade a quem reconhecida a representao de
um povo que aspira autodeterminao.
Juridicamente o movimento de libertao surge
como sujeito a partir do seu reconhecimento, sendo
que a sua capacidade jurdica se encontra limitada
aos actos que integrem o referido escopo (a autode-
terminao do povo).
MOVIMENTO DOS NO-ALINHADOS
O ponto de partida deste movimento deu-se na Confe-
rncia de Bandung, em 1955, por iniciativa da Jugos-
lvia (Tito), do Egipto (Nasser) e da ndia (Nehru),
a qual reuniu mais 29 Estados dos continentes afri-
cano e asitico. O acordo vai estabelecer-se em torno
dos designados princpios da coexistncia: respeito
pelos direitos humanos, soberania e integridade
territorial, igualdade de todas as raas, no inter-
veno e no ingerncia, recusa de exerccio de pres-
so de um Estado sobre outro e respeito pela jus-
tia.
A primeira reunio oficial dos Estados no-ali-
nhados deu-se em Setembro de 1961, na Conferncia
de Belgrado, que reuniu 25 Estados, isto , onze
Estados asiticos, onze Estados africanos, Cuba e dois
Estados europeus, Chipre e Jugoslvia. A declarao
final adoptada pelos chefes de Estado e de governo,
no dia 6 de Dezembro de 1961, define a Carta do no-
-alinhamento. Depois de condenar o colonialismo, o
racismo e as bases militares estrangeiras, depois de
ter expresso o seu desejo de participar na resolu-
o dos conflitos internacionais, o movimento pro-
punha uma terceira opo face diviso leste-oeste,
recusando o alinhamento, quer pela URSS, quer pelos
EUA.
Numa conferncia preparatria com lugar no
Cairo, em Junho de 1962, 19 delegaes afro-asiti-
cas s quais se juntaram as da Jugoslvia e Cuba
tentaram definir o no-alinhamento, com base em
cinco critrios: seguir uma poltica independente
baseada na existncia pacfica e no no-alinhamento,
ou adoptar uma atitude favorvel a esta poltica;
apoiar sempre os movimentos de libertao nacio-
nal; no pertencer a nenhuma aliana bilateral com
uma grande potncia; no aceitar de bom grado o
estabelecimento no seu territrio de bases militares
pertencentes a uma potncia estrangeira.
O no-alinhamento, afirmando-se como uma
recusa dos blocos, foi de certa forma uma afirma-
o da identidade e da especificidade cultural dos
novos Estados recm-descolonizados: o arabismo, o
africanismo e o asiatismo. O movimento inclui dois
aspectos, um de cariz negativo a recusa de todo e
qualquer alinhamento ideolgico ou poltico e
outro de contedo positivo a procura de uma ter-
MUNDIALIZAO 122
de negcios. As firmas multinacionais, mais recen-
temente designadas por supranacionais, globais ou
transnacionais, segundo Elie Cohen, so conjuntos
com forte presena mundial, cuja vulnerabilidade
aumenta medida da sua visibilidade universal e da
amplitude do patrimnio material ou imaterial que
acumulam, desempenhando um papel fundamental
na globalizao. Nas multinacionais, mais do que
a sua dimenso, conta a sua organizao e valor,
como no caso das Pequenas e Mdias Empresas (PME)
de alta tecnologia. O seu papel nas Relaes Interna-
cionais ultrapassa a simples dimenso econmica,
uma vez que a sua estratgia de deslocalizao, assim
como a globalizao/desregulamentao das suas
actividades transnacionais, pe em causa, a partir dos
anos 1980, a soberania dos Estados.
MUNDIALIZAO
Globalizao
Teve como principais traos o racismo, a exalta-
o do Estado e o culto do Chefe (o fhrer, em ale-
mo), o desprezo pela democracia liberal e a aceita-
o da violncia.
NACIONALIDADE
Vnculo poltico e jurdico de pertena a um dado
Estado. Para Stuart Mill, falar de nacionalidade era
falar de homens unidos por simpatias comuns, que
os levaram a desejar viver sob o mesmo governo e a
desejar que este mesmo governo seja exercido
exclusivamente por eles prprios ou por uma parte
deles. Este vnculo determinante nas relaes de
poder, dentro do Estado a que os indivduos se encon-
tram ligados. Embora comporte hoje variadas excep-
es, certo que continua nele a residir a parte mais
importante do exerccio pleno do poder poltico. Veja-
-se por exemplo o que determina a Constituio da
Repblica Portuguesa, no artigo 122., que a prop-
sito da eleio do Presidente da Repblica, define s
serem elegveis os cidados eleitores, portugueses
de origem, maiores de 35 anos.
O oposto de nacionalidade a apatrdia, que sig-
nifica para um indivduo aptrida a ausncia de qual-
quer nacionalidade. A nacionalidade adquire-se,
regra geral, pelo nascimento ou pela naturalizao,
processo atravs do qual um indivduo pretende
adquirir uma outra nacionalidade.
NACIONALISMO
Conjunto de crenas e smbolos que expressam iden-
tificao com uma determinada comunidade nacional.
a defesa intransigente dos valores nacionais, cor-
respondendo esta defesa, quase sempre, exaltao
do Estado, entidade que assume, nestes casos, uma
dimenso transcendente. As posies nacionalistas
costumam ser antagnicas de todas as formas de
integrao supranacional, ou, se se preferir, supra-
-estadual, surgindo assim como contraponto, no plano
das ideologias polticas, do internacionalismo. Este
tipo de manifestao poltica pode assumir duas formas
de expresso: num caso, ser nacionalista pode sig-
nificar isolamento a nvel internacional, noutro caso,
pode querer dizer alargamento do espao interno e
NAO
Comunidade histrica de cultura, fundada numa his-
tria comum, em afinidade de esprito e instituies,
e num sentimento de destino comum (Jorge Miranda).
Conceito extremamente fludo, embora coincida
com a nica expresso jurdica susceptvel de o encar-
nar, o Estado, no se pode confundir com este. Nem
todas as naes se constituram em Estados ( o caso
da nao curda), do mesmo modo que h Estados
com vrias naes (foi o caso da ex-Unio Sovitica;
o caso da China ou da Espanha). Pode englobar uma
srie de Estados que reivindicam a mesma herana
e a mesma cultura (nao rabe) e pode traduzir duas
ou mais entidades colocadas sob o controlo de uma
autoridade nica (ustria-Hungria antes de 1914).
O Estado, no raras vezes, precedeu a nao, como
aconteceu com os EUA e muitos dos pases da Am-
rica Latina, frica e sia. Com a Revoluo Francesa,
a nao foi identificada com o povo.
O termo habitualmente usado para designar um
conjunto de pessoas ligadas entre si por uma lngua,
usos e costumes comuns aquilo a que muitos cha-
mam a comunidade nacional. Nesta acepo, falar de
nao falar de algo que pode existir antes do Estado
e mesmo fora de qualquer Estado. No entanto, o con-
ceito pode tambm querer designar uma realidade
criada a partir do Estado e cuja afirmao feita pela
aco continuada do poder poltico, que visa a unio
de todas as pessoas que estejam sob a alada desse
mesmo poder. Ser o caso dos territrios descolo-
nizados, nos quais conviviam variadas comunidades
nacionais com lnguas, usos e costumes diferentes,
e que o novo poder poltico vai tentar unir, criando
uma nica identidade, a partir precisamente da aco
do novo Estado.
NACIONAL-SOCIALISMO
Tambm conhecido por nazismo, o nacional-socia-
lismo deve o seu nome ao Partido Nacional-Socialista
Alemo dos Trabalhadores, que tinha como sigla
NSDAP. A expresso representa a ideologia que orien-
tou todo o regime chefiado por Hitler, na Alemanha,
de 1933 a 1945 e que foi responsvel, quer pela
Segunda Guerra Mundial, quer pelo extermnio de
milhes de pessoas, em particular judeus.
N
ciao conclui-se com a adopo do texto, a qual
ocorre com o consentimento de todos os participan-
tes, excepto se as partes tiverem acordado diferen-
temente ou ainda quando ocorre numa Conferncia
Internacional, caso em que a adopo se far por
maioria de 2/3.
Esta fase releva simultaneamente no plano interna-
cional (que regula de forma relativamente desenvol-
vida alguns dos aspectos essenciais) e no plano
interno, na medida em que cabe s diferentes ordens
jurdicas nacionais determinar a competncia para
efectuar a negociao (normalmente o executivo, mas
podendo surgir especificidades diversas), os termos
em que ela executada e os poderes de que dispem
os intervenientes. Alguns autores designam esta fase
como a da elaborao do texto (o que sensivelmente
equivalente).
Em Portugal, a competncia para a negociao
cabe no sistema constitucional portugus ao governo.
Trata-se de uma competncia poltica exclusiva. As
regies autnomas podem participar na negociao
de convenes que directamente lhes digam respeito
permanecendo todavia a competncia no mbito do
executivo que a leva a cabo atravs do Ministrio dos
Negcios Estrangeiros, departamento responsvel
pela formulao, coordenao e execuo da poltica
externa portuguesa. Mesmo no caso de negociaes
de carcter interdepartamental, o Ministrio dos
Negcios Estrangeiros que assegura a necessria glo-
balizao, pelo que no pode a negociao ocorrer
sem o prvio enquadramento poltico a prestar por
este que dever ainda ser informado e pronunciar-
-se acerca das fases mais determinantes da referida
negociao.
NEGOCIAO DIPLOMTICA
o primeiro mecanismo poltico de regulao pac-
fica de conflitos, previsto expressamente na Carta das
Naes Unidas, o qual consiste na realizao de con-
versaes directas entre as partes envolvidas no con-
flito. A obrigao de negociar tem consagrao con-
suetudinria sendo expressa em numerosas conven-
es e implica a obrigao no condicionada de ini-
ciar e desenvolver tanto quanto possvel conversa-
es (o que impede, por exemplo, a insistncia infle-
xvel numa nica posio), buscando uma soluo
para o conflito (a qual naturalmente exorbita j da
obrigao).
NEGOCIAO INTERNACIONAL
A negociao internacional traduz-se pelos con-
tactos entre Estados no sentido de concertarem
entre si a realizao de interesses comuns ou rec-
procos.
Em sentido mais restrito, a negociao interna-
cional consiste na concertao entre Estados para se
chegar a um acordo, geralmente em forma escrita,
sobre qualquer questo especfica.
O autor norte-americano Charles Ikl define a
negociao internacional de carcter formal como o
NATO 124
aumento do territrio nacional. A ideia de espao
vital, para a chamada defesa dos interesses nacio-
nais, esteve muitas vezes na origem desta espcie de
actuao.
NATO
OTAN
NEGOCIAO (PRINCPIOS DA)
De acordo com Fisher e Ury, na obra Getting to Yes:
Negotiating Agreement Without Giving In (1981), a
negociao rege-se por quatro princpios fundamen-
tais que a seguir se explicitam.
Separar as pessoas dos problemas. Dado que so
as pessoas que negoceiam, fcil que as emoes pos-
sam interferir, levando os negociadores a centra-
rem-se mais no confronto de personalidades do que
nos problemas reais que os opem. Isso pode levar
a uma deteriorao das negociaes. As emoes
devem ser abertamente discutidas e reconhecidas
como legtimas, j que isso ajuda a manter a nego-
ciao sob controlo. Para alm disso, deve estimu-
lar-se uma boa comunicao entre os negociadores,
sabendo ouvir de uma forma activa, isto , centrando-
-se nos problemas e no nas insuficincias do inter-
locutor.
Centrar-se nos interesses e no nas posies. A
posio algo sobre o qual se decide; os interesses
so os motivos subjacentes a uma tomada de posi-
o. Como os interesses podem ser satisfeitos atra-
vs de diferentes posies prefervel negociar sobre
os interesses. Os negociadores devem ter ideias cla-
ras e firmes quanto aos seus interesses, mas devem
ser flexveis quanto s suas posies.
Investir em opes conducentes a ganhos conjun-
tos. Este princpio refere-se ao esforo que os nego-
ciadores devemdesenvolver no sentido de encontra-
rem entendimentos e benefcios comuns. Isto requer
capacidade imaginativa e inovadora, para alm do
recurso a tcnicas como o brainstorming.
E, finalmente, insistir em critrios objectivos.
Quando a outra parte se revelar intransigente e argu-
mentar mais a partir da sua posio do que dos seus
interesses, uma boa estratgia consiste em insistir
para que o acordo reflicta um critrio objectivo e
justo, independentemente das posies de cada uma
das partes. Esta estratgia ajuda a chegar a solues
baseadas em princpios e no determinadas pela pres-
so exercida pelos negociadores. Quando o debate se
centra em critrios objectivos, ambas as partes cedem
a uma soluo justa.
NEGOCIAO DAS CONVENES
INTERNACIONAIS
A negociao consiste na primeira fase da conclu-
so das convenes internacionais. levada a cabo
pelos plenipotencirios, e visa a elaborao e adop-
o do texto da conveno. Nestes termos, a nego-
NEO-IMPERIALISMO
Domnio de algumas naes sobre outras atravs
de condies desiguais de trocas econmicas. O
neo-imperialismo, ao contrrio dos antigos imprios,
no se baseia na imposio directa de poder poltico
de uma sociedade sobre outra. O contexto global mais
importante no qual se estabelecem relaes neo-
imperialistas entre sociedades industrializadas e
pases do Terceiro Mundo.
NEOLIBERALISMO
Tambm designado institucionalismo neoliberal,
parte dos preceitos fundamentais do liberalismo,
sendo considerada a principal concorrente terica do
neo-realismo. Apesar de no negar o carcter anr-
quico do sistema internacional, o neoliberalismo
enfatiza a possibilidade e variedades de cooperao
existentes, os processos de aprofundamento institu-
cional, e a criao de regimes, como mitigando os
inconvenientes do sistema de anarquia internacio-
nal. Alm do mais, o neoliberalismo privilegia um
modelo de abordagem com base numa multiplicidade
de actores num contexto de interdependncia com-
plexa (Keohane e Nye) (Teoria da interdependncia
complexa). O neoliberalismo retoma ainda alguns dos
princpios fundamentais da teoria liberal clssica em
termos econmicos, com ajustes, procurando dar res-
posta s mudanas de uma economia cada vez mais
complexa e em expanso. Neste contexto, e com o sur-
gimento do Estado providncia, os neoliberais tm
olhado os governos como meio de corrigir alguns dos
males resultantes do capitalismo sem regulao. Da
defenderem a criao de legislao relativa aos sal-
rios mnimos, segurana social, educao pblica, e
outras medidas de proteco dos consumidores e do
ambiente.
O alargamento da agenda das Relaes Internacio-
nais no sculo XX demonstra esta tendncia, com o
surgimento e afirmao de novas reas de anlise, como
as questes ecolgicas. Logo, teorias que se concen-
tram apenas em assuntos diplomtico-militares reve-
lam-se unidimensionais, presas ao passado e incapa-
zes de lidar com mudanas sistmicas (neo-realismo).
NEO-REALISMO
Tambm designado por realismo estrutural, deriva
do trabalho de Kenneth Waltz, que tenta incutir mais
rigor e cientificidade ao realismo. Waltz desvia-se do
determinismo da lgica explicativa da poltica defi-
nida em termos de poder (power politics) resultante
da natureza humana para uma explicao estrutural
com base no tipo de estrutura do sistema. Determi-
nante pela sua definio de estrutura e pela promo-
o de distines mais precisas entre os nveis de an-
lise estatal (unidade) e internacional (Sistema inter-
nacional).
O foco da anlise neo-realista continua a ser o estudo
da segurana, dirigindo a ateno para as caracters-
ticas estruturais do sistema internacional de Estados.
NEGCIO INTERNACIONAL 125
processo pelo qual propostas explcitas so apresen-
tadas ostensivamente com o objectivo de alcanar
um acordo pela troca ou pela realizao de um inte-
resse comum onde existem interesses opostos ou
em conflito. Segundo este autor, no existe, assim,
negociao sem a presena de um conflito de inte-
resses que resolvido pela criao de um interesse
comum.
Por seu turno, o autor francs, Alain Plaintey,
adopta a definio de outro autor, tambm francs,
Constantin, na sua obra sobre a negociao inter-
nacional concebida essencialmente para a nego-
ciao no sector privado, segundo a qual, a nego-
ciao o conjunto de prticas que permitem
compor pacificamente os interesses antagnicos
ou divergentes de grupos ou entidades sociais aut-
nomas.
NEGCIO INTERNACIONAL
Por negcio internacional entendemos todo o con-
junto de operaes que dizem respeito ao mundo eco-
nmico os fenmenos de carcter industrial, finan-
ceiro, de servios ou virtuais, que se encontram em
expanso crescente, como resultado directo dos avan-
os tecnolgicos das economias em rpida progres-
so e dos acordos comerciais internacionais.
Sob este conceito, designa-se toda e qualquer tran-
saco, acordo ou contrato de comrcio internacio-
nal e investimento externo, incluindo os riscos e ins-
trumentos financeiros ligados internacionalizao
da economia. Enquadram-se tambm de uma forma
mais tcnica, sob este conceito, os contratos de com-
pra e venda de mercadorias, acordos de franquia,
acordos de distribuio, acordos de transferncia de
tecnologia, etc.
O negcio internacional tem como objectivo o fun-
cionamento de todos os agentes econmicos.
Nesse sentido, importa conhecer os factores de
mudana nos mercados internacionais, as perspec-
tivas internacionais de contabilidade, poltica e estra-
tgia empresariais, sistemas de informao e tecnolo-
gias, marketing, gesto, finanas e comrcio (Capela
e Hartman), o papel das empresas multinacionais e
transnacionais, as alteraes ocorridas ao nvel da
competitividade, enfim as grandes tendncias da eco-
nomia internacional. Numa palavra, verificar de que
modo a globalizao econmica e financeira modifi-
cou o funcionamento da economia mundial em geral,
e dos negcios em particular.
NEOFUNCIONALISMO
Representando a evoluo intelectual do funciona-
lismo, tenta desenvolver, modificar e testar as hip-
teses do funcionalismo. O principal autor Ernest
Haas, que assume que a integrao um processo
que resulta da conscincia e trabalho das elites dos
sectores governamentais e privados que apoiam a
integrao funcional por razes pragmticas e numa
lgica de jogo de soma positiva.
entre os pases industrializados e os pases menos
desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, como
sinnimo de confronto oposio ou divergncia
entre os pases ricos do hemisfrio norte e os pases
pobres do hemisfrio sul. Esta expresso, funda-
mental nas Relaes Internacionais entre os anos
1970-1990, hoje pouco utilizada.
Tal no invalida que o aumento dos desequilbrios
mundiais gerados com a globalizao fundamente o
reforo da cooperao financeira, econmica, tcnica
e poltica norte/sul. A cooperao e a solidariedade
internacionais continuam no cerne de tais relaes,
exigindo ao norte e ao sul um novo modelo de desen-
volvimento comum, que tenha em ateno as ques-
tes da pobreza, do ambiente e das migraes inter-
nacionais.
NOTIFICAO
Acto jurdico unilateral, atravs do qual um Estado
d conhecimento de uma posio ou da existncia de
factos ou actos jurdicos.
A doutrina utiliza o conceito de declarao e de
notificao de forma praticamente equivalente.
Trata-se, em ambos os casos, do acto de base (abran-
gente) dos actos jurdicos unilaterais, na medida
em que em todos h sempre uma declarao, que
a comunicao (notificao) que condiciona a vali-
dade dos outros actos uma vez que a publicidade
uma exigncia destes.
NOVA ORDEM ECONMICA
INTERNACIONAL (NOEI)
Pelas resolues 3201 e 3202 (S-VI) de 1 de Maio de
1974, no decurso da sua sexta sesso extraordinria,
a Assembleia Geral das Naes Unidas adoptou uma
declarao e um programa de aco relativos ins-
taurao de uma nova ordem econmica interna-
cional. Esta expresso traduziu as aspiraes de
mudana de uma forte maioria de Estados, tendo um
significado tctico maior que o seu contedo material.
De um ponto de vista jurdico, ordem econmica
define-se como o conjunto de normas e instituies
regulamentando os comportamentos e as activida-
des dos operadores econmicos e correspondendo a
alguns princpios dirigentes ou padres julgados
complementares por um modelo econmico.
A ordem econmica mundial existente, objecto de
crticas do Terceiro Mundo, provm do esforo de
reconstruo do ps-guerra. Nesta poca, os Estados
industrializados de economia de mercado, sob lide-
rana dos EUA, dominavam econmica e politica-
mente o essencial do planeta; a sua preocupao em
restabelecer o mais depressa possvel as regras do
jogo de mercado, da concorrncia, nas suas relaes
mtuas, incitava-os a estabelecer as organizaes
internacionais e a elaborar normas convencionais
internacionais necessrias para este fim.
As primeiras instituies econmicas destinavam-
-se a garantir e a expandir os princpios do neolibe-
ralismo nas relaes econmicas internacionais: as
NEUTRALISMO 126
O conceito de estrutura significa o ordenamento das
partes de um sistema, sendo os constrangimentos
estruturais do prprio sistema global, mais do que
os atributos das suas unidades particulares, expli-
cativos do comportamento dos Estados, e afectando
as Relaes Internacionais. Deste modo, o neo-rea-
lismo defende como proposies bsicas o centralismo
do Estado como actor unitrio e racional, e a impor-
tncia da distribuio do poder, ou seja, a estrutura
sistmica geral, na anlise do comportamento, resul-
tados e percepes de deciso ao nvel interestatal.
NEUTRALISMO
Poltica de no envolvimento nos conflitos entre
Estados ou blocos de poder, tendo como principais
protagonistas os Estados do Terceiro Mundo, durante
a guerra fria, mas que sempre demonstraram uma
atitude mais favorvel para com a URSS.
Renncia ou posio formal que no toma qual-
quer partido em assuntos internacionais.
O neutralismo como atitude poltica geral, segundo
Adriano Moreira, deve muito doutrinao de lde-
res do Terceiro Mundo como Nasser, Kenyatta, Aml-
car Cabral e Tito e, sobretudo, interveno dos pa-
ses interessados nos debates da Assembleia Geral da
ONU, na qual se foram perfilando os alinhamentos
e as ideologias.
O neutralismo no pode ser confundido com neu-
tralidade direito de um Estado de se manter mar-
gem de um conflito, assente nos princpios da abs-
teno e da imparcialidade , nem com neutraliza-
o atitude imposta por uma ou mais potncias dis-
tintas.
A neutralidade permanente constitui um estatuto
adoptado por vrios Estados, como a Sua, ustria,
Irlanda, Finlndia e Sucia.
NORMATIVISMO
Corrente de pensamento jurdico oriunda da Escola
de Viena e tendo como figura principal Hans Kelsen.
Embora se pretenda distinta do voluntarismo
(reclamando-se objectivista), o seu formalismo
recondu-la, de alguma forma, a esse mesmo volun-
tarismo. Esse formalismo patente na questo tra-
dicional do fundamento da obrigatoriedade do Direito
Internacional, o qual, segundo o normativismo, resul-
tar, para cada norma, de normas que lhe so ime-
diatamente superiores e assim sucessivamente (for-
mando uma pirmide do direito) at Grundnorm,
que ser constituda pelo pacta sunt servanda.
Apesar de se tratar de uma perspectiva que encaixa
com facilidade na viso romanista, o facto que no
formalismo subsiste um desprezo pelo contedo
material da norma em favor de uma adequao for-
mal face a regras hierarquicamente superiores.
NORTE/SUL
Conceito que tanto pode ser utilizado no sentido das
relaes polticas, econmicas, sociais e culturais
potncias econmicas que fixam no s as regras do
comrcio entre elas prprias, mas tambm o quadro
geral das relaes econmicas internacionais.
NOVA PARCERIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DE FRICA
New Partnership for Africas Development (NEPAD)
Lanada em Outubro de 2001, por iniciativa da frica
do Sul, Arglia, Nigria e Senegal, o NEPAD visa a
reconstruo de frica, colocando o sector privado
e o recurso aos investimentos no centro do projecto.
Tem como Estados-membros todos os pases do con-
tinente africano.
NUCLEAR
Nas Relaes Internacionais o conceito est parti-
cularmente associado a aspectos poltico-militares e
de estratgia, incluindo assuntos relativos ao arma-
mento nuclear e sua proliferao, bem como esfor-
os no sentido de regular o uso deste tipo de ener-
gia, entre outros. Uma vez que as armas nucleares
se revelaram mais poderosas do que qualquer outro
tipo de armamento at ento conhecido, foi neces-
srio repensar os princpios polticos e estratgicos
ligados posse e controlo deste tipo de equipamen-
tos. As armas nucleares so armas que empregam
princpios de fisso ou fuso para destruir os seus
alvos, tendo alterado profundamente os custos e
benefcios que, considerados racionalmente, os
Estados poderiam esperar ganhar ou manter do uso
da fora. Tornaram-se um aspecto central das pol-
ticas de dissuaso ou preveno atravs de ameaa.
Ligada a esta questo, na dcada de 1980, cientistas
especializados em matria nuclear lanaram a hip-
tese de que as exploses nucleares poderiam ter um
efeito devastador em termos ambientais, criando
fogos to intensos que as cinzas e materiais liberta-
dos provocariam o que denominaram de inverno
nuclear, bloqueando a luz solar com consequncias
fatais para a vida na terra. Da equao destas ques-
tes resulta a incerteza relativa a uma possvel vit-
ria nuclear.
As armas nucleares incluem um conjunto alargado
de equipamentos, dos msseis balsticos interconti-
nentais at s armas nucleares tcticas. a classifi-
cao relativa ao seu alcance que tem servido de base
s negociaes relativas ao controlo de armamento.
As primeiras bombas nucleares, incluindo as duas
lanadas sobre Nagasaki e Hiroshima no Japo em
1945, obtinham a sua energia da diviso do ncleo
atmico. As armas nucleares modernas, aps o desen-
volvimento da bomba de hidrognio, baseiam-se na
fuso do ncleo atmico a elevadas temperaturas. A
reaco em cadeia daqui resultante provoca uma
enorme libertao de energia, causando destruio
macia. Os nveis elevados de radiaes resultam do
urnio e plutnio utilizados.
A proliferao nuclear significa o aumento de tec-
nologia e armas nucleares. No perodo da corrida ao
NOVA PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRICA 127
regras cujo respeito assegurado pelo FMI e pelo
GATT seguem todas nesse sentido. Apesar das cr-
ticas polticas, durante a fase de declnio da ideolo-
gia liberal, at meados dos anos 1970, as grandes
potncias mantiveram a doutrina da poca prece-
dente. Nos sectores onde o neoliberalismo podia
parecer ameaado (o financiamento dos investimen-
tos no estrangeiro, por exemplo), novas vias foram
exploradas fora das instituies existentes: o cresci-
mento do euromercado, espao que se tornou deci-
sivo nas relaes financeiras internacionais, deu ao
liberalismo econmico um vigor que no podia ser
mantido no seio do FMI e do Banco Mundial. A
internacionalizao das actividades econmicas,
pela multiplicao das empresas multinacionais,
forou indirectamente a maior parte dos Estados a
participar na mesma lgica econmica.
O ressurgimento do prestgio da ideologia neoli-
beral, no decurso dos ltimos anos, no fez mais que
consagrar uma situao real, uma nova ordem em
gestao.
A declarao de 1974 indica os novos objectivos
prosseguidos pelas Naes Unidas nos seguintes ter-
mos: dever tratar-se de uma ordem econmica fun-
dada na equidade, na igualdade soberana, na inter-
dependncia, no interesse mtuo e na cooperao
entre todos os Estados, independentemente do seu
sistema econmico e social, que corrigir as desi-
gualdades e rectificar as injustias actuais, permi-
tir eliminar o fosso crescente entre os pases desen-
volvidos e os pases em vias de desenvolvimento, e
assegurar na paz e na justia s geraes presentes
e futuras um desenvolvimento econmico e social
que se ir acelerando.
A partir de 1960, com o acesso vida jurdica inter-
nacional de numerosos Estados descolonizados, o
problema de adaptao do Direito internacional da
economia s relaes entre pases desigualmente
desenvolvidos foi levantado com insistncia. Os
Estados em desenvolvimento concentraram as suas
reivindicaes sobre as regras aplicveis a todas as
relaes econmicas internacionais. esta globali-
zao que leva em conta a ideia de nova ordem eco-
nmica internacional.
Nas suas regras materiais, esta ordem deveria ser
mais equitativa que a organizao econmica actual.
Para este fim, as reivindicaes oscilam entre dois
plos: a reivindicao de uma independncia efectiva
e o apelo a uma interdependncia operante. A pri-
meira provm do princpio tradicional da igualdade
soberana dos Estados, que os pases em desenvolvi-
mento concretizam pondo tnica sobre as suas impli-
caes econmicas. O apelo a uma maior solidarie-
dade traduz-se em regras novas que tm em conta,
para corrigir a desigualdade de facto dos Estados.
A aplicao das Declaraes de 1974 foi apenas par-
cial, ou no atingiu os efeitos pretendidos. As rei-
vindicaes expressas nestes textos permitiram con-
cretizar melhor as regras do Direito do desenvolvi-
mento e trouxeram modificaes sensveis s rela-
es econmicas norte-sul. Mas estas realizaes par-
ciais constituem o prprio reconhecimento do insu-
cesso da ambio principal. So sempre as grandes
quer uma das partes que dirige o pedido ao Secretrio-
-Geral das Naes Unidas, o qual submete o pedido
apreciao de uma comisso de conciliao composta
por dois conciliadores nomeados por cada uma das
partes (podendo apenas um deles ser da nacionalidade
destas), a partir da lista de juristas qualificados pre-
viamente enviada para o efeito ao secretariado geral.
Os quatro conciliadores cooptaro o quinto. A comis-
so de conciliao estabelece o seu processo podendo
convidar as partes a submeterem-lhe os seus pontos
de vista, podendo cham-las ateno para qualquer
medida susceptvel de facilitar a soluo, etc. Decor-
rido um ano a comisso dever apresentar um rela-
trio no vinculativo para as partes, do qual resul-
tem recomendaes com vista a facilitar uma solu-
o negociada do diferendo.
Declarada a nulidade de uma conveno, essa
declarao implica dois efeitos jurdicos especficos:
a retroactividade e a indivisibilidade.
A retroactividade resulta do facto de no se reconhe-
cer fora jurdica s disposies de um tratado decla-
rado nulo, pelo que a declarao de nulidade tem de
retroagir os seus efeitos ao momento em que se pro-
duziu o vcio. Esta regra todavia suavizada j que
se a nulidade foi provocada pela actuao da outra
parte (como o caso do dolo, corrupo e coaco),
essa parte no pode exigir tal efeito. Simultaneamente
os actos praticados de boa-f no so afectados pela
invalidade.
A indivisibilidade significa que a nulidade afecta
em princpio todo o tratado. Tambm neste caso sub-
siste um regime excepcional (para as nulidades rela-
tivas) nos termos do qual tratando-se de dolo ou cor-
rupo, o Estado pode optar entre alegar essa nuli-
dade em relao a todo o tratado ou apenas em rela-
o s clusulas afectadas (regime da divisibilidade
facultativa). Por outro lado, se o vcio afecta apenas
determinadas clusulas, as quais sejam separveis do
tratado no tocante sua resoluo, e bem assim no
se trate de clusulas essenciais nem for injusto con-
tinuar a executar a parte subsistente do tratado, nesta
situao dever-se- solicitar a diviso, expurgando-
-se apenas as clusulas viciadas (regime da divisibi-
lidade obrigatria). A indivisibilidade absoluta no
que toca s nulidades absolutas.
NULIDADE DAS CONVENES INTERNACIONAIS 128
armamento na guerra fria entre as superpotncias,
os Estados Unidos da Amrica e a Unio Sovitica, a
proliferao vertical (aumento do nmero e fora des-
trutiva das armas nucleares nos Estados que j as
possuem) era a maior preocupao. A partir da dcada
de 1980, um acordo de limitao entre as potncias
e o final da guerra fria significaram que a prolifera-
o horizontal, a aquisio de potencial nuclear por
Estados que no o possuam anteriormente, tornou-
-se mais preocupante. Teme-se que estes Estados, se
envolvidos numa guerra convencional, podero ser
tentados a recorrer retaliao nuclear. Alm do
mais, a ligao entre terrorismo e armas nuclea-
res continua a ser um cenrio desastroso plausvel,
da os esforos relativos desnuclearizao eviden-
ciados na negociao de tratados de reduo e eli-
minao deste tipo de armas.
NULIDADE DAS CONVENES
INTERNACIONAIS
So causas de nulidade das convenes, a violao
de regras de ius cogens, a irregularidade formal do
consentimento e as irregularidades substanciais do
consentimento (erro, dolo, corrupo, coaco do
Estado ou do representante).
Deste conjunto distinguem-se normalmente as
nulidades relativas (irregularidade formal do con-
sentimento, erro, dolo e corrupo) das nulidades
absolutas (coaco do Estado ou do representante e
violao de regras de ius cogens). A diferenciao
decorre do facto de apenas as primeiras as nulidades
relativas admitirem a sua confirmao, poderem ser
expurgadas por via do mecanismo da divisibilidade
e serem exclusivamente invocveis pelos Estados cujo
consentimento foi afectado. Inversamente as nuli-
dades absolutas no admitem confirmao ou sana-
o (afectando portanto a totalidade da conveno em
termos irremediveis) e podem ser invocadas por
qualquer interessado.
A questo do procedimento a que os sujeitos de
Direito Internacional esto vinculados para decla-
rarem uma nulidade particularmente sensvel no
mbito internacional. Na verdade, no existindo um
mecanismo judicial com competncia geral que possa
regular as situaes de litgio, receava-se naturalmente
que o carcter unilateral da declarao pudesse con-
duzir a abusos. Da que, dentro das limitaes pr-
prias do meio internacional, se tenha institudo um
procedimento relativamente desenvolvido que suma-
riamente consiste no seguinte: inicia-se por uma
declarao de nulidade, que tem de ser feita a todas
a partes, por escrito, e na qual se dever conceder um
prazo no inferior a trs meses para que estas se pos-
sam pronunciar, tambm por escrito. Decorrido este
prazo, se no houver objeces, poder ser posto
termo ao tratado. Caso contrrio, surgindo alguma
objeco de algum dos outros Estados parte, dever-
-se- procurar uma soluo por meios pacficos.
No surgindo soluo no prazo de um ano a con-
tar da objeco dar-se- incio a um procedimento
de conciliao que pode ser desencadeado por qual-
OLIGARQUIA
Poder de uma pequena minoria sobre uma organi-
zao ou sociedade.
ON-LINE
Significa que est disponvel (em linha) atravs de
um computador, normalmente ligado em rede. Cos-
tuma ser usado para indicar que algum est ligado
Internet ou que determinados servios ou infor-
mao esto disponveis na Internet.
ORDEM INTERNACIONAL
Existem duas perspectivas sobre o conceito de
ordem internacional, a emprica e a normativa.
Na perspectiva emprica ou hierrquica, que tem
por base a teoria realista, a ordem internacional sig-
nifica a distribuio de poder que num determinado
tempo e espao compem a estrutura do sistema
internacional. Neste sentido, existe uma ordem inter-
nacional que reflecte a hierarquia de poder dos dife-
rentes plos de poder do sistema internacional,
nomeadamente, dos Estados mais poderosos que ao
longo da histria se vai modificando. Assim, pode-
mos falar de uma ordem ps-Primeira Guerra Mun-
dial, ou de uma ordem ps-Segunda Guerra Mundial,
ou de uma ordem tendencialmente bipolar como foi
a da guerra fria. Neste sentido, podemos afirmar que
a velha ordem bipolar da guerra fria acabou e que
estamos, presentemente, numa nova ordem inter-
nacional ps-guerra fria.
Na perspectiva normativa, que tem por base as teo-
rias liberais pluralistas, a ordem internacional sig-
nifica a possibilidade de uma melhor e mais organi-
zada ordem internacional. Aqui, a ordem interna-
cional relaciona-se com a justia, com a regulao
internacional atravs do Direito Internacional e, fun-
damentalmente, com a assuno da validade e uni-
versalidade dos valores da democracia e dos direitos
humanos. Neste sentido, actualmente, estaramos em
condies de instaurar uma nova ordem interna-
cional mais justa e mais regulada com base numa
governabilidade democrtica mundial.
OBJECO
Em termos gerais, objectar implica a oposio de um
sujeito (de Direito Internacional) a um pedido ou pre-
tenso.
No plano convencional as objeces mais impor-
tantes so as que surgem em relao a reservas.
Qualquer signatrio de uma conveno tem, em prin-
cpio, direito a objectar a uma reserva, desde logo se
considera que a mesma incompatvel com o objecto
e fim da conveno. Nas convenes multilaterais
restritas, a aceitao da reserva implica o acordo de
todos os Estados signatrios, pelo que a objeco
acaba por obstar vinculao do Estado que for-
mulou a reserva, na medida em que esta surge sem-
pre como uma condio dessa vinculao. Nas con-
venes multilaterais gerais basta a aceitao por um
dos Estados signatrios para que o Estado que a for-
mulou passe a fazer parte da conveno, sendo que
uma eventual objeco de um Estado signatrio per-
mitir ao Estado que a formulou, declarar que a con-
veno no entra em vigor nas relaes entre ambos.
OBJECTIVIDADE
Tal como aqueles que trabalham no campo das cin-
cias da natureza, os investigadores das cincias sociais
procuram ser objectivos na avaliao dos resultados
dos estudos que efectuam. A objectividade signi-
fica ser justo e estar atento s concluses dos outros
ou seja, esforar-se tanto quanto possvel por elimi-
nar preconceitos na pesquisa e interpretao de dados.
Uma dimenso crucial da objectividade a de que as
concluses a que determinado autor chega so pro-
visrias e sujeitas a observaes crticas por parte de
outros membros da comunidade cientfica.
OBJECTIVISMO
Designao reclamada tanto pelo sociologismo
como pelo normativismo e que visa acentuar ou
sublinhar a pretenso destas correntes de que a res-
pectiva fundamentao da obrigatoriedade do cum-
primento das regras jurdicas depende de critrios
claros sem necessidade do recurso a interpretaes
dificilmente controlveis e que, por isso, abrem cami-
nho a abusos ou instrumentalizaes (no que reside
uma crtica ao jusnaturalismo).
O
to em 1992, passando, deste modo, a ser constituda
por 10 Estados-membros. Aps este alargamento,
foram revigoradas as seguintes reas de aco: comr-
cio e direitos aduaneiros, indstria, transportes e
comunicaes. Tem sede em Teero.
ORGANIZAO DA COOPERAO
ECONMICA DO MAR NEGRO
(OCEMN)
Organization of the Black Sea Economic Cooperation
(BSEC)
Criada em Istambul, por iniciativa turca, em Junho
de 1992, rene pases do leste e do ocidente euro-
peu. Visa a cooperao econmica, com um projecto
de criao de uma zona de comrcio livre. Esta orga-
nizao foi institucionalizada em Ialta (Ucrnia) com
a adopo de uma carta, em Junho de 1998.
So Estados-membros: Albnia, Armnia, Azerbai-
jo, Bulgria, Gergia, Grcia, Moldvia, Romnia,
Rssia, Turquia e Ucrnia. Tem sede em Istambul.
ORGANIZAO DE COOPERAO
DE XANGAI (OCX)
Shangai Cooperation Organisation
Tem na sua origem o Grupo de Xangai, estrutura
informal criada em 1996 para regular os problemas
fronteirios e de segurana, e para favorecer as rela-
es econmicas entre os seus membros. Este Grupo
transformou-se, em Junho de 2001, na Organizao
de Cooperao de Xangai. So Estados-membros a
China, Cazaquisto, Quirguisto, Usbequisto, Rssia
e Tajiquisto.
ORGANIZAO DOS ESTADOS
AMERICANOS (OEA)
Organisation of American States (OAS)
A OEA foi criada em Abril de 1948, na Conferncia
de Bogot, e entrou em vigor em Dezembro de 1951.
Conta com 35 Estados-membros e 30 observadores
permanentes. Qualquer Estado do continente ame-
ricano e membro das Naes Unidas pode fazer parte
desta organizao.
Ao nvel constitucional, a OEA baseia-se no Tra-
tado Interamericano de Assistncia Mtua, de
Setembro de 1947, fundamento do sistema ameri-
cano de segurana colectiva, alterado em 1975 pelo
protocolo de San Jos da Costa Rica e na Carta da
OEA de Maio de 1948, que institui uma organizao
nova, definida como uma organizao regional das
Naes Unidas e que foi objecto de alteraes em
1967 (Protocolo de Buenos Aires, em vigor desde
1970), em 1985 (Protocolo de Cartagena das ndias,
em vigor desde 1988) e em 1992 (Protocolo de
Washington, que entrou em vigor aps ratificao
de dois teros dos Estados-membros). O Tratado
ORDEM MUNDIAL DE INFORMAO 130
ORDEM MUNDIAL DE INFORMAO
Sistema global de comunicaes que opera via rede
de satlites, rdio, televiso, telefone e redes de com-
putadores.
ORGANIZAO DA CONFERNCIA
ISLMICA (OCI)
Organization of the Islamic Conference
Criada em 1969, em Rabat, a OCI tem como objec-
tivo principal reforar a solidariedade islmica entre
os Estados-membros, promover a cooperao nos
domnios econmico, social, cultural e cientfico, assim
como apoiar a luta dos povos muulmanos pela inde-
pendncia e direitos nacionais. Em 1974, a Conferncia
criou o Banco Islmico de Desenvolvimento, desti-
nado a promover um sistema de financiamento prprio.
Tem 57 Estados-membros de frica, Mdio-Oriente,
sia e Europa. A sua sede situa-se em Jiddah (Arbia
Saudita).
ORGANIZAO DE COOPERAO
E DESENVOLVIMENTO ECONMICO
(OCDE)
Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD)
Foi criada pela Conveno de Paris em 15 de Dezem-
bro de 1961 e agrupa os 18 Estados-membros da
Organizao Europeia de Cooperao Econmica,
mais os EUA e o Canad. A OCDE tem como finali-
dade promover polticas visando realizar a mais
ampla expanso possvel da economia e do emprego
e a melhoria do nvel de vida dos pases membros,
sem prejuzo da estabilidade financeira e contribuir
assim para o desenvolvimento da economia mundial;
contribuir para uma expanso econmica s, tanto
nos pases membros como no membros em vias de
desenvolvimento econmico; e contribuir para a
expanso do comrcio mundial numa base multila-
teral e no discriminatria, na conformidade das
obrigaes internacionais.
ORGANIZAO DE COOPERAO
ECONMICA (OCE)
Economic Cooperation Organisation (ECO)
Foi criada em 1985 pela Turquia, Iro e Paquisto.
Tem por objectivo promover a cooperao econmica,
tcnica e cultural. Tendo na sua origem a Organi-
zao de Cooperao Regional para o Desenvolvi-
mento, criada em 1964 por trs pases, ficou parali-
sada com a instaurao de uma Repblica Islmica
no Iro em 1979. Aps a desagregao da Unio Sovi-
tica em 1991, a organizao abriu-se a seis repblicas
ex-soviticas: Azerbaijo, Quirguisto, o Cazaquisto,
Turquemenisto, Tajiquisto e Usbequisto. A estas
seis repblicas da sia Central juntou-se o Afeganis-
ORGANIZAO INTERNACIONAL
GOVERNAMENTAL
Sujeito de Direito Internacional criado por uma con-
veno. Essa conveno pode, no entanto, no lhe
atribuir a personalidade internacional, caso em que
o funcionamento da organizao internacional juri-
dicamente se reporta aos seus Estados-membros.
Estrutura institucional formal que transcende as
fronteiras nacionais, criada por acordo multilateral
entre Estados. Traduz vontade poltica de coopera-
o e dotada de organismos permanentes encar-
regados da concretizao dos objectivos da organi-
zao. estabelecida por tratado, embora seja pos-
svel a expanso das suas competncias para fazer face
a novas situaes. Deste modo, embora os Estados
retenham a autoridade em ltima instncia, as orga-
nizaes internacionais constituem um meio para
actividades de cooperao e oferecem mltiplos canais
de comunicao, que em diferentes nveis ultrapas-
sam as estruturas diplomticas tradicionais. Podem
ser universais ou regionais, de acordo com os Estados
que delas fazem parte; podem ser gerais ou especia-
lizadas, de acordo com o tipo de competncias defi-
nidas; e podem ser de cooperao ou de integrao,
de acordo com as suas modalidades de funciona-
mento e a natureza dos seus poderes.
ORGANIZAO INTERNACIONAL
DO TRABALHO (OIT)
International Labor Organization
Em 1919, na Conferncia de Paz reunida em Paris
para concluir o Tratado de Versalhes, foi decidido ela-
borar a Constituio de uma nova organizao inter-
governamental, a Organizao Internacional do
Trabalho que foi adoptada no mbito daquele tratado
de que passou a constituir a Parte XIII. Em 1942, foi
elaborada a reviso da sua Constituio pela
Declarao de Filadlfia, e em 1946, por fora de
um Acordo concludo com a Organizao das Naes
Unidas, a OIT assumiu o estatuto de instituio espe-
cializada da ONU. No prembulo da Constituio da
OIT referiu-se que se considerava urgente melhorar
as condies do trabalho tendo em vista alcanar a
paz e a harmonia universais. A Declarao de
Filadlfia reafirma os princpios enformadores da
organizao, repensados em funo da evoluo da
sociedade internacional em geral e do mundo labo-
ral em particular. Tais princpios, em funo dos quais
devem ser avaliados os programas de aco e as medi-
das a adoptar, quer no quadro nacional, quer na
ordem internacional tanto no plano social como
nos domnios econmico e financeiro so os seguin-
tes: o trabalho no uma mercadoria; a liberdade de
expresso e de associao, nomeadamente a liberdade
sindical, condio irrecusvel do progresso; a
pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo
para a prosperidade geral, por isso, a luta contra ela
deve ser conduzida com toda a energia no quadro
nacional e mediante um esforo internacional con-
certado e contnuo, com vista promoo do bem
ORGANIZAO INTERNACIONAL GOVERNAMENTAL 131
Americano de Regulao Pacfica dos Diferendos
(Pacto de Bogot) no entrou em vigor devido ao
nmero insuficiente de ratificaes.
Os princpios nos quais se apoia a aco da OEA
so: o respeito pela igualdade, soberania, indepen-
dncia dos Estados e do Direito Internacional; o exer-
ccio efectivo da democracia representativa; a con-
denao da guerra de agresso (a agresso contra um
Estado do continente americano constitui uma agres-
so contra todos os outros); a regulao pacfica dos
conflitos; o respeito pelos direitos fundamentais da
pessoa humana; a unidade espiritual do continente
baseada no respeito pela diversidade cultural e, depois
da reforma introduzida em 1985, o princpio pelo res-
peito da pluralidade das ideologias e da livre deter-
minao poltica.
Tem como objectivos garantir a paz e a segurana
no continente; prevenir as possveis causas de con-
flito e assegurar a soluo pacfica dos diferendos que
surjam entre os Estados-membros; organizar a aco
solidria em caso de agresso; procurar a soluo dos
problemas polticos, jurdicos e econmicos, sur-
gidos entre os seus membros; promover, atravs da
cooperao, o desenvolvimento econmico, social e
cultural do continente americano.
A OEA tem uma estrutura complexa. constituda
pela assembleia-geral, rgo supremo e plenrio que
se rene anualmente e que decide a poltica geral da
OEA, a reunio de consulta dos ministros dos neg-
cios estrangeiros, convocada a pedido do conselho
permanente quando se produz num Estado-membro
factos que comprometem o exerccio legal da demo-
cracia; trs conselhos (o conselho permanente, o con-
selho econmico e social interamericano e o conse-
lho interamericano para a educao, cincia e cul-
tura) que dependem directamente da assembleia
geral e contam com um representante de cada Estado-
-membro nomeado pelo seu governo; o comit jur-
dico interamericano (Rio de Janeiro), rgo consul-
tivo encarregado de examinar as questes relativas
ao Direito Internacional interamericano pblico e
privado; a comisso interamericana dos direitos do
homem criada em 1959, que com a adopo da con-
veno interamericana dos direitos do homem (pacto
de So Jos) se tornou num dos rgos principais da
OEA; o tribunal interamericano dos direitos do homem,
igualmente criado pelo pacto de So Jos, instituio
judiciria autnoma da OEA, composta por sete ju-
zes; e o secretariado-geral, rgo executivo da OEA,
responsvel pelo bom funcionamento da organizao.
A OEA conheceu uma certa renovao poltica a
partir de 1990-1991. Os acontecimentos no leste
europeu e as novas orientaes da administrao
americana permitiram-lhe ter um papel mais activo
na regulao das crises polticas continentais.
Actualmente, a OEA deve fazer face a dois desafios:
o regresso de Cuba como membro de pleno direito
e a reforma administrativa da organizao, consi-
derada burocrtica e ineficaz. no quadro de uma
cooperao interamericana renovada que dever
situar-se a aco futura da OEA, orientada para a luta
pela democracia e contra o trfico da droga, a pro-
teco do ambiente e a defesa dos direitos do homem.
de litgios (MERL); e a gesto do mecanismo de exame
das polticas comerciais (MEPC).
O Uruguay Round permitiu implantar um sistema
comercial internacional baseado numa maior libe-
ralizao do comrcio de produtos manufacturados,
atravs da reduo e consolidao de direitos adua-
neiros; numa maior abrangncia da disciplina mul-
tilateral na rea do comrcio de produtos agrcolas;
em novas regras de resoluo de diferendos; na sis-
tematizao do comrcio internacional de servios;
e na maior acessibilidade de mercado por parte dos
pases em vias de desenvolvimento e sobretudo dos
pases mais pobres.
ORGANIZAO MUNDIAL DE SADE
(OMS)
World Health Organization
Criada em 22 de Junho de 1946, entrou em vigor a
7 de Abril de 1948, quando 26 Estados-membros das
Naes Unidas ratificaram a sua constituio. Com
sede em Genebra, uma das instituies especiali-
zadas da ONU.
Visa a aquisio, por todos os povos, de um bom
nvel de sade. A estratgia da OMS envolve oito
elementos essenciais: educao no que respeita a
questes relacionadas com a sade; dieta alimentar
e nutrio; gua para consumo e saneamento; sade
materna e infantil, incluindo planeamento familiar;
imunizao contra doenas infecciosas; preveno e
controlo de doenas locais; tratamento apropriado
de doenas comuns e ferimentos; provimento de
medicamentos essenciais.
A OMS tambm promove a investigao para desen-
volver tecnologias relacionadas com todos os aspec-
tos da sade, incluindo nutrio, cuidados maternos
e infantis, ambiente seguro, sade mental, controlo
de doenas especficas, preveno de acidentes, cui-
dados mdicos e reabilitao.
Tem como rgos a assembleia mundial da sade,
um conselho executivo e um secretariado, e rene
191 Estados.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS
(ONU)
United Nations Organization
Estabelecida como sucednea Sociedade das
Naes pela Carta de So Francisco de 26 de Junho
de 1945, como uma associao voluntria de Estados
soberanos, formalmente, emergiu em Outubro desse
ano. Criada com o fim de preservar as geraes futu-
ras do flagelo da guerra, representa uma tentativa
para assegurar a paz mundial e estabelecer as fun-
daes econmicas, sociais e polticas atravs das
quais esse objectivo possa ser concretizado. com-
posta por seis organismos principais: o Conselho de
Segurana, a Assembleia Geral, o Secretariado, o
Tribunal Internacional de Justia, o Conselho Econ-
mico e Social e o Conselho de Tutela. excepo do
ORGANIZAO MUNDIAL DO COMRCIO (OMC) 132
comum; todos os seres humanos, qualquer que seja
a sua raa, o seu credo ou o seu sexo, tm o direito de
buscar o progresso material e o desenvolvimento espi-
ritual em liberdade, dignidade, segurana econmica
e beneficiando de iguais oportunidades; a finalidade
central de qualquer poltica nacional ou internacio-
nal deve ser orientada para a realizao de condies
que permitam alcanar os objectivos da organizao.
A OIT exerce um papel operacional de grande rele-
vncia prtica que se traduz numa estreita coopera-
o com os Estados-membros, aos quais presta ade-
quada assistncia tcnica em particular no tocante
correcta aplicao das regulamentaes interna-
cionais em matria de trabalho. Cabe-lhe, por outro
lado, exercer a competncia normativa relativamente
adopo das regras a observar no domnio laboral,
o que implica a considerao de difceis, complexas
e relevantes questes de ndole econmica e de carc-
ter social. Cumpre-lhe, finalmente, proceder ao con-
trolo da aplicao das normas adoptadas no seu seio.
ORGANIZAO MUNDIAL
DO COMRCIO (OMC)
World Trade Organisation (WTO)
Criada em Abril de 1994, aquando da assinatura da
acta final das negociaes comerciais multilaterais
conhecidas por Uruguay Round, e em vigor desde
Janeiro de 1995. Portugal Estado-membro desde
Abril de 1994. Tem sede em Genebra.
O acordo instituidor da Organizao Mundial de
Comrcio (OMC) lana as bases do novo sistema
comercial internacional, englobando o Acordo
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comrcio (GATT),
os resultados das sucessivas conferncias, e todo o
acervo obtido nas negociaes comerciais multilate-
rais do Uruguay Round, representado por 28 acor-
dos.
Ao nvel da estrutura, a OMC composta pela con-
ferncia ministerial (autoridade suprema), o conse-
lho geral, o conselho do comrcio de mercadorias,
o conselho do comrcio de servios, o conselho dos
aspectos dos direitos de propriedade intelectual rela-
cionados com o comrcio, o comit do comrcio e
desenvolvimento, o comit das restries relacio-
nadas com a balana de pagamentos e o comit do
oramento, finanas e administrao. Tem tambm
um secretariado dirigido por um director-geral, que
nomeado pela conferncia ministerial.
De acordo com o Artigo 3., a OMC tem como fun-
es: facilitar a aplicao, gesto e funcionamento
dos acordos comerciais multilaterais e promover a
realizao dos seus objectivos, fornecendo igual-
mente o enquadramento para a aplicao, gesto e
funcionamento dos acordos comerciais plurilaterais.
A OMC constitui um frum para as negociaes
entre os seus membros, no que respeita s suas rela-
es comerciais multilaterais, em questes abran-
gidas pelos acordos. A OMC assegura a gesto do
memorando de entendimento sobre as regras e pro-
cessos que regem a resoluo de litgios, designado
por memorando de entendimento sobre resoluo
tivo elaborar e difundir as normas de informao
agrcola mundiais, mobilizar os sistemas de inves-
tigao e de assistncia tcnica, servir de alerta e de
informao sobre a segurana alimentar, e por fim,
organizar o desenvolvimento mundial dos recursos
agrcolas, de modo a elevar o nvel de nutrio e as
condies de vida das populaes rurais com o objec-
tivo ltimo de erradicar duravelmente a fome.
Tem 184 membros (183 Estados e a Unio Europeia).
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS
PARA A EDUCAO, CINCIA E
CULTURA (UNESCO)
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
Criada em Novembro de 1945, por 44 Estados-mem-
bros na Conferncia de Londres, tem sede em Paris.
Apesar de fazer parte do Sistema das Naes Uni-
das, tem autonomia jurdica e funcional. Embora se
trate de uma instituio especializada, a UNESCO
tem um largo campo de actividade. Intervm em
vrios domnios, de forma incisiva ou difusa, procu-
rando exprimir no seu seio preocupaes comuns aos
Estados e aos povos.
A UNESCO tem como objectivos contribuir para
a manuteno da paz e da segurana, estreitando a
colaborao entre as naes atravs da educao, da
cincia e da cultura, a fim de assegurar o respeito uni-
versal pela justia, pela lei, pelos direitos do homem
e pelas liberdades fundamentais, sem distino de
raa, lngua ou religio, que a Carta das Naes Unidas
reconhece a todos os povos; favorecer o conhecimento
e a compreenso mtua entre as naes, mediante
o seu apoio aos rgos de informao; promover a
educao popular e a difuso da cultura; e ajudar ao
progresso e difuso do saber, entre outros.
Esta definio ampla e flexvel dos seus objectivos
tem levado ao alargamento constante das suas aces.
O nico problema que se lhe coloca a limitao dos
meios financeiros que os Estados-membros dispo-
nibilizam para a organizao.
A UNESCO constituda por um rgo plenrio,
composto por todos os Estados e um rgo restrito,
composto por delegados governamentais. O rgo
executivo o secretariado da UNESCO, chefiado por
um director-geral.
ORGANIZAO NO
GOVERNAMENTAL (ONG)
Organizaes internacionais privadas compostas
por associaes ou movimentos nacionais sem fins
lucrativos. De carcter transnacional, sem persona-
lidade jurdica internacional, as suas reas de aco
so bastante diversificadas, incluindo aspectos eco-
lgicos (Greenpeace), humanitrios (Comit Inter-
nacional da Cruz Vermelha), desportivos (Comit
Olmpico Internacional), e educativos entre outros.
O aumento significativo destas organizaes resulta
de vrios factores, destacando-se a globalizao, a
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS PARA A ALIMENTAO E A AGRICULTURA 133
Tribunal Internacional de Justia, sediado em Haia,
Holanda, todos os outros organismos tm sede em
Nova Iorque. O Conselho de Segurana o rgo
decisrio encarnado pelas principais potncias.
Composto por cinco Estados permanentes (China,
Estados Unidos da Amrica, Frana, Reino Unido e
Rssia) e dez membros no-permanentes (eleitos pela
Assembleia Geral por dois anos), tem por responsa-
bilidade principal a manuteno da paz e da segu-
rana internacionais. Os cinco membros perma-
nentes gozam de direito de veto, significando que
nenhuma resoluo pode ser aprovada sem o seu aval.
A Assembleia Geral o rgo de deliberao da orga-
nizao, ou seja, o local onde os Estados discutem
as matrias polticas, econmicas e sociais e adop-
tam resolues. composta por todos os Estados-
-membros e rene-se em sesso anual entre Setembro
e Dezembro, e por vezes, em sesso extraordinria.
As resolues adoptadas na Assembleia Geral, dife-
rentemente das adoptadas no seio do Conselho de
Segurana, no so vinculativas. O Secretariado o
rgo executivo da organizao. dirigido pelo mais
alto funcionrio da organizao, eleito por um
perodo de cinco anos. O Secretrio Geral o repre-
sentante da organizao junto dos Estados, tendo
competncias abrangentes que incluem uma funo
conciliadora, de acordo com as orientaes do
Conselho de Segurana. O Tribunal Internacional de
Justia o rgo judicirio da ONU, composto por
quinze magistrados independentes eleitos por um
perodo de nove anos. competente para tratar qual-
quer questo de ordem jurdica submetida pelos
Estados, e pode fornecer pareceres aos principais
organismos e agncias especializadas da ONU. A orga-
nizao beneficia ainda de uma srie de agn-
cias especializadas cuja tarefa consiste em desen-
volver e pr em prtica os programas e decises
adoptados pelos organismos principais, como por
exemplo o Conselho Econmico e Social ou o Pro-
grama para o Desenvolvimento. Paralelamente, os
Estados criaram organizaes internacionais espe-
cializadas, denominadas instituies especializadas,
ligadas ONU por acordos especiais, como a Organi-
zao para a Educao, Cincia e Cultura (UNESCO).
O conjunto dos organismos principais, organismos
subsidirios e instituies especializadas forma o que
denominamos de sistema das Naes Unidas.
ORGANIZAO DAS NAES
UNIDAS PARA A ALIMENTAO E A
AGRICULTURA (FAO)
Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO)
uma instituio especializada das Naes Unidas.
Foi instituda em 16 de Outubro de 1945, no Quebe-
que, por 44 pases, aquando de uma conferncia rea-
lizada sob a gide das Naes Unidas. A FAO absor-
veu o Instituto Internacional da Agricultura, que
existia desde 1905 e o Conselho Internacional de
Socorro Alimentar, criado em 1946. Tem por objec-
coordenao das vrias actividades das companhias
petrolferas nacionais dos pases membros.
ORGANIZAO PARA A SEGURANA
E COOPERAO NA EUROPA (OSCE)
O fim da guerra fria foi oficializado na Cimeira de
Paris da Conferncia de Segurana e Cooperao na
Europa (CSCE), em 1990. Paris foi palco da primeira
Cimeira da CSCE desde Helsnquia (1975) e tornou-
-se, de acordo com a Carta de Paris para uma Nova
Europa, o documento resultante dos trabalhos, o
smbolo do incio de uma nova era construda sobre
princpios democrticos. Apesar de todas as indefi-
nies, Paris traou um novo curso para a CSCE atra-
vs da formulao de novos princpios e da criao
de instituies permanentes. A CSCE integrou todas
as repblicas da ex-Unio Sovitica, bem como os
Estados da Europa central e de leste at ento sob
domnio sovitico, e os novos Estados da ex-Jugos-
lvia, alargando-se a cinquenta e cinco membros. A
CSCE tornou-se Organizao para a Segurana e
Cooperao na Europa aps a Cimeira de Budapeste
de Novembro de 1994, com efeito a partir de 1 de
Janeiro de 1995. Na altura foi afirmado que a mudana
de nome no alterava o carcter dos compromissos
ou o estatuto da CSCE e das suas instituies. Deste
modo, no seu desenvolvimento organizacional, a OSCE
permaneceu flexvel e dinmica. Dotada de organis-
mos de deciso e de estruturas operacionais perma-
nentes, institucionalizando a prtica regular de reu-
nies e assumindo as novas tarefas de diplomacia pre-
ventiva, gesto de conflitos e reabilitao ps-con-
flito, a OSCE consolidou a sua presena na estrutura
institucional de segurana europeia.
As Cimeiras da OSCE renem os chefes de Estado
e de governo, fornecendo as linhas mestras para o
funcionamento da organizao. As Cimeiras so pre-
cedidas de reunies de preparao em Viena que se
concentram na reviso dos compromissos adoptados
anteriormente. Aps Paris, realizaram-se as Cimeiras
de Helsnquia (Julho 1992); Budapeste (Dezem-
bro 1994); Lisboa (Dezembro 1996); e Istambul
(Novembro 1999). Mais frequentemente, os Estados-
-membros renem-se ao nvel de representantes per-
manentes para discutir as polticas gerais da orga-
nizao. Os ministros dos Negcios Estrangeiros
renem-se anualmente no Conselho Ministerial, o
organismo decisrio central da OSCE. Para assistir
o Conselho na preparao das reunies e fazer seguir
as suas decises, o Conselho Permanente foi esta-
belecido e responsabilizado pela poltica e linhas mes-
tras do oramento da OSCE, alargando as possibili-
dades de dilogo e deciso da organizao, uma vez
que se rene semanalmente, em Viena. formado
pelos representantes permanentes dos Estados-mem-
bros e pode ser convocado por razes de emergn-
cia. O presidente em exerccio responsvel pela
coordenao das actividades da OSCE, e pela comu-
nicao e aconselhamento das instituies da orga-
nizao quanto s decises a nvel ministerial.
assistido pela Troika (formada pelo presidente em
ORGANIZAO DOS PASES EXPORTADORES DE PETRLEO (OPEP) 134
afirmao do papel do indivduo nas Relaes Inter-
nacionais, e a importncia crescente dos meios de
comunicao na vida internacional.
ORGANIZAO DOS PASES
EXPORTADORES DE PETRLEO (OPEP)
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
As origens do cartel da OPEP remontam organi-
zao do mercado do petrleo antes da descoloniza-
o, mas foi em Setembro de 1961 que, face redu-
o do preo do petrleo provocada pelas companhias
petrolferas, um grupo de pases exportadores de
tal produto, nomeadamente a Arbia Saudita, Iro,
Iraque, Kuwait e Venezuela se reuniram em Bagdad,
criando a Organizao dos Pases Exportadores de
Petrleo com vista a coordenar as suas polticas
petrolferas e a defender os seus interesses econ-
micos. Nesse mesmo ano, o Qatar aderiu organi-
zao e em 1962, seguiram-se a Lbia e a Nigria.
Nesse ano, o tratado da formao da OPEP foi ofi-
cializado junto das Naes Unidas. Aderiram poste-
riormente os Emirados rabes Unidos, a Arglia, o
Gabo, o Equador e a Indonsia, num total de 13
membros ao presente, os quais, em 1973, controla-
vam 90% das exportaes mundiais de petrleo.
Os rgos da OPEP so: a Conferncia, autoridade
suprema da organizao, composta por represen-
tantes dos pases membros, que rene duas vezes por
ano; o Conselho de Administrao, que gere a orga-
nizao e executa as resolues da Conferncia, com
um administrador por cada Estado-membro nomeado
por dois anos, e reunindo, pelo menos, duas vezes
por ano; o Secretariado, chefiado por um secretrio-
-geral, composto por vrios departamentos; e a
Comisso Econmica, um rgo especializado per-
manente, no mbito do Secretariado, que visa dar
assistncia organizao na promoo da estabili-
dade dos preos internacionais.
Em 1968, foi criada a Organizao dos Pases rabes
Exportadores de Petrleo (OPAEP), com carcter
regional, tendo em vista a concertao de interesses
comuns e alargar o poder de negociao dos seus
Estados-membros. A OPEP, em 1976, criou um fundo
para o desenvolvimento internacional destinado ao
Terceiro Mundo.
Desde 1961 que a OPEP tem vindo a desenvolver
um papel fundamental na coordenao e uniformi-
zao das polticas petrolferas dos pases membros
e a redefinio dos meios destinados a salvaguardar
os seus interesses; na regularizao da produo, para
evitar excessos; na estabilizao dos preos interna-
cionais; no ajustamento da produo, por forma a
assegurar um rendimento estvel aos pases produ-
tores e um abastecimento regular dos consumido-
res; na elaborao de planos de uniformizao da
legislao relativa ao petrleo, nos vrios pases
membros; na formao do pessoal tcnico, ligado
indstria e economia do petrleo em geral; no acon-
selhamento quanto ao uso a dar aos rendimentos do
petrleo em programas de desenvolvimento; e na
A esta organizao aderiram posteriormente a
Grcia e a Turquia em Fevereiro de 1952, a Repblica
Federal Alem (RFA) em Outubro de 1954, e a Espanha,
em Maio de 1982, aps a ratificao do protocolo de
adeso de Dezembro de 1981. A Hungria, Polnia e
Repblica Checa tornaram-se membros efectivos em
Maro de 1999.
Em Maro de 2004, sete novos Estados aderiram
OTAN: a Bulgria, Eslovquia, Eslovnia, Estnia,
Letnia, Litunia e Romnia.
Os objectivos da OTAN esto expressos no prem-
bulo e no artigo 2. do Tratado e traduzem-se fun-
damentalmente na preservao da paz e da segu-
rana; na promoo da estabilidade e do bem-estar
na rea do Atlntico Norte; na salvaguarda da liber-
dade e dos valores culturais da civilizao ocidental;
na implementao de Relaes Internacionais pac-
ficas e amigveis; na eliminao de quaisquer anta-
gonismos de poltica econmica externa e no incre-
mento da cooperao econmica entre os membros
da Aliana Atlntica.
OSTPOLITIK
De acordo com Jacques Hutzinger, significa poltica
virada a leste, isto , a poltica externa que foi ligada
viso poltica de Willy Brandt, chanceler de Rep-
blica Federal Alem (Alemanha Ocidental) entre 1969
e 1974.
A Ostpolitik baseou-se numa anlise concreta da
situao. A Alemanha Federal tinha interesse em
normalizar as suas relaes com o leste, por razes
de segurana, mas tambm de natureza poltica e eco-
nmica. A ameaa de guerra, a existir, colocava a
Alemanha na primeira linha do campo de batalha,
pelo que o interesse primordial dos alemes era o de
evitar o eclodir de um conflito na Europa. Para isso,
tornava-se necessrio normalizar as relaes com o
bloco de leste, nomeadamente com a Unio Sovitica.
Finalmente, e sobretudo, a Ostpolitik vai permitir
Alemanha Federal normalizar as suas relaes com
a Alemanha de leste, porque s esta normalizao
permitiria uma interpenetrao entre as duas Ale-
manhas. Trs tratados vo nascer da Ostpolitik: o tra-
tado germano-sovitico, assinado em Moscovo (Agosto
de 1970), o tratado germano-polaco, concludo em
Varsvia (Dezembro de 1970), e o tratado entre as
duas Alemanhas, assinado em Dezembro de 1972.
Este ltimo constitui a pedra angular da Ostpolitik.
Neste tratado, as duas Alemanhas reconhecem-se
sem se reconhecer e constatam a existncia de
entidades territoriais, mas no aceitam formalmente
a existncia de dois Estados. So estabelecidas rela-
es diplomticas mediante a troca de representan-
tes permanentes e, em 1973, as duas Alemanhas
entram simultaneamente na Organizao das Naes
Unidas.
ORGANIZAO DO TRATADO DO ATLNTICO NORTE (OTAN) 135
exerccio anterior, o actual e o seu sucessor) e pode
solicitar assistncia de grupos ad hoc ou nomear
representantes pessoais, particularmente nas reas
de preveno e gesto de conflitos. O secretrio-geral
actua como representante do presidente em exerc-
cio e responde perante este ltimo e o Conselho
Ministerial quanto ao desempenho do pessoal da
OSCE. Prepara reunies e monitoriza a implemen-
tao de decises. Tambm assiste o presidente em
exerccio na divulgao internacional das polticas
da organizao, na manuteno de contactos com
organizaes internacionais, e no aconselhamento
financeiro. Alm do mais, o secretrio-geral res-
ponsvel pela superviso das actividades dos Secre-
tariados (Viena e Praga) e do Centro para as Institui-
es Democrticas e Direitos Humanos.
ORGANIZAO DO TRATADO
DA SIA DO SUDESTE
Southeast Asia Treaty Organization (SEATO)
Aliana de segurana colectiva criada pelo Tratado
de Manila, de 8 de Setembro de 1954, constituda pela
Austrlia, EUA, Filipinas, Frana, Nova Zelndia,
Paquisto, Reino Unido e Tailndia.
Estabelecida em Banguecoque, Tailndia, e tendo
como objectivo travar a expanso comunista na regio,
a SEATO, ao contrrio da OTAN, nunca contou com
foras prprias, sendo fundamentalmente um rgo
consultivo. Foi invocando este acordo que os EUA
procuraram justificar o emprego das suas foras arma-
das no Vietname do Sul. A SEATO foi extinta em 1977.
ORGANIZAO DO TRATADO
DO ATLNTICO NORTE (OTAN)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organizao militar de defesa, que se insere no con-
texto das organizaes internacionais de cooperao.
Criada em 4 de Abril de 1949 pela Blgica, Canad,
Dinamarca, EUA, Frana, Holanda, Islndia, Itlia,
Luxemburgo, Noruega, Portugal e Reino Unido, a
OTAN entrou em vigor em Agosto desse ano. Foi con-
cebida como uma aliana entre Estados livres que se
associaram para preservar a sua segurana atravs
de garantias mtuas e de legtima defesa colectiva,
de acordo com as disposies da Carta das Naes
Unidas. A criao da OTAN resultou da necessidade
de preservar o direito existncia de uma tradicio-
nal escala de valores e de impedir que ela fosse des-
truda por concepes valorativas opostas ou muito
diferentes registe-se que surge num contexto hist-
rico onde a diviso ideolgica entre o bloco ociden-
tal, de cariz liberal e o bloco sovitico, de orienta-
o comunista, j patente. Por isso, no prembulo
do tratado se diz que os Estados-membros esto
decididos a salvaguardar a liberdade, herana comum
e civilizao dos seus povos, fundados nos princpios
da democracia, das liberdade individuais e do respeito
pelo direito.
promisso dos Estados-membros, da Comisso e do
Conselho de pr em prtica o Pacto de Estabilidade
e Crescimento. Os Estados-membros comprometem-
-se tambm com o objectivo a mdio prazo de con-
seguir oramentos equilibrados, ou mesmo exce-
dentrios. O regulamento 1466/97 do Conselho, rela-
tivo ao reforo do controlo da situao oramental
e do controlo e coordenao das polticas econmi-
cas, implica que os Estados-membros participantes
transmitiro Comisso os respectivos planos de
estabilizao, com objectivos oramentais nacionais
a mdio prazo e outras informaes pertinentes. O
aspecto essencial desses planos ser a consagrao
do objectivo nacional de conseguir a mdio prazo um
oramento equilibrado ou excedentrio. Isto permi-
tir que os pases participantes tenham polticas fis-
cais anticclicas, no podendo o dfice ultrapassar o
limite de 3% do PIB. O regulamento 1467/97 do Con-
selho, refere-se acelerao e clarificao da apli-
cao do procedimento, no caso de dfices excessi-
vos. Segundo este regulamento, se o dfice for con-
siderado excessivo, no havendo circunstncias
excepcionais que o justifiquem, o Conselho endere-
ar imediatamente uma recomendao ao Estado-
-membro em causa, que dispor ento de quatro
meses para adoptar as medidas necessrias para a cor-
reco da situao.
PACTO DE ESTABILIDADE PARA
A EUROPA DO SUDESTE
Stability Pact for South Eastern Europe
Criado em Julho de 2000 com o objectivo de recons-
truo dos Balcs, o pacto coordenado pela Unio
Europeia e reagrupa os pases da Unio Europeia, os
Pases do G8 e os pases da regio, assim como mais
de 20 organizaes internacionais. No total, tem 35
Estados-membros.
PACTO DE NO-AGRESSO
Como o nome indica, um acordo entre dois ou mais
Estados para no se envolverem em hostilidades,
geralmente por um perodo especfico. Os actores em
questo geralmente partilham uma fronteira ou esto
em disputa quanto a assuntos que possam envolver
PACIFISMO
Teoria ou princpio que recusa todo o constrangi-
mento pela violncia e defende que a guerra imo-
ral e errada. O sculo XX conheceu as mais diversas
formas de pacifismo: a paz pelo direito, a paz do socia-
lismo internacional, objeco de conscincia, dou-
trina da no-violncia, desobedincia civil, combate
contra as armas nucleares, movimentos anticolo-
nialistas, coexistncia pacfica, movimento dos ver-
des, etc.
PACTA SUNT SERVANDA
Designao latina do princpio da obrigao do cum-
primento pontual das obrigaes decorrentes de acor-
dos livremente firmados.
A importncia do princpio no plano jurdico-inter-
nacional tal que autores de primeiro plano como
Kelsen afirmaram constituir este a Grundnorm, ou
seja, a primeira norma que fundamenta as restantes
(embora a fundamentao desta ocorra sucessivamente).
PACTO
Designao utilizada normalmente para convenes
nas quais se pretende sublinhar o carcter contra-
tual do regime institudo. tambm utilizada a par
de outros termos como Carta ou Constituio
para designar convenes que criam organizaes
internacionais (por exemplo, o Pacto das Naes, que
criou a Sociedade das Naes).
PACTO DE ESTABILIDADE
E CRESCIMENTO (PEC)
Stability and Growth Pact
Acordo que surgiu no contexto da terceira fase da
Unio Econmica e Monetria, com incio em Janeiro
de 1999, tendo por objectivo garantir o prossegui-
mento do esforo de disciplina oramental dos Esta-
dos membros aps o lanamento da moeda nica.
constitudo por trs elementos juridicamente
vinculativos, uma resoluo e dois regulamentos.
A resoluo do Conselho Europeu, adoptada em
Amesterdo a 17 de Junho de 1997, consagra o com-
P
soluo do Pacto em Julho de 1991, embora tenha
efectivamente perdido a sua operacionalidade aquando
das revolues na Europa de leste em 1989.
PASES DE FRICA, CARABAS
E PACFICO (ACP)
Countries of Africa, the Caribes and the Pacific (ACP)
Designao que se refere aos 46 pases da frica sub-
sariana, das Carabas e do Pacfico (pases ACP) que,
em 1975, assinaram a Conveno de Lom com a
Comunidade Econmica Europeia.
O Tratado de Roma de 1957, que institui a Comu-
nidade Econmica Europeia (CEE), constituiu ini-
cialmente a base jurdica da cooperao com este
grupo de pases que, nessa poca, eram, na sua grande
maioria, colnias de certos Estados-membros, mas
foram as Convenes de Yaound I e II entre os Esta-
dos Africanos e Malgache Associados (EAMA) e a CEE,
assinadas respectivamente em 1963 e 1969, que pro-
porcionaram a criao da parceria.
Em 1975, as relaes entre os pases ACP e a UE
passaram a regular-se pela Conveno de Lom, que
estabeleceu uma parceria estreita, profunda e com-
plexa. A cooperao centra-se em volta de dois plos
principais, a cooperao econmica e comercial e a
cooperao para o desenvolvimento.
A ltima Conveno de Lom Lom IV foi assi-
nada em 1989, com uma durao de dez anos, intro-
duzindo inovaes importantes. A promoo dos Direi-
tos do Homem e o respeito pela democracia tornaram-
-se elementos determinantes da parceria e foram intro-
duzidos, no mbito de cooperao, novos objectivos,
tais como o reforo da posio das mulheres e a pro-
teco do ambiente. A cooperao descentralizada,
isto , a implicao no processo de desenvolvimento
de outros intervenientes, tais como a sociedade civil,
representa igualmente uma inovao importante.
A chegada do novo milnio registou uma altera-
o significativa nas relaes ACP-UE. A Conveno
de Lom IV expirou em Fevereiro de 2000, tendo sido
assinado um novo acordo de parceria no Benim,
Cotonou, em Junho do mesmo ano. Este acordo ins-
tituiu uma nova abordagem e representou mais uma
etapa na parceria, conservando os seus instrumen-
tos principais (instituies, instrumentos financei-
ros, etc.). Tem por objectivo reforar a dimenso pol-
tica da parceria, assegurar uma nova flexibilidade e
conceder mais responsabilidades aos Estados ACP. O
acordo introduz grandes alteraes no mbito comer-
cial. Ao abrigo do Acordo de Cotonou sero nego-
ciados novos acordos comerciais compatveis com as
normas da OMC. Os intercmbios comerciais entre
ambas as partes sero, por conseguinte, liberalizados,
pondo fim ao regime de preferncias comerciais no
recprocas e permitindo aos pases ACP participar
plenamente no comrcio internacional. No entanto,
o sistema actual permanece em vigor durante o
perodo transitrio, ou seja, at 2008.
Ao longo dos anos, numerosos Estados ACP ade-
riram parceria, totalizando actualmente 79. Ao
abrigo do Acordo de Cotonou feita a distino dos
PACTO DE VARSVIA 138
o uso de fora armada na sua resoluo. Os assun-
tos da divergncia no so resolvidos pelo acordo. O
pacto nazi-sovitico de 1939 um bom exemplo. Foi
assinado por dez anos (embora tenha durado menos
de dois) e continha um protocolo secreto que divi-
dia a Europa de leste em esferas de influncia russa
e alem. Para ambas as partes o pacto representava
um espao vital conveniente. Para a Alemanha ofe-
recia segurana na frente leste. Para a Unio Sovi-
tica acarretava tempo para o rearmamento e o for-
talecimento das defesas ocidentais.
Os pactos de no-agresso so geralmente enten-
didos como meios de reduo da tenso internacio-
nal. Tm tambm sido usados como forma de indu-
zir os Estados pequenos e/ou fracos a observarem
os desejos de uma potncia hegemnica regional.
Em 1970, a frica do Sul, procurando combater uma
ameaa comunista regional ofereceu pactos de no-
-agresso aos seus vizinhos negros. Em troca da
garantia de no-interferncia de Pretria, a frica do
Sul esperava que os seus vizinhos negassem apoios
aos insurgentes para operaes contra si. No incio
dos anos 1980, Botha renovou a oferta como parte
do seu esforo em criar uma constelao de Esta-
dos em torno da frica do Sul. Em 1984, o acordo
Nkomati foi assinado entre a frica do Sul e Moam-
bique. Em essncia, o acordo previa que enquanto
a frica do Sul cessaria o seu apoio Renamo,
Moambique comprometia-se a eliminar a presena
militar do Congresso Nacional Africano (ANC) no seu
territrio. Este acordo, bem como um similar assi-
nado com a Suazilndia em 1982, eram vistos por
Pretria como parte de uma srie de pactos regio-
nais de no-agresso, que juntamente com a pax pre-
toriana melhorariam consideravelmente os pro-
blemas de segurana interna do governo sulafricano.
Deve ser notado que os pactos de no-agresso no
obrigam os signatrios a uma defesa activa do outro.
O nico compromisso retirar a opo militar como
forma de resolver a disputa.
PACTO DE VARSVIA
O Pacto de Varsvia, estabelecido em Maio de 1955,
instituiu o grupo de oposio OTAN liderado pela
Unio Sovitica, teoricamente iniciado como resposta
adeso da Repblica Federal Alem a esta organiza-
o nesse mesmo ano. A estrutura militar era conhe-
cida como Organizao do Tratado de Varsvia, tendo
por membros a Unio Sovitica, Albnia, Bulgria,
Checoslovquia, Hungria, Polnia e Romnia. O
Pacto de Varsvia institua uma estrutura unificada
de comando militar sob o controlo de Moscovo, sendo
na prtica uma extenso das foras militares sovi-
ticas, pois a Unio Sovitica detinha o monoplio
como fornecedora de equipamento militar. Isto con-
feriu s foras do Pacto um elevado grau de inter-
operabilidade, mas significava a inexistncia de com-
petitividade em termos de representao militar dos
seus membros, legitimando simultaneamente a pre-
sena de tropas soviticas nos territrios dos Estados-
-membros do Pacto. O final da guerra fria levou dis-
divergncias exprimem-se na definio de quadros
conceptuais pertinentes e de sistemas de interpre-
tao que lhes esto associados. Os desacordos tm
a sua origem em diferentes vises do mundo, em fun-
o de uma longa histria doutrinal, muito mais pro-
funda que os debates contemporneos possam suge-
rir. A diferena particularmente forte entre os rea-
listas e os marxistas. Nos anos 1970, certos autores
americanos sugeriram igualmente a emergncia de
um paradigma das relaes transnacionais. Os pri-
meiros concedem uma importncia determinante
poltica, em particular poltica dos Estados. Os
segundos procuram nos modos de produo e nos
conflitos de classes, a causa, o sentido da dinmica
internacional. Os adeptos do transnacionalismo insis-
temnos fenmenos da integrao econmica e pol-
tica em curso escala internacional. Os adeptos destes
diferentes quadros conceptuais no divergem sobre
os principais fenmenos das Relaes Internacionais,
mas sim sobre a interpretao a dar s suas causas.
De acordo com determinados autores, uma era
cientfica particular caracterizada por um para-
digma dominante, ou seja, um determinado modelo
dentro do qual as maiores escolas trabalham e desen-
volvem as suas teorias. Deste modo, o desenvolvi-
mento cronolgico das Relaes Internacionais, como
uma disciplina acadmica, normalmente apresen-
tado como uma srie de paradigmas, desde o idea-
lismo e do realismo at ao behaviorismo, e por
a fora, intercalados por pocas de crises de para-
digmas, especialmente quando uma dada abordagem
dominante desafiada por outra. Estes perodos so
normalmente representados por grandes debates na
disciplina, bem como pelos debates interparadigm-
ticos, ocasionados pelos desafios que a teoria crtica
coloca s vises ortodoxas das Relaes Internacionais.
Nas Relaes Internacionais contemporneas no
existe um paradigma dominante. Com o fim da guerra
fria (em si prpria um paradigma), o campo das Rela-
es Internacionais passou a caracterizar-se por um
conjunto de paradigmas em competio, que se esto,
cada vez mais, a tornar numa teoria geral das Relaes
Internacionais, como por exemplo, o neo-realismo,
o neoliberalismo, a teoria crtica e o ps-moder-
nismo.
PARECER
Acto jurdico unilateral no obrigatrio de um rgo
jurisdicional de organizao internacional.
O termo pode ainda ser utilizado na acepo pr-
pria do direito administrativo para referir actos pre-
paratrios, nomeadamente contributos de entidades
que so chamadas a pronunciar-se no mbito de pro-
cedimentos decisrios.
PARLAMENTARISMO
Forma ou sistema de governo, na qual o parlamento
assume papel de grande relevo. Os presidentes da
repblica no so, nestes casos, eleitos por sufrgio
directo, cabendo ao parlamento a sua eleio.
PASES DA PERIFERIA 139
Estados ACP menos desenvolvidos, que beneficiam,
em determinados casos, de um tratamento especial.
de realar que em Dezembro de 2000, Cuba tor-
nou-se o 78 membro do grupo ACP. No entanto, este
pas ainda no participa no novo acordo de parceria.
Tambm Timor-Leste faz parte do grupo desde Maio
de 2003. O grupo foi institucionalizado em 1992.
PASES DA PERIFERIA
Termo referente a pases que desempenham um papel
marginal na economia mundial e que se encontram
dependentes das sociedades produtoras no que diz
respeito s trocas comerciais. Espaos dominados
pelo centro.
PASES DA SEMIPERIFERIA
Pases que fornecem mo-de-obra e recursos mate-
riais s principais indstrias dos pases industriali-
zados e economia mundial, mas que no so total-
mente industrializados.
PASES EM VIAS DE DESENVOLVIMENTO
Pases de Terceiro Mundo que, nas ltimas dcadas,
iniciaram o desenvolvimento, regra geral com base
na indstria.
PALAVRA-SENHA
Password
Sequncia de caracteres que associada a um nome
(username) permite a autenticao de um utilizador
num determinado sistema ou servio. Por uma ques-
to de segurana, as palavras-senha devem ser com-
postas por sequncias de caracteres sem qualquer
significado.
PARADIGMA
Um paradigma um conjunto de hipteses, um
modelo que serve como um princpio organizador e
como um guia para a pesquisa.
Com excepo dos perodos de ruptura epistemo-
lgica, pode dizer-se que existe um acordo mais ou
menos geral, no seio da comunidade dos investiga-
dores, sobre a escolha dos problemas mais impor-
tantes, bem como sobre a forma de se aplicar a razo
investigao dos mesmos. Segundo Thomas Kuhn,
esta convergncia exprime-se na noo de paradigma,
que representa a tradio de pesquisa de uma dada
comunidade cientfica. No estudo das Relaes
Internacionais, a diferena entre paradigmas exprime-
-se antes de mais atravs da especificidade dos con-
ceitos enunciados, bem como da escolha das vari-
veis estruturais tomadas em conta para compreen-
der a dinmica das Relaes Internacionais.
Existem actualmente no estudo das Relaes Inter-
nacionais diversos paradigmas concorrentes. Estas
PATRIOTISMO
Amor da ptria. O patriotismo no se identifica com
o nacionalismo, chauvinismo patriotismo exclu-
sivo e agressivo e muito menos com a xenofobia,
isto , o dio aos estrangeiros.
PAZ
A fronteira entre a guerra e a paz est sempre pre-
sente na discusso daquele conceito. Segundo o senso
comum, paz vulgarmente entendida como sendo
o oposto de guerra ou a sua ausncia. assim que a
define Bouthoul ao escrever que guerra e paz so
as duas faces do mesmo Janus, o reverso e o anverso
da vida social. Tambm para Vauvernargues, a paz
um intervalo entre duas guerras. Estas so, obvia-
mente, formas negativas de definir a situao de paz.
Neste conceito de paz incluem-se, portanto, situa-
es como as de conflito e de crise, e nela podem
ocorrer inmeras e variadas manifestaes de todas
as formas de violncia, com a nica excepo da vio-
lncia entre unidades polticas que seja considerada
guerra.
Na realidade, a paz que existe sempre o resultado
de uma guerra anterior, mais ou menos afastada no
tempo, e as condies que ela estabelece, a ordem que
ela representa, sempre beneficiam uns, a quem natu-
ralmente agrada, e prejudicam outros, que gostariam
de a modificar. Muitas vezes o uso da violncia impe-
-se como a soluo que resta para tentar alterar a
situao. Uma paz que venha alterar o status quo
pode significar o desencadear da violncia.
A paz, como situao social de no guerra, resulta
sempre de uma guerra precedente, e engendra e
explica a guerra seguinte, numa continuidade
guerra e paz que marca o ritmo profundo das rela-
es entre as unidades polticas.
Mas noo de paz atribudo um elevado valor
que se no coaduna com a passiva aceitao desta
perspectiva. Desde os tempos mais recuados, os auto-
res que tm estudado estes problemas procuraram
definir uma ideia positiva de paz, que a configure em
termos da ausncia no s da guerra, mas tambm
da violncia e at, segundo certas perspectivas mais
radicais, do conflito, e que estipule as condies dese-
jveis para a sua concretizao, ou que, pela sua pre-
sena, a identifiquem e caracterizem, ou que possam
garantir a sua auto-sustentao (paz perptua).
Segundo Beaufre, um dos nveis de emprego da
fora no sistema das Relaes Internacionais a paz
completa, caracterizada como sendo a que inclui
apenas formas de persuaso e de interveno menor,
conformes aos usos internacionais pacficos.
Por sua vez, os marxistas-leninistas concebem trs
espcies de paz, hierarquizadas pela valorizao que
lhes atribuda. As duas inferiores, que so defini-
das de forma negativa (simples ausncia de guerra),
os marxistas-leninistas designam-nas por imper-
feitas, porque nelas a guerra pode sempre vir a ocor-
rer, e correspondem ambas paz entre no comu-
nistas, ou entre estes e comunistas. Das duas imper-
feitas, a colocada num grau mais baixo corresponde
PARTIDO POLTICO 140
Importa referir que no existe um nico modelo
de parlamentarismo e que as diferenas podem ser
assinalveis, variando de pas para pas. Como carac-
terstica comum a todas as formas de governo par-
lamentarista o facto do chefe de Estado (monarca
ou presidente) ter um papel considerado secundrio.
Como notas de distino realce-se o sistema do
governo de gabinete (caracterstico do Reino Unido,
em que a figura do primeiro-ministro assume posi-
o cimeira); o sistema de governo de assembleia
associado IV Repblica francesa e Itlia; e o sis-
tema vigente na Alemanha, em que o chefe do governo
o chanceler eleito, de forma directa, pelos depu-
tados.
PARTIDO POLTICO
Organizao de carcter permanente, que se consti-
tui para conquistar e exercer o poder poltico.
Embora contribua para a formao e para a expres-
so da vontade poltica dos cidados, a nvel indivi-
dual e colectivo, no se confunde com as simples
associaes polticas, j que estas apenas querem
influenciar o poder.
Nas democracias, a competio pelo poder que
distingue os partidos de outras associaes. De acordo
com Max Weber, por partidos polticos devem enten-
der-se as associaes baseadas numa adeso (formal-
mente) livre, constitudas com o objectivo de atri-
buir aos seus chefes uma posio de poder no seio
de um grupo social e aos seus militantes activos pos-
sibilidades, ideais ou materiais, para a consecuo de
fins objectivos ou de vantagens pessoais, ou ambos
juntos.
Para Karl Deutsch, os partidos polticos so orga-
nizaes-chave que agregam vrios grupos de inte-
resses numa unio estvel, em ordem obteno de
determinados objectivos sociais e polticos. Segundo
Edmundo Burke, um partido um grupo de homens
unidos na promoo do bem comum, de acordo com
um princpio com que todos concordam.
Nas palavras de Giovanni Sartori, um partido
qualquer grupo poltico identificado por uma desig-
nao oficial que se apresenta s eleies e capaz
de colocar, atravs de eleies (livres ou no), can-
didatos em cargos pblicos.
PTRIA
O conceito , na maioria das vezes, confundido
com a ideia de nao, mas ptria significa pater (pai)
e correspondeu na sua origem propriedade das
comunidades patriarcais, pertencentes ao patriarcado
romano.
No entanto, o termo assumiria historicamente uma
ideia de defesa dos smbolos nacionais, associando-
-se a uma supremacia sentimental face ao prprio
plano racional. Frases como a ptria no se discute,
tudo pela ptria, nada contra a ptria, a ptria sem-
pre, etc., so um testemunho deste tipo de exalta-
o nacional, que no admitia qualquer tipo de dvida
ou contestao.
seu excesso impede a sua utilizao na forma tradi-
cional. uma paz que se distingue da paz de equi-
lbrio na medida em que assenta, no tanto na equi-
valncia global das foras, mas no excessivo custo de
uma possvel vitria, o que torna irracional o recurso
guerra (da a paz de terror, j que se baseia no
medo recproco das consequncias da guerra nuclear).
Por fim, designao guerra fria, Aron considera
mais adequado chamar de paz belicosa, uma vez
que se trata de uma situao de paz e no de guerra.
Afirma que a paz belicosa se originou na conjugao
da paz de terror entre as superpotncias, com a
dupla heterogeneidade histrica e ideolgica dos dois
blocos por elas liderados, resultando directamente,
na sua configurao, do encontro de duas evolues:
a das armas, e a da acentuao da importncia e inter-
veno do elemento psicolgico presente em todas
as guerras. Assim sendo, a paz belicosa inclui trs
vertentes, actuando em simultneo a dissuaso, a
propaganda (a que chama persuaso) e a subverso.
PERESTROIKA
Juntamente com a glasnost, a perestroika tam-
bm fazia parte dos planos de Mikhail Gorbatchev de
reforma alargada na ento Unio Sovitica. Peres-
troika significa reestruturao, mas cedo o termo
recebeu tambm uma conotao ideolgica. A pro-
posta de implementao da perestroika surgiu em
Janeiro de 1987, num Congresso do Comit Central
do Partido Comunista da Unio Sovitica combi-
nando reorganizao econmica e democratizao
limitada, em particular ao nvel dos governos locais.
Inicialmente, a perestroika tinha por objectivo
reformar o sistema econmico de controlo estatal em
vigor, e no substitu-lo, de forma a que o sistema
existente funcionasse de forma mais eficiente. O pro-
cesso acabou por ter um desfecho diferente do ini-
cialmente previsto devido ao processo de democra-
tizao do sistema poltico que originou e que aca-
bou por conduzir desintegrao da Unio Sovitica.
PERSONA NON GRATA
Declarao efectuada pelo Estado acreditador em
relao a um membro do pessoal diplomtico de uma
misso situada no seu territrio (que poder ocor-
rer mesmo ainda antes deste ter iniciado funes) e
que impe ao Estado acreditante que o retire ou
d por terminadas as suas funes.
Na prtica equivale expulso de diplomatas em
razo do comportamento dos mesmos ou de outras,
independentes desse comportamento, j que a decla-
rao no tem de ser justificada. Na verdade o meca-
nismo frequentemente utilizado como expresso
formal do agravamento das relaes bilaterais.
PERSONAL COMPUTER (PC)
Significa computador pessoal, ou seja, usado apenas
por um utilizador de cada vez. Este termo foi criado
PERESTROIKA 141
situao de tenso e hostilidade latente, como na
guerra fria, e a no grau acima situao de norma-
lizao de relaes e coexistncia pacfica, na qual
porm permanece a inevitvel competio ideolgica,
como na dtente. O grau superior, o da nica paz
perfeita, a paz entre comunistas, da qual nunca
poder resultar a guerra, j que a instaurao do
comunismo, por definio, ter eliminado todas as
razes que, no entender da doutrina marxista, con-
duzem a que ela ocorra. Correspondendo este tipo
de paz no apenas a uma situao de ausncia de
guerra, mas a uma situao caracterizada pela rea-
lizao de determinadas condies, trata-se pois de
um conceito definido de forma positiva.
Galtung afirma ser necessrio distinguir dois con-
ceitos de paz: a paz negativa, definida como a ausn-
cia da violncia organizada entre grupos humanos
tais como as naes, assim como entre grupos raciais
e tnicos (...) e a paz positiva, definida como um modelo
de cooperao e integrao entre os principais gru-
pos humanos. Ou seja, a paz negativa corresponderia
ausncia de violncia pessoal ou directa, a positiva
ausncia da violncia estrutural ou indirecta.
Para Santo Agostinho, paz era a tranquilidade na
ordem. A Igreja contempornea retoma esse conceito,
precisando que se trata da ordem baseada na justia.
Raymond Aron tambm analisa o conceito de paz
caracterizando-o simplesmente como sendo a ausn-
cia da guerra. Centrando a sua anlise nas relaes
de poder, distingue trs tipos de paz que so os que
tm tido existncia histrica: a paz de equilbrio,
que corresponde situao em que, recorrendo s
suas prprias foras ou atravs de aliados, os dife-
rentes Estados dentro de um dado sistema se dis-
suadem eficazmente de qualquer iniciativa para alte-
rar o status quo pela violncia armada; a paz de
hegemonia, em que os Estados mais fracos se reco-
nhecem impotentes para modificar a situao recor-
rendo fora armada, e os mais fortes ou hegemni-
cos no aspiram ao imprio, ou por insuficiente supe-
rioridade de poder, ou por razes de regime ou de filo-
sofia poltica; e a paz de imprio, em que o poder
superior de um dos Estados se impe decisivamente
aos restantes, submetendo-os politicamente.
A estes trs tipos de paz, que Aron analisa no s
nas suas caractersticas mas tambm nas suas limi-
taes e imperfeies, acrescenta outros dois que,
segundo ele, se podero considerar existirem no
actual sistema das Relaes Internacionais. Um, ape-
nas esboado, e talvez mais aparente do que real,
reservado a um espao relativamente restrito onde
se gerou, a Europa ocidental, que designa por paz
de satisfao, em que os Estados dentro do subsis-
tema tero definitivamente abdicado de qualquer pre-
tenso a alterarem o status quo pela violncia, acei-
tando faz-lo apenas atravs da negociao, da mtua
convenincia e mtuo acordo. Outro, que chama de
paz de impotncia ou paz de terror, que a paz
entre as superpotncias nucleares, incapazes de resol-
verem pela fora das armas os seus diferendos devido
ao excesso dos respectivos poderes militares, excesso
que os torna inutilizveis directamente; da a paz
de impotncia, no por falta de fora mas porque o
de planaltos desrticos, da sia Central at ao deserto
iraniano e ao Mar Cspio, e a oeste, pelos vales dos
rios entre o Cspio e o Mar Branco.
Pela natureza dos seus limites, pelo seu clima, pela
sua extenso, pelo facto dos seus rios navegveis desa-
guarem em mares gelados ou em mares interiores,
o pivot da histria tornava-se praticamente inaces-
svel s potncias estabelecidas nas regies costeiras,
mas permitia fceis e rpidas deslocaes de foras
localizadas no seu interior.
PLENIPOTENCIRIO
Aquele que tem plenos poderes (expressamente
atribudos atravs de carta patente ou de plenos pode-
res, ou decorrentes das suas funes e como tal acei-
tes pelos outros participantes), ou seja, o represen-
tante de um sujeito de Direito Internacional na nego-
ciao de uma conveno.
PLENOS PODERES
Documento proveniente da autoridade competente
de um Estado ou de uma organizao internacional
que indica uma ou vrias pessoas para representar
o Estado na negociao, adopo ou autenticao do
texto de um tratado, para manifestar o consentimento
do Estado a ficar vinculado por um tratado ou para
praticar qualquer outro acto que se refira ao tratado.
Corresponde em termos gerais, ao documento que
titula o mandato de representao, para efeitos de
negociao e/ou a prtica de outros actos integra-
dos no processo de concluso de convenes interna-
cionais.
A qualidade de representante para a adopo ou a
autenticao do texto de uma conveno ou para
exprimir o consentimento do Estado a ficar vincu-
lado por uma conveno decorre da apresentao da
carta de plenos poderes, podendo ainda resultar da
prtica corrente ou ainda presumir-se em relao a
determinados titulares de cargos, em razo das fun-
es exercidas. O regime das Convenes de Viena
no exclui a possibilidade de participao da nego-
ciao e/ou a prtica de actos sem mandato (gesto
de negcios), exigindo apenas a sua confirmao pos-
terior que poder ser tcita.
PLURALISMO
Nova abordagem terica das Relaes Internacionais,
que apareceu nos anos de 1960, em funo da neces-
sidade de responder aos novos desafios colocados pela
complexidade crescente das questes internacionais,
dando origem, ento, perspectiva pluralista das
Relaes Internacionais.
Entre os conceitos-chave do pluralismo salientam-
-se: o Estado j no ser o nico actor do sistema inter-
nacional, uma vez que existem outros actores igual-
mente importantes; o Estado no ser um actor uni-
trio uma vez que composto por diferentes grupos
de interesse, burocracias, etc.; o Estado no ser um
PERSONALIDADE INTERNACIONAL 142
em oposio aos computadores multiutilizador, que
era a forma tradicional de trabalho anterior. Embora
PC possa ser usado para designar qualquer compu-
tador destinado a uso pessoal, o termo ficou forte-
mente ligado ao computador IBM-PC (1981) e a todos
os computadores compatveis com este.
PERSONALIDADE INTERNACIONAL
Tradicionalmente, reconhecia-se apenas a persona-
lidade internacional dos Estados soberanos. Esta
situao conheceu todavia uma inverso profunda
depois da Segunda Guerra Mundial, passando ento
a admitir-se a personalidade de diversas entidades
(que assim se assumiam como sujeitos), distin-
guindo-se nelas a capacidade que conhece variaes
importantes (desde o Estado soberano que mantm
uma capacidade plena at, por exemplo o insur-
recto, cuja capacidade se enquadra no mbito do
direito humanitrio).
A personalidade pode decorrer do cumprimento de
exigncias previstas em regras jurdicas (como acon-
tece com o Estado soberano e as organizaes inter-
nacionais), ou pode decorrer do reconhecimento (como
acontece com a generalidade dos outros sujeitos).
PILARES DA UNIO EUROPEIA
O Tratado da Unio Europeia criou trs pilares, que
so os seguintes: a dimenso comunitria, que cor-
responde s disposies constantes do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, a Comunidade Euro-
peia do Carvo e do Ao (CECA) e a Comunidade Euro-
peia da Energia Atmica (EURATOM) cidadania da
Unio, polticas comunitrias, Unio Econmica e
Monetria, etc., ou seja, respeitando os aspectos pol-
ticos e econmicos da integrao, que desde a sua fun-
dao constituram a base histrica para o desenvol-
vimento da Unio (primeiro pilar); a poltica externa
e de segurana comum, que abrangida pelo Ttulo
V do Tratado da Unio Europeia (segundo pilar); e a
cooperao policial e judiciria, que abrangida pelo
Ttulo VI do Tratado da Unio Europeia (terceiro pilar).
O Tratado de Amesterdo transferiu uma parte dos
domnios contidos no terceiro pilar para o primeiro
pilar (livre circulao de pessoas).
Estes trs pilares acabaram por se integrar na
Conveno Europeia de 2004, em processo de rati-
ficao pelos Estados-membros.
PIVOT GEOGRFICO DA HISTRIA
Conceito utilizado pelo ingls Mackinder na sua pri-
meira teoria (1904) e atribudo a uma rea contnua
de estepes e plancies, coberta de vegetao herb-
cea propcia alimentao das montadas dos nma-
das, constituindo uma zona de circulao interior por
excelncia. Esta rea encontrava-se limitada a norte,
ao longo do litoral rctico, por faixas sucessivas de
gelos permanentes, de tundras, e de florestas de con-
feras, a leste e sul por cadeias de altas montanhas e
Esta relao assimtrica entre dois ou mais acto-
res existe em todo o tipo de grupos sociais, desde os
mais bsicos at aos mais complexos, desde a fam-
lia, escola, empresa, passando pelo Estado, at socie-
dade internacional. Desta forma, o poder um recurso
antropologicamente inelutvel, estando presente em
qualquer sociedade humana.
Os Estados so entidades instituidoras e definido-
ras de poder. Assim, os Estados tm poder, e este
pode variar de Estado para Estado, dependendo dos
chamados factores estruturais de poder. Os facto-
res de poder mais importantes so: a geografia, a
populao, os recursos naturais, a capacidade indus-
trial, a fora militar, os transportes e comunicaes,
as capacidades diplomticas, os servios de inteli-
gncia e de informao, a coeso interna, a admi-
nistrao governativa, e o carcter nacional. Em sn-
tese, o poder de um Estado traduz-se na capacidade
de obrigar um Estado ou conjunto de Estados a toma-
rem aces que estes poderiam no querer tomar.
O poder, que pode ser visto atravs da fora, per-
suaso, autoridade, coaco e manipulao, desem-
penha um papel fundamental no sistema interna-
cional, assumindo muitas formas, desde a guerra at
presso econmica e influncia cultural e ideo-
lgica. Alguns cientistas distinguem poder de
influncia, reservando ao primeiro as relaes exer-
cidas atravs do controle.
Tendo em considerao a definio de Robert Dhal,
o constrangimento exercido por A sobre B, podemos
falar de uma primeira face do poder, ligada ao hard
power, ou seja, poder duro, que se baseia em est-
mulos ou ameaas para obrigar os outros a fazer
aquilo que ns queremos. Todavia, no mundo inter-
dependente actual surge a chamada segunda face do
poder, aquilo que Joseph Nye chamou de soft power
ou poder suave. Nesta segunda face do poder, a capa-
cidade de determinar preferncias est associada a
recursos de poder intangveis como so a cultura, a
ideologia e instituies, e tem tendncia a provocar
um comportamento cooptativo, ou seja, a levar os
outros a desejar o mesmo que ns prprios. O poder
suave baseia-se em recursos como a capacidade de
atraco das nossas ideias ou a capacidade de deter-
minar a agenda poltica de modo a moldar as prefe-
rncias expressas por outros.
PODER POLTICO
a capacidade de um povo para constituir rgos
prprios de governo e para exercer, nos quadros legal-
mente estabelecidos, a autoridade num determinado
territrio. Marcello Caetano define-o como a facul-
dade exercida por um povo de, por autoridade pr-
pria (no recebida de outro poder), instituir rgos
que exeram o senhorio de um territrio e nele criem
e imponham normas jurdicas, dispondo dos necess-
rios meios de coaco. Nesta definio, poder poltico
e soberania confundem-se, mas casos h em que esse
poder est limitado por um poder superior (exemplo
da relao entre Estados federados e Estado federal),
razo que nos deve levar a autonomizar os conceitos.
POBREZA 143
actor racional; estando sujeito a influncias exterio-
res que condicionam e moldam as suas aces; e a
agenda dos assuntos internacionais ter sido alargada.
POBREZA
Por pobreza entende-se uma situao de privao
por falta de recursos.
A pobreza definida por referncia s necessidades mni-
mas e bsicas exigidas para levar uma vida saudvel.
PODER
Habilidade ou capacidade de levarmos outros a fazer
o que de outra forma no fariam (Robert Dahl).
Capacidade de indivduos ou membros de um
grupo alcanar objectivos ou favorecer os seus inte-
resses. O poder um aspecto presente em todas as
relaes humanas. Muitos conflitos de uma sociedade
so lutas de poder, porque quanto mais poder um
indivduo ou grupo detiver maior a capacidade de
conseguir o que quer ( custa dos outros).
Das geratrizes estruturais do poder nacional a sua
componente social no menos importante que a
geogrfica. Uma e outra formam o ncleo de toda a
vida do Estado. A populao, tal como o territrio,
so os elementos essenciais do Estado. As compo-
nentes sociais apresentam duas vertentes principais:
a populao e a cultura.
A populao de um Estado o agregado de pessoas
que vivem em comunidade politicamente integrada.
Se o Estado no pode ser concebido sem populao,
esta no pode ser pensada sem cultura. a cultura
que cimenta a nao e lhe d sentido. essa cons-
cincia de ter uma origem e uma finalidade comuns
que objectiva a sua unidade e que particulariza a sua
especificidade e, por essa via, ter de si uma ideia que
permita a todos orientarem-se para um destino
comum. Entender os padres culturais que dinami-
zam um povo e os valores que lhe do sentido, sig-
nifica poder explicar as instituies e, atravs delas,
o poder, seja qual for a forma que ele assuma. Por
isso a cultura no s a matriz mais estrutural do
poder, poder por si prpria.
Segundo Adriano Moreira o poder constitui o
objecto central da cincia poltica e que deve ser exa-
minado com um critrio tridimensional: a sede do
poder, a forma ou imagem, e a ideologia.
Marcello Caetano considera existir poder sempre
que algum tem possibilidade de fazer acatar pelos
outros a sua prpria vontade, afastando qualquer
resistncia exterior quilo que quer fazer ou obri-
gando os outros a fazer o que ele queira.
O poder uma relao entre actores. Desta forma,
o poder que o actor A possui sobre o actor B depende,
sobretudo, da relao entre estes dois actores. A tem
poder sobre B se conseguir impor-lhe a sua vontade,
independentemente das resistncias de B.
O poder pode definir-se, ento, como uma relao
desigual que permite a um actor obrigar outro a pra-
ticar uma aco que este no realizaria sem a inter-
veno do primeiro.
todos os competidores desejam o controlo do Estado,
mas no para o destruir.
Ao nvel global, a situao claramente diferente.
A organizao da conveno, do costume e da lei
simplesmente embrionria. A conduta diplomtica
e as imunidades so normalmente observadas; a
existe um sistema de lei internacional (apesar de ser
singular), o qual incorpora regras, acerca de ques-
tes como o movimento nos mares, sobrevoo do ter-
ritrio de outros Estados, neutralidade em guerra;
alguns at parecem ver os primeiros sinais da tica
internacional, por exemplo, na quase condenao
universal da discriminao racial: mas, em todos
estes casos, a conduta dos Estados constrangida e
governada pelas decises dos prprios Estados, e no
por qualquer autoridade externa a eles. Se a lei inter-
nacional ou as imunidades diplomticas, sero ou no
observadas, depende das perdas que os governantes
do Estado pensam poder vir a sofrer (da perda de
prestgio ou reputao, ou de medidas de retaliao),
no caso das regras serem infringidas. Do mesmo
modo, a nvel global nenhuma pessoa ou instituio
tem o monoplio dos instrumentos de coero.
POLTICA EXTERNA
A poltica externa pode ser definida como a activi-
dade pela qual os Estados agem, reagem e interagem.
A poltica externa uma actividade de fronteira
cruzando dois ambientes o interno e o externo. A
aco dos decisores polticos situa-se, por isso, na
juno destes dois meios, devendo, por isso, gerir os
interesses e oportunidades de ambos.
O meio domstico/interno constitui o pano de
fundo, com base no qual as directrizes da poltica
externa so delineadas. Assim, importa considerar
alguns factores do meio interno, como por exemplo,
os recursos do Estado, a sua posio geopoltica, o
nvel de desenvolvimento da sua economia, a estru-
tura demogrfica, os valores fundamentais da sua
populao, bem como a ideologia dominante.
O meio externo/internacional constitui o ambiente
onde a poltica externa ir ser implementada. A
implementao da poltica externa de um pas
envolve outros actores, implicando reaces dos mes-
mos. Torna-se, assim, necessrio que os decisores
polticos tenham em conta os interesses do meio
interno, bem como, ao analisar o meio externo,
tenham a capacidade de antever as reaces dos
outros Estados definio da situao.
Na tomada de decises, em termos de poltica
externa, privilegiada a perspectiva regional, em
detrimento da global, na medida em que, regra geral,
quase todos os Estados tm interesses regionais,
dando lugar, desta forma, a fenmenos de coopera-
o e integrao de mbito regional. Os Estados tm
de agir e reagir relativamente aos Estados vizinhos
em todos os aspectos poltico, econmico, militar,
etc. tornando a dimenso regional crucial na
tomada de decises em termos de poltica externa.
Na definio da poltica externa de um Estado, so
tidos em considerao quer os interesses vitais (high
POLEMOLOGIA 144
POLEMOLOGIA
Termo criado por Gaston Bouthoul, para designar o
estudo sociolgico dos conflitos e da guerra.
POLTICA
Meios atravs dos quais o poder utilizado, de modo
a influenciar a natureza e os contedos da actividade
governamental. A esfera do poltico inclui as activi-
dades daqueles que esto no governo mas tambm
as aces de muitos outros grupos e indivduos. H
muitas maneiras pelas quais pessoas fora do apare-
lho governamental o tentam influenciar.
a conquista e o exerccio do poder. Neste sen-
tido, Freitas do Amaral define-a como actividade
humana de tipo competitivo, que tem por objecto a
conquista e o exerccio do poder.
H ainda quem distinga a poltica enquanto arte
da governao, da poltica enquanto cincia da gover-
nao dos Estados. Partilhamos a ideia de Duverger,
segundo a qual a discusso tem pouca importncia,
importando salientar, tal como este autor faz, que
num e noutro caso a governao surge como ele-
mento estruturante e objectivo da poltica.
medida que o estudo da poltica se desenvolveu,
tambm cresceu o nmero das suas definies.
Quincy Wright diferenciou quatro definies: a arte
de governar um Estado, um governo ou um partido;
a arte de organizar o poder do grupo, ou vontade, ou
unidade; a arte de alcanar os objectivos dos parti-
dos contra a oposio de outros grupos; e a arte de
criar decises de grupo. John Plamenatz introduziu
o elemento normativo quando escreveu acerca da
examinao sistemtica de como os governos se
devem comportar e quais os seus objectivos (o estudo
tambm inclui teorias de como e porqu as insti-
tuies e governos se comportam de determinada
maneira, e uma anlise de termos e conceitos pol-
ticos). Morton Kaplan deu mais importncia cons-
tatao entre os indivduos ou grupos disputas por
causa das decises, da opo de fins polticos, ou
ainda da mudana de regras essenciais de sistemas
polticos (que so as regras que definem o compor-
tamento caracterstico do sistema). David Easton
definiu um acto poltico como sendo aquele que se
relaciona com a fixao autoritria de valores pela
sociedade. Neste sentido, existe poltica em todos
os grupos humanos, numa famlia, num clube de des-
porto, numa universidade, numa comunidade reli-
giosa, num Estado mas o estudo da poltica, nor-
malmente, toma como seu interesse primrio aquele
grupo particular conhecido por Estado. A poltica de
grupos inferiores ao Estado, guiada dentro duma
estrutura de acordo, de costume, lei e autoridade,
numa estrutura em que a coero aceite e refor-
ada, e em que o monoplio de instrumentos de coer-
o (a polcia e as foras armadas) est nas mos do
Estado. A poltica do Estado preocupa-se com o exer-
ccio ou o aumento do controlo, ou influncia dos
mecanismos do controlo e da coero. Mas, a com-
petio para obter o controlo limitada tanto na
inteno como no mtodo, dado que, normalmente,
entre os objectivos e as aces (decises e polticas)
de um Estado ou Estados e as interaces entre dois
ou mais Estados. O estudante que analisa as aces
de um Estado relativamente ao ambiente externo e
s condies geralmente domsticas sob as quais
essas aces so formuladas, preocupa-se essencial-
mente com a poltica externa; quem entende essas
aces como apenas uma parte do conjunto de aces
de um Estado e reaces ou respostas de outros est
a olhar para a poltica internacional, ou para os pro-
cessos de interaco entre dois ou mais Estados.
Diferentemente de poltica internacional e poltica
externa, o termo Relaes Internacionais refere-se
a todas as formas de interaco polticas e no pol-
ticas entre membros de diferentes sociedades, que
podero ou no ser de cariz governamental. O estudo
das Relaes Internacionais inclui a anlise das pol-
ticas externas ou processos polticos entre os
Estados. Contudo, dado o seu interesse por todas as
facetas do relacionamento entre sociedades, inclui
tambm estudos relativos aos sindicatos interna-
cionais, Cruz Vermelha Internacional, turismo,
comrcio internacional, transportes, comunicaes,
e o desenvolvimento de valores e da tica interna-
cionais. O estudante de poltica internacional no se
preocupa com este tipo de relaes ou fenmenos,
excepto onde estes tocam objectivos governamentais
oficiais, ou onde so empregados pelos governos
como instrumentos para alcanar objectivos milita-
res ou polticos. Um torneio internacional de hquei
no gelo constitui uma relao internacional ou trans-
nacional. O mesmo acontece com um congresso
mundial da Associao Internacional de Cincia
Poltica. Mas o estudante de poltica internacional
apenas se interessa por estes acontecimentos se eles
tiverem um impacto imediato nas relaes intergo-
vernamentais. Onde traar os limites no inteira-
mente claro; a diplomacia pingue-pongue inte-
ressa-nos como uma nova forma usado pelo governo
Chins para estabelecer laos diplomticos mais
estreitos com os Estados Unidos da Amrica,
enquanto um jogo de tnis de mesa entre a Austrlia
e a Nova Zelndia no seria relevante. Do mesmo
modo, o estudante de Relaes Internacionais inte-
ressa-se por todos os aspectos do comrcio internacio-
nal. Na poltica internacional, preocupamo-nos com
o comrcio internacional s at ao ponto em que os
governos podem recorrer a ameaas econmicas, recom-
pensas ou punies com fins polticos, como quando
prometem baixar as tarifas ao comrcio em troca do
direito de estabelecer uma base militar nesse pas.
Como escreveu Adriano Moreira, tentando deli-
mitar as fronteiras entre Relaes Internacionais e
poltica internacional, esta ltima expresso no
coincide com a anterior, uma vez que das Relaes
Internacionais a poltica internacional s com-
preende o estudo da dinmica do conjunto das rela-
es decorrentes entre poderes polticos. Mas como
as Relaes Internacionais, mesmo quando no decor-
rem entre poderes polticos, sempre so condicio-
nadas, directa ou indirectamente, por aquelas rela-
es, no mbito da poltica internacional cabe o estudo
da dinmica de todas as Relaes Internacionais.
POLTICA INTERNACIONAL 145
politics) como a paz, segurana e bem-estar , quer
as questes de rotina (low politics) no relaciona-
mento entre os Estados, atribudas diplomacia.
Uma categoria intermdia, geralmente abrangida
por polticas sectoriais, cobre certas reas de inte-
resses de alguns grupos sociais, econmicos ou
outros; mas que no tm importncia suficiente para
serem interesses nacionais (high politics).
Tradicionalmente, considera-se que as decises em
poltica externa so tomadas com base no clculo
entre as vantagens e desvantagens que acarreta, fun-
cionando o centro de deciso como um todo unifi-
cado. Contudo, nem sempre se passa assim.
A actualidade mostra que o centro de deciso em
poltica externa no est unificado. Grupos de inte-
resses particulares tendem a sobrepor-se, ou pelos
menos a impor-se, junto do interesse vital do sistema.
Como resultado, a poltica externa que emerge
representa ou um compromisso entre vrios pontos
de vista ou, ainda, o triunfo de uma das perspecti-
vas sobre a outra. plausvel aceitar a corrida aos
armamentos, durante a guerra fria, como um dos
exemplos paradigmticos.
A implementao de uma poltica externa requer,
por parte do Estado, a utilizao de vrios instru-
mentos como, por exemplo, as capacidades econ-
mica e militar. O instrumento militar tradicional-
mente considerado como o mais importante, no que
diz respeito s reas da high politics. Recentemente,
os instrumentos econmico e tecnolgico tm vindo
a aumentar a sua importncia, quer como resultado
da interdependncia crescente entre os Estados, quer
como consequncia dos problemas que envolvem o
uso ou mera ameaa do uso da fora.
A prossecuo dos interesses dos Estados, na sua
poltica externa, depende igualmente da qualidade,
preparao, capacidade de negociao e determinao
dos seus diplomatas na conduo da diplomacia.
Devemos, contudo, distinguir os conceitos de diplo-
macia de poltica externa, dado que so, erradamente,
entendidas como sinnimos, confundindo-se a parte
com o todo.
POLTICA INTERNACIONAL
O termo usado para identificar as interaces entre
Estados para alm fronteiras, que detm um carc-
ter e contedo poltico especficos. Estas interaces
sero geridas directamente pelos governos ou por
representantes destes acreditados e reconhecidos.
usado o termo internacional em vez de interestadual
uma vez que o ltimo apresenta conotaes confu-
sas com federalismo e federao. A relao entre pol-
tica internacional e poltica externa prxima. Se
a primeira lida com interaces, a segunda lida com
aces e reaces. Na perspectiva da poltica externa,
as relaes de poltica internacional resultam do
envolvimento dos Estados em actividades de formu-
lao poltica.
Segundo Holsti, a distino entre a poltica externa
e a poltica internacional pode ser mais acadmica
do que real, mas traduz sumariamente a diferena
nio e planeamento das mais diversas polticas
pblicas. Compreendendo a pertinncia da observa-
o, entendemos no ser de confundir a populao
residente no territrio (nacionais e estrangeiros), da
populao que transita ou permanece apenas por
perodos curtos, nesse mesmo territrio, os turistas.
(Crescimento demogrfico e Relaes Interna-
cionais)
POPULAO E
RELAES INTERNACIONAIS
O factor demogrfico desempenha um importante
papel nas Relaes Internacionais, uma vez que as
transformaes demogrficas que se operam em todo
o planeta, alteram, e iro alterar cada vez mais, de
modo inexorvel, os equilbrios de um passado recente.
A populao mundial, no sculo XX, cresceu a um
ritmo sem precedentes na histria da humanidade
2,5 mil milhes em 1900, 5 mil milhes em 1990,
6 mil milhes em 2000 e continua a crescer ordem
de 100 milhes de pessoas ao ano.
Esta exploso demogrfica, herdeira do forte cres-
cimento demogrfico que se fez sentir no mundo
desde o sculo XVIII, sobretudo nos pases indus-
trializados, graas melhoria da alimentao, aos
progressos da higiene e da medicina, e revoluo
industrial, fez diminuir a taxa de mortalidade e
aumentar a durao mdia de vida.
Segundo o modelo de transio demogrfica, de
uma demografia de Antigo Regime, caracterizada por
altas taxas de mortalidade e natalidade, isto , de um
equilbrio populacional em alta, passou-se para redu-
zidas taxas de mortalidade e de natalidade, isto , para
um equilbrio em baixa.
Enquanto os pases industrializados j concluram
a transio demogrfica, registando, ao presente,
uma populao envelhecida e estagnada, de cresci-
mento zero, nos pases em vias de desenvolvimento,
que ainda no concluram a transio demogrfica,
a populao continua a crescer a um forte ritmo
(1,4% de crescimento anual mdio), de tal modo que
90% do crescimento demogrfico mundial hoje
garantido por tais pases. Este desigual crescimento
provoca novos equilbrios demogrficos, com o peso
relativo da Europa e do ocidente em geral a declinar
rapidamente, e a sia a representar 60% da popula-
o mundial, com a China e a ndia, por si s, a regis-
tarem respectivamente, 1,3 milhes de habitantes e
a ndia muito perto dos mil milhes.
No falando j nos problemas que se levantam
quanto relao populao/desenvolvimento eco-
nmico e populao/ambiente, nem quanto s gran-
des migraes dos pases no desenvolvidos para os
pases desenvolvidos, a questo que se coloca hoje,
no plano das Relaes Internacionais o da redis-
tribuio do papel que os pases mais populosos
devem desempenhar nos organismos internacionais.
Como o que os centros de poder da comunidade
internacional podero continuar nas mos dos oci-
dentais? Como que, dos cinco membros perma-
nentes do Conselho de Segurana das Naes
POPULAO 146
A poltica internacional um tipo particular de
poltica. A sua preocupao principal no vai para a
exercitao, ou o ganho do controlo, ou a influn-
cia do mecanismo de controlo e coero, pois no sis-
tema global tal mecanismo opera apenas de forma
casual e limitada. Preocupa-se primordialmente,
como refere Quincy Wright, com a arte de alcanar
os objectivos do grupo contra a oposio de outros
grupos. Mas, os grupos esto no-constrangidos
nesta competio, a no ser pelos limites do seu
poder, e as perdas que os seus controladores supem
que venham a sofrer por tomarem certas aces.
Noutras palavras, os grupos so soberanos (isto no
quer dizer que sejam independentes).
H uma grande diferena entre a actividade pol-
tica num grupo que tem um governo, e a actividade
poltica num grupo (o sistema global) que anr-
quico na verdade, de acordo com certas definies,
no h em tal grupo nenhuma actividade descrita
como sendo poltica.
A poltica internacional implica que os Estados so
os actores dominantes. Se outros actores so iden-
tificados, a sua capacidade de agir autonomamente
ser seriamente questionada. A partir do momento
em que a primazia do Estado deixa de ser possvel,
ento o termo internacional assume limitaes e
necessria uma nova designao do tipo mundial
ou global. Alguma confuso tem surgido nas lti-
mas dcadas devido no observncia das exigncias
de terminologia e ao facto dos autores continuarem
a usar o termo poltica internacional quando se refe-
rem a poltica mundial.
Finalmente, importa referir que todos os Estados
encontram a sua origem na poltica internacional,
uma vez que a guerra ou a diplomacia presidiram
sua formao, determinaram as suas fronteiras,
influenciaram a evoluo dos seus regimes. Nenhum
pas pode viver em autarcia. Todos, de formas diver-
sas, so forados a assegurar a sua proteco mili-
tar ou a planear o desenvolvimento da sua economia,
efectuando alianas, estabelecendo acordos comer-
ciais e relaes monetrias e financeiras com o resto
do mundo. Nenhum Estado pode assumir, sozinho,
a defesa da sua segurana e da sua independncia.
Todos os pases integram uma rede densa e complexa
de interaces aos mais diversos nveis. A poltica
internacional influencia a repartio das riquezas do
planeta, cria mecanismos de cooperao que per-
mitem o crescimento econmico ou favorecem o sub-
desenvolvimento. A evoluo dos Estados e das socie-
dades no inteligvel sem a referncia poltica
internacional (Senarclens).
POPULAO
o conjunto de pessoas que habitam num determi-
nado territrio. O termo abrange assim no apenas
os nacionais desse territrio, mas os estrangeiros que
nele vivem. H quem inclua nesta classificao os
turistas, considerando-os como parte integrante da
populao duma certa regio, aspecto que dever ser
tido em conta pelos responsveis polticos na defi-
POVO
A palavra povo tanto significa o conjunto dos cida-
dos que constituem um pas, como remete para a
noo de plebe, referindo-se aos menos favorecidos.
O povo, entendido como os membros de uma nao,
apresenta uma unidade e uma identidade que lhe so
conferidas pela tradio, pelos usos e costumes, por
uma cultura e uma histria. Nesta acepo, o povo
pode ser tomado como uma entidade dotada de uma
unidade moral, na prpria medida em que pressupe
a existncia de uma tradio e de uma histria como
acto fundador. Se considerado como corpo de uma
nao, o povo representa o conjunto dos cidados sub-
metidos s mesmas leis, sendo ainda, em democracia,
quem elege os deputados e perante quem estes res-
pondem. O povo ento o sujeito de direitos polticos,
falando-se da soberania do povo e do governo do povo.
Na segunda acepo, a palavra povo remete para
uma entidade sociologicamente mal definida e deli-
mitada que, embora sendo a mais numerosa e cons-
tituda pelos menos favorecidos, no corresponde a
um sector determinado de uma populao ou dos
membros de uma sociedade, nem se confunde com
a noo de classe.
Como escreveu Jorge Miranda, o Estado o povo
organizado, isto , dotado de uma constituio e de
um poder poltico. A nao apenas se passa a desig-
nar por povo quando constitui um Estado.
Conjunto de pessoas que formam uma comunidade
poltica para defender interesses comuns e alcanar
objectivos que consideram tambm comuns. A pala-
vra povo no deve confundir-se com os conceitos
de nao e populao, uma vez que todos eles
pressupem realidades distintas. Um certo povo,
enquanto conjunto de pessoas, pode ter um passado
diferente, falar lnguas diferentes e at ter usos e cos-
tumes diferentes, mas ambicionar, perante circuns-
tancialismos prprios, assumir um presente e um
futuro comuns (exemplo patente desta situao o
da comunidade de emigrantes que tendo declarado
a independncia das treze colnias britnicas, em
1776, se decidem juntar em 1777, criando primeiro
uma Confederao de Estados e mais tarde, em 1787,
reunidos em Filadlfia, aprovando a Constituio dos
Estados Unidos da Amrica).
PREMBULO
Elemento tpico na estrutura das convenes
internacionais, o qual serve desde logo para identi-
ficar as partes e ainda para expor (normalmente em
considerandos) aquilo que motivou as partes a pro-
curarem regular a situao e a optarem pelo regime
fixado no texto (no dispositivo).
PRESIDENCIALISMO
Forma de governo caracterizada pelo papel prepon-
derante do Presidente da Repblica, figura que
eleita de forma directa ou indirecta, pelo povo. Nestes
casos, o governo dirigido pelo Presidente, como
PORTAL 147
Unidas, s um, a China, no pertence ao Ocidente?
Como que a ndia, que alm do seu peso demo-
grfico tambm uma potncia nuclear, pode con-
tinuar numa posio subalterna? E o Brasil ou a
Indonsia? Como que o FMI ou o Banco
Mundial podero continuar a ser controlados exclu-
sivamente pelos pases desenvolvidos?
evidente que o poder no se traduz, apenas, pelo
nmero. Mas at quando se poder ignorar o peso
dos nmeros, e secundarizar os pases mais popu-
losos?
PORTAL
Ou web portal, refere um site estruturado de forma
a ser uma porta de acesso para muitos e variados
temas. Costuma ser um site com informao variada,
oferecendo caixas de correio electrnico, motores de
busca e notcias.
PS-MODERNISMO
Corrente terica controversa e de difcil definio,
por vezes designada tambm de ps-estruturalismo.
Procura expor a conexo ntima entre questes de
conhecimento e questes de poder poltico e auto-
ridade. Entende que o Estado soberano, enquanto ele-
mento primrio de subjectividade nas Relaes Inter-
nacionais, deve ser examinado cuidadosamente, de
modo a expor as suas prticas de incluso e exclu-
so. Alm do mais, uma descrio mais abrangente
da poltica mundial contempornea deve tambm
incluir a anlise dos actores e movimentos transver-
sais que operam no exterior e atravs das fronteiras
estatais. Em adio, o ps-modernismo repensa o
conceito do poltico sem invocar assunes de sobe-
rania e re-territorializao. Ao desafiarem a ideia de
que o carcter e localizao do poltico tm de ser
determinados pelo Estado moderno, o ps-moder-
nismo procura alargar a imaginao poltica e o leque
de possibilidades polticas de transformao das Rela-
es Internacionais.
Deste modo, o foco desta perspectiva a crtica
soberania do Estado. Exigncias transversais de jus-
tia tm sido feitas, quer acima quer abaixo do nvel
do Estado, e em desafio directo sua capacidade de
as acomodar. Confinar as ticas s fronteiras espa-
ciais do Estado soberano seria subjugar a pluralidade
de vozes ao desejo de ordem e unidade. Isto implica
o repensar das noes de subjectividade, identidade
e o conceito do poltico para alm do paradigma da
soberania. De modo mais positivo, significa a afir-
mao da desterritorializao da responsabilidade, e
a pluralizao de possibilidades polticas para alm
(mas tambm incluindo) do Estado.
POSTO CONSULAR
Designao abrangente de qualquer servio consu-
lar, incluindo portanto as diversas figuras tipificadas
na matria: o consulado-geral, o consulado, o vice-
-consulado ou agncia consular.
O mesmo raciocnio que fundamenta o princpio
da especialidade, vai fundamentar uma variante posi-
tiva, que o princpio das competncias implcitas.
PRINCPIO DA RELATIVIDADE
DOS TRATADOS
Princpio segundo o qual uma conveno apenas pro-
duz efeitos relativos (e no absolutos ou gerais), ou
seja, os efeitos esgotam-se dentro da esfera jurdica
das partes. So correntemente admitidas excepes
com e sem o consentimento dos terceiros. O con-
sentimento dos terceiros (em relao aos quais a con-
veno produza efeitos) constitui a regra bsica,
sendo que esse consentimento tem de ser expresso
quando se trate de obrigaes.
Admite-se a produo de efeitos em relao a ter-
ceiros sem o consentimento destes por surgimento
de um costume, por criao de situaes objectivas,
por criao de entidades cuja existncia oponvel
a terceiros e ainda por emanao de normas com
vocao universal.
PRINCPIOS GERAIS DE DIREITO
Como frequentemente salientado pela doutrina
jurdica, o sentido do conceito no preciso, sendo
distinguveis no mbito do Direito Internacional, pelo
menos, cinco das seguintes utilizaes. Assim so
entendidos quer como o conjunto de regras de direito
que regulam as Relaes Internacionais (ou seja todo
o Direito Internacional), quer como regra funda-
mental de Direito Internacional sem acolhimento
convencional ou consuetudinrio, quer ainda como
qualificao especfica de uma regra de Direito Inter-
nacional (sublinhando-se assim a sua generalidade
e importncia), ou ainda como o conjunto dos prin-
cpios jurdicos e polticos que regulam as Relaes
Internacionais (como seja o da coexistncia pacfica,
da no ingerncia, etc.), e finalmente como o con-
junto dos princpios comuns aos grandes sistemas
de direito contemporneo e aplicveis ordem inter-
nacional.
Esta ltima parece ser a acepo mais relevante na
actualidade (nomeadamente na percepo dos prin-
cpios enquanto fonte de Direito Internacional).
Assim, os princpios a aplicar pelo juiz internacio-
nal, seriam os identificveis por este no Direito
Interno dos grandes sistemas de direito contempo-
rneo e que simultaneamente pudessem ser trans-
postos para o plano internacional (ou seja, que as
diferentes caractersticas deste meio no tornem des-
locada ou inapropriada a sua aplicao).
Atravs deste procedimento procurou-se evitar a
tentao legislativa do juiz internacional, que face
exiguidade das regras internacionais, poderia sen-
tir-se atrado pela possibilidade de enunciar segundo
o seu prudente arbtrio os princpios gerais aplic-
veis situao. Neste regime o juiz internacional deve
portanto verificar primeiramente a existncia do
princpio no plano interno (in foro domestico), o seu
PRIMADO DO DIREITO INTERNACIONAL SOBRE O DIREITO INTERNO 148
sucede, por exemplo, nos Estados Unidos da Amrica,
acumulando ento as funes de chefia do Estado,
com a chefia do governo.
PRIMADO DO DIREITO
INTERNACIONAL SOBRE
O DIREITO INTERNO
A afirmao do primado ou primazia do Direito Inter-
nacional sobre o Direito Interno dos Estados hoje
em dia relativamente pacfica, tendo no obstante,
sofrido importantes resistncias de algumas tendn-
cias do positivismo voluntarista (que, ao insistir na
vontade do Estado como sendo a nica legtima, tende
a recusar a sujeio destes ordem internacional).
O princpio foi afirmado pela jurisprudncia inter-
nacional logo na primeira deciso do Tribunal Per-
manente de Justia Internacional, em 1923, no caso
Wimbledon, sendo posteriormente reafirmado em
diversas decises. Muito embora podendo admitir
variaes, o princpio conhece hoje em dia um aco-
lhimento generalizado.
PRIMEIRO MUNDO
Grupo de Estados-nao que possuem economias
industrializadas desenvolvidas com base na produ-
o capitalista.
PRINCPIO DAS COMPETNCIAS
IMPLCITAS DAS ORGANIZAES
INTERNACIONAIS
Princpio segundo o qual as organizaes interna-
cionais dispem (implicitamente) das competncias
necessrias realizao dos fins para que foram cria-
das, pelo que, no estando explicitamente prevista a
competncia para a prtica de determinados actos,
deve considerar-se no entanto, a mesma, como admi-
tida desde que se mostre ser necessria para o pros-
seguimento dos objectivos fixados pelas partes.
PRINCPIO DA ESPECIALIDADE DAS
ORGANIZAES INTERNACIONAIS
Princpio segundo o qual a actividade das organiza-
es internacionais est limitada (enquadrada) aos
fins para que foram criadas. Na verdade, as organi-
zaes internacionais so entidades colectivas que os
Estados criam por forma a institucionalizarem qua-
dros de negociao permanente em determinadas
reas de actividade, s quais normalmente conce-
dida a possibilidade de adoptarem actos jurdicos
unilaterais. Estas no podem, por isso, agir fora do
quadro de competncias que lhe foram atribudas e
principalmente exorbitarem dos fins para que foram
criadas, na medida em que isso implicaria uma afecta-
o dos interesses das partes, ou seja dos Estados que
as criaram, ao ser contrariada a vontade instituidora.
mesmos e/ou a proteco dos seus interesses a um
terceiro Estado aceite pelo Estado acreditador.
Os privilgios e imunidades no afastam todavia
a obrigao de respeito pelas leis e regulamentos do
Estado acreditador e de no se imiscurem nos seus
assuntos internos.
PROBLEMTICA DO TRABALHO
CIENTFICO
A problemtica, segundo Quivy, a abordagem ou a
perspectiva terica que decidimos adoptar para tra-
tarmos o problema formulado pela pergunta de par-
tida em qualquer trabalho de investigao. Num tra-
balho cientfico, a problemtica uma maneira de
interrogar os fenmenos estudados. Constituindo
uma etapa-charneira da investigao, entre a ruptura
e a construo, a problemtica engloba tanto o
objecto que constitui problema, como o conjunto das
conceptualizaes e dos discursos temticos elabo-
rados, as explicaes avanadas, os objectivos pro-
postos nas investigaes, os recursos utilizados e os
procedimentos que permitem construir o objecto em
problema e definir um campo problemtico.
A problemtica a arte de pr os problemas.
Problematizar ser capaz de interrogar um tema para
fazer surgir um ou mais problemas. A capacidade de
se colocar uma boa questo fundamental e releva
da prpria actividade cientfica. Como escreveu Lvi-
-Strauss, o sbio no aquele que d boas respos-
tas, mas aquele que coloca boas questes.
Embora no seja fcil definir uma problemtica
modelo, possvel avanar alguns critrios de hierar-
quizao, segundo Jean tienne, que estamos a seguir.
Uma boa problemtica , antes de tudo, englo-
bante, permitindo tratar, de modo articulado, os prin-
cipais assuntos do tema, tal como eles sobressaem
da anlise do enunciado, dando assim ao tema a sua
extenso externa.
Uma boa problemtica actual, isto , toma em
considerao o estado mais recente do debate te-
rico e dos dados empricos, situando-a no tempo e
no espao.
Uma boa problemtica fecunda, fazendo sobres-
sair a complexidade dos problemas, atrs das for-
mulaes que podero parecer simples numa pri-
meira anlise.
A elaborao de uma problemtica pertinente cons-
titui a marca pessoal de todo o trabalho de investigao.
No podemos confundir problemtica com teoria.
Enquanto que as teorias sociolgicas fornecem expli-
caes, ou um quadro de anlise das prticas sociais,
a problemtica significa que um determinado objecto
se constituiu em problema, para o qual no existem
ainda respostas e cujas relaes com outros objec-
tos esto ainda a ser estabelecidas.
PRODUTIVIDADE
Relao entre o valor de uma produo e a soma dos
factores necessrios sua elaborao.
P (produtividade) = P (produo) / F (factores).
PRIVILGIOS E IMUNIDADES DIPLOMTICOS 149
acolhimento (opinio iuris) nos grandes sistemas, e
finalmente a sua transponibilidade.
Impe-se uma referncia noo de princpio geral
de direito propriamente dito. Entende-se serem os
princpios gerais as proposies primeiras, des-
cortinadas por induo das regras particulares, ou
seja, disposies com um nvel de abrangncia supe-
rior ao das normas (ao contrrio destas, os princ-
pios no partem de uma hiptese ou previso de
enquadramento da sua aplicao) e que devem des-
cortinar-se ou verificar-se atravs da observao dos
regimes jurdicos, dos quais os princpios ressaltam
a ttulo de estruturas ordenadoras essenciais.
Os princpios gerais vm sendo aplicados regu-
larmente pelas instncias internacionais.
PRIVILGIOS E IMUNIDADES
DIPLOMTICOS
Os privilgios e imunidades diplomticos referem-
-se misso diplomtica e aos membros da misso
diplomtica.
Quanto misso diplomtica, esses privilgios
consistem desde logo na obrigao de o Estado
acreditador facilitar a aquisio dos locais neces-
srios, na possibilidade do uso da bandeira e do
escudo na misso e meios de transporte, na invio-
labilidade dos locais da misso e dos seus arqui-
vos e documentos, na iseno fiscal geral na obri-
gao do Estado acreditador de conceder todas as
facilidades para o desempenho das funes da mis-
so e ainda na garantia da liberdade das comunica-
es oficiais.
Quanto aos membros da misso diplomtica,
estes beneficiam em regra da liberdade de circula-
o e trnsito em todo o territrio do Estado acre-
ditador e da iseno de taxas de segurana social. Os
agentes diplomticos beneficiam ainda de iseno
fiscal, aduaneira, de taxas sociais e de qualquer pres-
tao pessoal ou de servio pblico, de inviolabili-
dade pessoal e da sua residncia, documentos e
correspondncia, inviolabilidade da bagagem pessoal,
e imunidade jurisdicional. Alm disso, os agentes
diplomticos beneficiam tambm da inviolabilidade
em territrio de Estados terceiros aquando da pas-
sagem por estes a fim de assumir ou reassumir o seu
posto ou regressar ao seu pas. Estes benefcios so
extensveis s respectivas famlias.
Dada a importncia destas imunidades e privil-
gios, a nomeao, chegada, partida ou termo de fun-
es de qualquer pessoa que beneficie de privilgios
diplomticos, tem de ser notificada pelo Estado
acreditante ao Estado acreditador.
Em caso de deflagrao de conflito armado, o
Estado acreditador deve conceder todas as facilidades
s pessoas que beneficiam de privilgios e imunida-
des e que no sejam seus nacionais para que possam
abandonar o territrio colocando sua disposio os
meios de transporte necessrios.
Em caso de ruptura das relaes diplomticas man-
tm-se a obrigao de proteco dos locais da mis-
so e o Estado acreditante pode confiar a guarda dos
Os destinatrios so os Estados e regies, assim
como autoridades locais, organizaes regionais,
entidades pblicas, comunidades locais ou tradicio-
nais, organizaes de apoio s empresas, operadores
privados, cooperativas, mutualidades, associaes,
fundaes, e organizaes no governamentais.
A partir de Novembro de 2000, adoptou-se uma
nova regulamentao que estabeleceu as bases do
programa MEDA II para o perodo 2000-2006.
PROGRAMA DAS NAES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)
United Nations Development Programme
Criado na sequncia da fuso das administraes do
programa alargado de assistncia tcnica e do Fundo
especial das Naes Unidas, realizada pelas resolu-
es 1020, do conselho econmico e social de 11 de
Agosto de 1964, e 2029, da assembleia geral de 22 de
Novembro de 1965. Tem por objectivo ajudar os pa-
ses em desenvolvimento a reforar as suas capaci-
dades nacionais afim de acederem a um desenvolvi-
mento humano durvel. Com uma rede de 132 escri-
trios, fornece conselhos e actua em favor da con-
cesso de emprstimos para fins de desenvolvimento.
O PNUD publica todos os anos um Relatrio sobre o
Desenvolvimento Humano, que classifica os pases
segundo o indicador do desenvolvimento humano
(IDH). Tem 36 Estados-membros.
PROGRAMA PHARE
Poland and Hungary Assistance to the Restructuring of
the Economy
O programa PHARE, inicialmente destinado apenas
Polnia e Hungria, tal como indica a sua designa-
o, alargou-se progressivamente at atingir os 14
pases beneficirios da Europa central e de leste com
que conta actualmente. As principais prioridades dos
financiamentos PHARE so as mesmas para todos os
pases, embora estes se encontrem em diferentes
nveis de evoluo. Os domnios privilegiados so: a
reestruturao das empresas estatais, inclusive no
sector da agricultura; o desenvolvimento do sector
privado; a reforma das instituies, da legislao e
da administrao pblica; a reforma dos servios
sociais, de emprego, de educao e de sade; o desen-
volvimento das infra-estruturas energticas, de trans-
portes e de telecomunicaes; e a defesa do ambiente.
PROGRAMA TACIS
Tecnical Assistance for the Commonwealth of
Independent States Programme
O programa TACIS uma iniciativa da Unio Euro-
peia que tem como objectivo o desenvolvimento har-
monioso e a prosperidade econmica e poltica dos
Estados que pertencem Comunidade de Estados
Independentes (CEI) e da Monglia, e que procura
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) 150
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
Riqueza gerada numa economia, num determinado
perodo (um ano).
Em termos de Contabilidade Nacional, pode ser
medido de acordo com trs pticas possveis.
ptica da despesa, quando o critrio a despesa
das famlias em bens de consumo, a despesa das
empresas em bens de investimento, a despesa do
Estado em gastos pblicos e a despesa do resto do
mundo em exportaes domsticas (lquida das
importaes domsticas de bens internacionais).
ptica da produo, quando se considera o soma-
trio da produo total deduzido dos produtos inter-
mdios, ou o somatrio do valor acrescentado por
todos os sectores de actividade.
Finalmente, a ptica do rendimento apura a tota-
lidade dos salrios, juros, lucros e rendas distribu-
dos a ttulo dos factores produtivos.
PRODUTO NACIONAL BRUTO (PNB)
Conjunto de recursos constitudos pelo PIB e os
rendimentos lquidos recebidos do exterior (remu-
nerao dos factores produtivos nacionais recebida
do resto do mundo menos a remunerao dos fac-
tores produtivos de no residentes paga ao resto do
mundo).
PROGRAMA JOPP
Joint-venture PHARE Programme
Programa que tem como objectivo promover inves-
timentos privados nos pases da Europa central e
oriental, atravs da criao de joint-ventures entre
pequenas e mdias empresas comunitrias que
queiram criar ou desenvolver e reestruturar uma
empresa conjunta j existente nos pases referidos.
O apoio prestado pelo JOPP situa-se aos seguin-
tes nveis: identificao de parceiros e projectos;
apoio criao de joint-ventures; assistncia tcnica,
formao e transferncia de know-how.
PROGRAMA MEDA
Programa que se destina a incentivar e apoiar a
reforma das estruturas econmicas e sociais dos par-
ceiros mediterrnicos, tendo em vista, nomeada-
mente, a preparao para o comrcio livre com a
Comunidade Europeia. O programa destina-se a con-
tribuir, atravs de determinadas medidas, para as ini-
ciativas de interesse comum nas trs vertentes da par-
ceria euro-mediterrnica: reforo da estabilidade
poltica e da democracia; criao de uma zona de
comrcio livre euro-mediterrnica; e desenvolvi-
mento da cooperao econmica e social, em funo
da dimenso humana e cultural.
Na execuo dessas medidas de apoio, ter-se em
conta o objectivo da estabilidade e prosperidade a
longo prazo, nomeadamente nos domnios da transi-
o econmica, do desenvolvimento econmico e sus-
tentvel e da cooperao regional e transfronteiria.
os meios de a promover e disseminar. Traduz a ten-
tativa deliberada de persuadir as pessoas, de forma
individual ou em grupo, a aceitar uma definio par-
ticular da situao manipulando factores no-racio-
nais seleccionados na sua personalidade ou ambiente
social, sendo o efeito da resultante uma tentativa de
mudar e moldar o seu comportamento numa direc-
o desejada. Propaganda , ento, informao dis-
seminada numa tentativa deliberada de formar opi-
nies e, possivelmente, estimular aco poltica.
Ideias, factos ou alegaes so difundidas para apoiar
uma causa ou denegrir uma causa oponente. A pro-
paganda comunicao como manipulao. A tec-
nologia tem sido de grande assistncia ao propa-
gandista. O desenvolvimento dos meios de comuni-
cao social permitiu o maior alcance da propaganda,
abrangendo um maior nmero de populaes. A pro-
paganda ser mais efectiva se o propagandista for a
principal fonte de informao, e se a populao a
quem se dirige partilha, pelo menos em parte, das
atitudes do propagandista. O uso intensivo de pro-
paganda na Alemanha de Hitler um exemplo do
modo encontrado para glorificar uma nao e raa
superiores e retractar Adolf Hitler como salvador
messinico.
PROTECCIONISMO
Poltica econmica de interveno nas condies do
comrcio internacional atravs da qual os Estados
favorecem os produtos e os factores nacionais, ou
alguns deles, na concorrncia com os estrangeiros.
Tem antecedentes no mercantilismo quando, para a
obteno de balanas de comrcio favorveis, eram
adoptadas medidas proteccionistas de vrios tipos.
As teses proteccionistas apareceram nos sculos
XVII e XVIII. Em 1841, Friedricht List, fundador da
Escola Proteccionista, introduziu na economia duas
ideias novas: o fim da poltica comercial no devia
ser apenas o enriquecimento da nao, mas o de criar
indstrias; as foras produtivas tinham o poder de
criar riquezas, e tal poder mais importante do que
a prpria riqueza. Para List, a indstria era uma fora
social criadora de capital e de trabalho individual.
Como formas de proteccionismo, podemos dis-
tinguir o proteccionismo ofensivo, que procura
constituir plos de crescimento baseados em gran-
des unidades econmicas de produo com forte valor
acrescentado; e o proteccionismo defensivo, que se
destina a permitir a sobrevivncia de indstrias pouco
competitivas e que, consoante o meio utilizado, se
subtraem presso da concorrncia internacional.
Quanto aos objectivos, pode distinguir-se o pro-
teccionismo oramental, quando se utilizam eleva-
dos direitos aduaneiros para financiar o oramento
do Estado, face precaridade do sistema fiscal interno
(caso dos pases em vias de desenvolvimento); e o
proteccionismo de recursos, que consiste em
incentivar as produes, dentro do vasto leque de
recursos naturais dos pases em vias de desenvolvi-
mento, utilizando, para alm dos direitos aduanei-
ros, tcnicas de incentivo s exportaes.
PROGRESSO TCNICO 151
reforar os laos que mantm com estes pases, con-
tribuindo para o seu desenvolvimento.
As principais prioridades de financiamento do
TACIS, comuns a todos os pases parceiros so: a
reforma da administrao pblica; a reestruturao
das empresas pblicas; o desenvolvimento do sector
privado; a criao de um sistema eficaz de produo,
industrializao e distribuio de alimentos; o
desenvolvimento das infra-estruturas de transportes,
telecomunicaes e energia, a segurana nuclear; a
defesa do ambiente, etc.
PROGRESSO TCNICO
Processo de evoluo dos mtodos de produo deter-
minado pelo nmero e pela natureza das novas inven-
es. Estas podem referir-se a novos produtos, novos
factores ou modificao da produtividade.
PROLIFERAO (ARMAMENTO)
Literalmente significando difuso, um processo
entre actores das Relaes Internacionais associado
a armas de destruio macia e tecnologias bals-
ticas. Como objectivo poltico, a preveno ou tra-
vagem da proliferao geralmente designada como
no-proliferao. Tradicionalmente, a dinmica do
processo tem-se concentrado em armas nucleares,
mas a difuso do armamento qumico e biolgico
alargou a agenda, em particular aps a guerra do
Golfo. Como processo, a proliferao dirigida tec-
nologicamente, mas inspirada politicamente, e os
esforos que visam travar ou reverter a proliferao
tendem a concentrar-se na criao de regimes em
torno de normas e procedimentos acordados.
PROMESSA
Acto jurdico unilateral dos Estados que visa a cria-
o de direitos cujo exerccio apenas ocorrer no
futuro.
Toda a aco desenvolvida por um Estado contra
outro Estado em razo de um prejuzo causado pes-
soa ou aos bens de um nacional do primeiro Estado,
por um acto ou omisso internacionalmente ilcito
e imputvel ao segundo Estado.
Para que um Estado exera a proteco diplomtica
em relao a um particular seu, dever demonstrar
o lao da nacionalidade (que deve ser efectivo e deve
ocorrer tanto no momento da ocorrncia do facto il-
cito como do desencadeamento do procedimento) e
ainda que foram previamente esgotados os meios de
recurso interno, ou seja, que foi razoavelmente ten-
tado obter sem efeito o ressarcimento do prejuzo
segundo os meios disponibilizados pela ordem
interna do Estado autor do ilcito.
PROPAGANDA
A propaganda um instrumento de poltica, poten-
cialmente disponvel para qualquer actor que tenha
PROTECTORADO 152
PROTECTORADO
Estado protegido
PROTESTO
Acto jurdico unilateral atravs do qual um Estado
reserva os seus prprios direitos face s reivindicaes
de um outro Estado ou em relao a um costume em
formao. Tambm pode definir-se como a recusa do
reconhecimento da legitimidade de uma pretenso
de um Estado ou de uma situao de facto ou de direito.
Constitui a verso negativa do reconhecimento.
PROTOCOLO
Designao frequentemente utilizada para referir
diversos tipos de documentos convencionais. Assim,
desde logo, os protocolos anexos, que so convenes
que desenvolvem autonomamente o regime de outras
convenes, surgindo com frequncia anexadas a
estas ou meros instrumentos subsidirios que com-
pletam uma conveno incidindo sobre questes
secundrias (interpretao, aspectos tcnicos, etc.).
Nestes casos, a vinculao conveno implica, de
forma implcita, a vinculao aos protocolos anexos.
H tambm protocolos facultativos que so instru-
mentos que estipulam direitos e obrigaes extras a
um regime convencional. Nesta situao, a vincula-
o a este regime facultativa pelo que no decorre
da vinculao conveno qual o protocolo se
refere. So tambm frequentes os protocolos no
mbito de convenes quadro, que designam ins-
trumentos estipulando obrigaes que concretizam
objectivos gerais de convenes quadro previa-
mente acordadas. O objectivo , nesta situao, fun-
damentalmente o de acelerar o processo de conclu-
so das convenes. De referir ainda os protocolos
de emenda ou modificao, que se referem a instru-
mentos que contm disposies modificativas de uma
ou mais convenes anteriormente concludas, e os
protocolos suplementares, instrumentos contendo
disposies que completam uma conveno anterior.
Existem tambm actas ou protocolos de acordo que
se referem a instrumentos que registam acordos even-
tuais a que as partes tenham chegado no mbito de
uma conveno e os protocolos provisrios que desig-
nam instrumentos ou memorandos formulados e
assinados pelos plenipotencirios consistindo num
entendimento sobre os pontos bsicos ou essenciais
para uma conveno definitiva.
PROTOCOLO DE COMUNICAO
Um conjunto de regras que definem a forma como
a informao transmitida em computador. Os pro-
tocolos de comunicao so definidos e mantidos
por organizaes internacionais de normalizao.
S usando o mesmo protocolo que possvel aos
computadores comunicarem entre si, como o caso
da Internet em que foi adoptado o protocolo TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Nestes termos, estes contratos de investimento
os quase-tratados j no se situam exclusivamente
ao abrigo do Direito Interno, tendo sido objecto de
um processo de internacionalizao. No parece, toda-
via, que devam ou possam considerar-se tratados.
O mesmo acontece com os acordos entre sujeitos
de Direito Internacional e as chamadas ONG ou
qualquer outro tipo de associaes de direito privado.
A valorizao internacional destes sujeitos (recorde-
-se que as ONG, em certas circunstncias, podem
ser registadas junto do Conselho Econmico e
Social das Naes Unidas), mesmo quando permita
a sua eventual qualificao como sujeitos do Direito
Internacional (com capacidade derivada, funcio-
nal e relativa), no engloba em termos gerais a
capacidade para celebrarem convenes interna-
cionais.
QUASE-TRATADO
O termo quase-tratado refere-se aos acordos (contra-
tos) entre Estados e pessoas colectivas privadas
estrangeiras.
Tradicionalmente considerava-se que estes con-
tratos estavam abrangidos pelo Direito Administra-
tivo (equiparando-os, portanto, aos contratos cele-
brados entre as pessoas colectivas de Direito Pblico
e os nacionais pessoas individuais ou colectivas).
A situao viria a sofrer, todavia, alguma evoluo
aps a Segunda Guerra Mundial. Desde logo, porque
a imunidade de soberania (invocada pelos Estados na
matria), comeou a ser progressivamente posta em
causa, e por outro lado, comearam a ser cada vez
mais sentidas como insuficientes as garantias dadas
aos privados pelas ordens jurdicas nacionais. A situa-
o que despoletou essa evoluo foi a dos contra-
tos de investimento internacional, muito frequentes
com o desenvolvimento das relaes econmicas
internacionais, no ps-guerra. Estes contratos envol-
vemnormalmente empresas multinacionais que efec-
tuam investimentos avultados e que viram, em mui-
tas situaes, os seus interesses ameaados por actos
de nacionalizao dos seus bens, sem garantias de
uma justa reparao. Depressa os riscos de nacio-
nalizao levaram a que essas empresas se absti-
vessem de efectuar tais investimentos, com grande
prejuzo para os pases menos desenvolvidos, cujas
economias debilitadas se mostravam necessitadas
dos afluxos de capitais e das transferncias de tecno-
logia decorrentes desses investimentos. Da que tenha
surgido, sob os auspcios do Banco Internacional
de Reconstruo e Desenvolvimento, a Conveno de
Washington de 1965 ou Conveno para a Resoluo
dos Diferendos Relativos aos Investimentos. A ade-
so a esta pela esmagadora maioria dos Estados (mais
de 130, actualmente) garante aos investidores um
regime de proteco internacional especfico que
afasta a possibilidade de nacionalizao, ou outra
medida abusiva, levada a cabo pelas autoridades
nacionais, j que, em caso de litgio, intervir uma
entidade arbitral (International Centre for Settlement
of Investment Disputes) que decidir por aplicao
de regras internacionais. Na sequncia deste instru-
mento, outros surgiriam nomeadamente no quadro
actual do GATT/OMC, protegendo, por via conven-
cional internacional, os investimentos internacionais.
Q
nos sistemas de preferncias dos actores, tendem a
produzir discordncias entre os objectivos procura-
dos e os resultados obtidos.
Em economia, a racionalidade dos agentes eco-
nmicos significa que, qualquer que seja a situao
em que se encontram, procuram ficar sempre
melhor. assim que se fala da maximizao da uti-
lidade do consumidor, maximizao do lucro do pro-
dutor, e maximizao do bem-estar de uma nao.
RACIONALIZAO
Conceito usado por Max Weber referente ao processo
pelo qual modos precisos de clculo e organizao
que implicam regras e procedimentos abstractos
dominam a vida social.
RACISMO
Atribuio de caractersticas de superioridade ou infe-
rioridade a uma populao que partilha certas carac-
tersticas fsicas hereditrias. O racismo uma forma
especfica de preconceito atenta s diferenas fsicas
entre as pessoas. As atitudes racistas difundiram-se
sobretudo durante o perodo da expanso colonial
ocidental, mas aparentemente tm por base meca-
nismos de preconceito e discriminao caractersti-
cos de vrios contextos das sociedade humanas.
RATIFICAO
Acto internacional atravs do qual um Estado (nor-
malmente atravs do chefe de Estado) indica o seu
consentimento a ficar vinculado por uma conveno
que previamente assinou.
A ratificao sempre um acto livre (no vincu-
lado, resultando portanto de uma apreciao poltica
feita pelo seu autor).
Quando as partes so organizaes internacionais,
o acto normalmente designado por acto formal
de confirmao.
RATIFICAO IMPERFEITA
O termo utilizado para designar as irregularidades
formais que ocorrem no processo de vinculao dos
Estados s convenes internacionais.
RACIONALIDADE
A noo de racionalidade, em sentido cognitivo, pode
aplicar-se produo de saberes, de enunciados expli-
cativos ou de teorias que so coerentes com as cons-
trues cientficas, com os cnones ou o esprito
cientfico de uma poca. A racionalidade, em opo-
sio irracionalidade, pode constituir um critrio
para qualificar determinados saberes, crenas, mitos
e ideologias das sociedades tradicionais e modernas.
Quando se trata de factos humanos, a racionalidade
e a irracionalidade aparecem quer ao nvel do com-
portamento dos actores, quer ao nvel das explica-
es que um observador, seja um socilogo, um psi-
clogo ou um historiador, prope. Pode mesmo expli-
car-se racionalmente aquilo que ao nvel do com-
portamento tido como irracional.
A acepo da noo de racionalidade que se aplica
aco foi abordada por Max Weber (1921). Weber
prope uma distino, tornada clssica, entre a racio-
nalidade por relao a um fim ou racionalidade teleol-
gica e a racionalidade por relao aos valores. Enquanto
a primeira se refere utilizao dos meios adequados
aos fins em vista, sendo comum na aco econmica
(os anglo-saxnicos falam de racionalidade utilitria:
rational choice), a segunda, que consiste na orienta-
o da aco segundo valores, logo numa racionali-
dade axiolgica, supe que o actor age de acordo com
a ideia do que moralmente aceitvel (tica de con-
vico). Assim sendo, as aces orientadas por nor-
mas so, tal como as aces teleolgicas ou finalis-
tas, susceptveis de uma interpretao racional. Em
A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo (1904-
-1905), Max Weber defende que o sistema econmico
capitalista moderno no mundo ocidental est ligado
ao avano do racionalismo ( organizao racional
do trabalho e da produo). Considerando que a racio-
nalidade constitui o aspecto caracterstico da socie-
dade moderna (na Economia, no Direito, na Filosofia,
na Poltica, etc.), Weber preocupa-se com a racio-
nalizao e a burocratizao da sociedade.
A acepo praxeolgica da racionalidade torna-se
mais complexa com a teoria dos jogos, que contem-
pla, por exemplo, certas situaes de deciso sob con-
dies de incerteza. Estudos sociolgicos e de teo-
ria poltica demonstraram igualmente que certas
situaes de deciso, que no sendo individuais esto
sob condies de interaco marcadas por oposies
R
RECESSO
Causa de cessao da vigncia das convenes
multilaterais produzindo efeitos apenas em relao
a uma das partes.
O recesso consiste na desvinculao por uma das
partes do regime convencional, o que em regra no
afectar a manuteno da mesma (em relao s
outras partes).
RECIPROCIDADE
Significa a necessidade de reconhecimento mtuo e
obrigao recproca dos actores no sistema interna-
cional. A base de todas as Relaes Internacionais gira
em torno da noo de reciprocidade. O conceito de
soberania no pode ter qualquer significado, a no
ser que implique uma obrigao recproca de todos
os Estados de respeitarem a soberania e integridade
territorial de cada um. Se esta norma fundamental
no existisse, a organizao do mundo seria bastante
diferente. Talvez fosse um imprio universal ou um
mundo composto por multides de cidades-Estado.
Em qualquer caso, a humanidade escolheu neste
estdio da histria organizar-se na base de Estados
distintos. E para um sistema estadual sobreviver, a
noo de reciprocidade essencial.
RECOMENDAO
Designao normalmente utilizada para designar os
actos jurdicos unilaterais das organizaes
internacionais sem carcter obrigatrio. A ausncia
deste carcter no deve todavia ser assimilada
ausncia de efeitos jurdicos. Assim, em regra, a exis-
tncia de uma recomendao produz alguns efei-
tos jurdicos, ainda que residuais. Desde logo so
importantes elementos de interpretao de outros
actos. Por outro lado, o cumprimento de recomen-
daes nunca acarreta responsabilidade internacio-
nal. E, em geral, o respeito por estas constitui um
elemento essencial para a realizao dos fins con-
vencionais.
RECONHECIMENTO
Acto jurdico unilateral atravs do qual um Estado
ou outro sujeito, constata e aceita a existncia de fac-
tos ou actos jurdicos (situaes de facto, situaes
novas, regras jurdicas, entidades polticas, etc.) e
admite que estes lhe so oponveis. Tem como inverso,
o protesto.
Uma vez que, no plano internacional, os litgios s
excepcionalmente so resolvidos por interveno
judicial, a soluo dos diferendos faz-se atravs dos
sujeitos envolvidos, pelo que a sua determinao (por
via do reconhecimento) surge como uma exigncia
ou condio prvia de resoluo das controvrsias.
Aqui assenta a importncia do reconhecimento no
quadro do funcionamento da vida internacional.
O reconhecimento do Estado tem efeitos mera-
mente declarativos, uma vez que o Estado surge com
REALISMO 156
Trata-se de um termo equvoco j que a designa-
o com facilidade permite pensar-se que no possa
ocorrer nos acordos em forma simplificada (por nes-
tes no haver ratificao). Ora tal concluso seria
incorrecta j que o regime diz respeito a qualquer
irregularidade formal em qualquer tipo de conveno.
O regime internacional na matria vai no sentido
de no reconhecer as irregularidades formais como
sendo susceptveis de afectar a vinculao (de gera-
rem uma nulidade, portanto), excepto em cir-
cunstncias extraordinrias (se a irregularidade
manifesta e se diz respeito a uma norma de impor-
tncia fundamental).
REALISMO
No final da Segunda Guerra Mundial impunha-se
uma nova abordagem das Relaes Internacionais,
mais prxima dos factos e como reaco ao Idea-
lismo. Assim, surge o realismo, que atribui
Segunda Guerra Mundial a ingenuidade da diplo-
macia de apaziguamento que prevaleceu no decurso
do perodo entre as duas guerras. Para o realismo, o
Estado o nico actor do sistema internacional;
um actor unitrio; racional; e a segurana nacional
ocupa o topo da hierarquia dos assuntos interna-
cionais.
Hans J. Morgenthau, considerado o pai do rea-
lismo poltico, desenvolveu os seus princpios-chave
na obra Politics Among Nations: the Struggle for
Power and Peace (1948), a saber: a poltica, tal como
a sociedade em geral, governada por leis objecti-
vas que tm as suas razes na natureza humana; o
conceito de interesse nacional definido em termos
de poder, sendo o poder tudo aquilo que estabelece
e mantm o controlo do homem sobre o homem; o
interesse nacional definido em termos de poder
uma categoria objectiva e universalmente vlida, mas
no se lhe atribui um significado fixado definitiva-
mente; os princpios morais universais no podem
ser aplicados s aces dos Estados, na sua formu-
lao abstracta e universal, mas devem ser conside-
rados em funo das circunstncias concretas de
tempo e de lugar; as aspiraes morais de uma dada
nao no se identificam com as leis morais que
regem o universo; e a autonomia da esfera poltica.
Para Morgenthau, segundo Philippe Braillard, o
realismo o poder e, mais precisamente, a procura
do poder, que o fundamento de toda a relao pol-
tica e que constitui, assim, o conceito chave de toda
a teoria poltica. Esta procura do poder est inscrita
profundamente na natureza humana onde tem a sua
origem, natureza que no essencialmente boa, j
que ela confere a todos os homens um ardente desejo
de poder ou animus dominandi, e os faz, com fre-
quncia, agir como uma ave de rapina. No que res-
peita particularmente poltica internacional, a aspi-
rao ao poder por parte das diversas naes, cada
uma procurando manter ou modificar o status quo,
conduz, necessariamente, a uma configurao que
chamamos de balana de poder e a polticas que
visam conservar esse equilbrio.
-lhes ou no personalidade internacional. Nestes ter-
mos, o reconhecimento limita-se a constatar essa
situao.
Em todo o caso, o reconhecimento das organiza-
es internacionais tem uma importncia menos sig-
nificativa do que eventualmente qualquer outro
sujeito de Direito Internacional, j que, por um lado,
a actividade destas tende a dirigir-se s partes, e por
outro, as relaes com estas podem sempre em
maior ou menor medida ser conduzidas atravs dos
seus Estados-membros.
O reconhecimento dos restantes sujeitos tem
carcter constitutivo, na medida em que no existem
regras de cuja aplicao o mesmo possa retirar-se e
bem assim porque, na prtica, o reconhecimento
implica a disponibilidade de outro(s) sujeito(s) para
estabelecer relaes no quadro legal internacional.
Ora sem esta disponibilidade, de nada valeria a per-
sonalidade internacional, ao mesmo tempo que
quaisquer relaes que venham a ser estabelecidas
devem enquadrar-se no Direito Internacional.
REFERENDO
Votao feita pelos eleitores sobre um determinado
tema. Forma substitutiva para uns, de complemento
para outros, da democracia representativa, o refe-
rendo , no dizer de Gomes Canotilho, democracia
semidirecta.
Em Portugal, o referendo passou a estar previsto
na Constituio a partir da reviso constitucional de
1989. A deciso para a sua convocao compete ao
Presidente da Repblica, mas a proposta para a sua
realizao pode partir da iniciativa dos cidados, da
Assembleia da Repblica ou do governo. A Constitui-
o Portuguesa define quais as matrias que podem
ser objecto de referendo, estipulando ainda os termos
em que os seus efeitos so vinculativos, ao referir no
n. 11, do artigo 115., que o referendo s tem efeito
vinculativo quando o nmero de votantes for superior
a metade dos eleitores inscritos no recenseamento.
REFUGIADO
O Estatuto do Alto Comissariado das Naes Unidas
para os Refugiados (ACNUR) de 1950 e a Conveno
de Genebra sobre o Estatuto de Refugiado de 1951
propem uma rica e precisa definio do conceito de
refugiado, hoje em dia clssica da jurisprudncia
internacional. Convm, todavia, realar que a elegi-
bilidade do estatuto de refugiado, nos termos da
Conveno de Genebra, aplica-se ao Estado contra-
tante e que a elegibilidade, nos termos do estatuto,
pertence ao ACNUR, a quem cabe interpretar o man-
dato acordado organizao pela Assembleia Geral.
De acordo com a Conveno de 1951, o termo refu-
giado aplica-se a qualquer pessoa que em conse-
quncia de acontecimentos ocorridos antes de 1 de
Janeiro de 1951, e receando com razo ser perseguida
em virtude da sua raa, religio, nacionalidade, filia-
o em certo grupo social ou das suas opinies pol-
ticas, se encontre fora do pas de que tem a nacio-
REFERENDO 157
a reunio dos trs elementos constitutivos (povo, ter-
ritrio, poder poltico soberano). Apesar disso, o reco-
nhecimento constitui um importante elemento de
consolidao da situao de facto em situao jur-
dica, j que os Estados apenas podem exercer efec-
tiva e plenamente as suas competncias atravs do
relacionamento com outros sujeitos (e em especial,
outros Estados).
A frequente interferncia dos Estados no processo,
recusando, condicionando ou atrasando o reconhe-
cimento, mesmo aps a constatao de facto da reu-
nio dos elementos constitutivos, justifica-se pelo
facto de todo o aparecimento, transformao e desa-
parecimento de Estados constituir uma afectao
grave do funcionamento da comunidade interna-
cional.
Trata-se, portanto, de um acto discricionrio
(com tendncia para a centralizao), tem efeitos
retroactivos e no est sujeito a formalidades espe-
ciais.
Tradicionalmente expresso e bilateral, vem sendo
progressivamente substitudo pela admisso na
Assembleia Geral da ONU. Esta supe uma reco-
mendao do Conselho de Segurana (que inclui,
portanto, o assentimento das potncias enquanto
membros permanentes) e a aprovao por uma maio-
ria dos Estados na dita Assembleia, pelo que uma vez
obtida, a aceitao pela comunidade internacional
se torna evidente, deixando-se para o plano bilate-
ral a determinao do nvel de relaes (diplomticas,
consulares, comerciais, etc.). O reconhecimento de
governo no se dirige propriamente a um sujeito de
Direito Internacional, mas apenas determinao da
entidade representativa em termos internacionais do
sujeito (o Estado). Apenas se justifica o reconheci-
mento de governo quando haja quebras constitu-
cionais (por exemplo, golpes de estado) ou quando
o governo em funes veja o exerccio das suas
funes seriamente ameaado. Nestas situaes,
perante a existncia de dvidas sobre qual a entidade
representativa, os sujeitos de Direito Internacional
maxime os Estados indicam aquela que enten-
dem cumprir os requisitos exigveis, com excluso
das restantes.
O reconhecimento de governo no exlio uma
figura que ocorre apenas nas situaes em que o
territrio do Estado esteja ocupado por uma potn-
cia estrangeira, consistindo ento em reconhecer que
um determinado grupo mantm a representatividade
do Estado e dever reassumir a titularidade dos
rgos de poder assim que o territrio seja libertado.
Nestes termos, o reconhecimento de governo no
exlio evita a consolidao da ocupao (j que
tem implcita a recusa do reconhecimento da legi-
timidade da mesma), e principalmente permite mini-
mizar as dificuldades resultantes da ausncia de auto-
ridade logo aps o abandono do territrio pelas for-
as ocupantes.
O reconhecimento de organizaes internacionais
parece dever considerar-se como sendo meramente
declarativo, embora no seja pacfico na doutrina. Na
verdade, as organizaes internacionais surgem de
convenes internacionais, as quais podem atribuir-
priedade), pas (sistema socialista regime sovitico)
ou a uma poca (sistema capital regime da inds-
tria inglesa de princpios do sculo XIX).
REGIME POLTICO E SISTEMA
POLTICO
Apesar de na tradio anglosaxnica regime pol-
tico e sistema poltico serem conceitos usados de
forma indiferenciada, o conceito de sistema pol-
tico mais abrangente e mais terico do que o de
regime.
O sistema poltico consiste no conjunto de inter-
aces atravs das quais se afirma o poder na socie-
dade. Refere-se no s aos mecanismos de governo
(processos institucionais atravs dos quais decises
de carcter colectivo so tomadas) e s instituies
do Estado, mas tambm s estruturas e proces-
sos atravs dos quais estes interagem com a socie-
dade em geral. Enquanto o sistema poltico diz
respeito ao conjunto dos elementos de um todo e
sua interaco, o regime poltico exprime o modo
como esse todo se forma e funciona, ou seja, cor-
responde forma de poder, traduzida por exemplo
em regimes de tipo democrtico, ps-comunista ou
militar.
REGIONALIZAO
A noo de regionalismo econmico pode ser dada
como a vontade poltica dos governos no sentido
de favorecer o desenvolvimento de elos econmicos
internacionais com os pases geograficamente vizi-
nhos.
No plano de jure, a regionalizao tanto pode
tomar a forma de zonas de comrcio livre, unies
aduaneiras ou outro qualquer acordo de comrcio
preferencial. Na base da institucionalizao da
regionalizao esto foras polticas enquadradas nos
poderes do Estado, que visam diminuir obstculos
intraregionais circulao de mercadorias, servios,
capitais e pessoas.
No plano de facto, a regionalizao vista como
um fenmeno econmico resultante das mesmas for-
as microeconmicas que aparecem na globalizao,
com o objectivo de impelir a rea na via do cresci-
mento, estimulando os investimentos e as trocas com
pases terceiros.
Sendo um fenmeno centrpeto, de carcter pol-
tico, a regionalizao visa reforar a colectividade
e a soberania dos participantes face ao resto do
mundo.
REGISTO E PUBLICAO
As convenes internacionais so obrigatoria-
mente objecto de registo e publicao nos termos
da Carta das Naes Unidas. O registo visa garan-
tir a transparncia relativamente aos vnculos con-
vencionais.
REGIME 158
nalidade e no possa, ou em virtude daquele receio,
no queira pedir a proteco daquele pas; ou que,
se no tiver nacionalidade e estiver fora do pas no
qual tinha a sua residncia habitual aps aqueles
acontecimentos, no possa, ou, em virtude do dito
receio, a ele no queira voltar.
Considera-se, assim, refugiado, todo aquele que
preencha os critrios enunciados na respectiva defi-
nio, nomeadamente, encontrar-se fora do pas de
origem; ou, ter um receio fundado de perseguio por
razes de raa, religio, nacionalidade, pertena a
certo grupo social ou opinies polticas. Esta situa-
o ter, necessariamente, lugar antes do estatuto de
refugiado ser formalmente reconhecido ao interes-
sado. Por conseguinte, a determinao do estatuto
de refugiado no tem como efeito atribuir-lhe a qua-
lidade de refugiado, mas constatar essa qualidade.
Uma pessoa no se torna refugiado por que reco-
nhecida como tal, mas reconhecida como tal por-
que um refugiado.
Qualquer que seja a gravidade dos motivos invo-
cados pelo requerente de asilo, este no ser reco-
nhecido como refugiado, segundo a Conveno de
Genebra, caso as circunstncias que motivem o pedido
no estejam em conexo com os critrios enuncia-
dos, de forma exaustiva, na definio.
Ainda de acordo com tal Conveno, h dois gru-
pos de refugiados: os refugiados estatutrios as pes-
soas a quem concedido o estatuto de refugiado em
virtude de um instrumento internacional, anterior
Conveno de Genebra, aos quais se aplica e os refu-
giados denominados convencionais pessoas que se
tornam refugiadas nos termos da Conveno de
Genebra, por recearem, com razo, serem perse-
guidas por motivos de raa, religio, nacionalidade,
pertena a certo grupo social, ou em virtude das suas
opinies polticas.
REGIME
Nas Relaes Internacionais, o termo define um con-
junto de princpios, normas, regras e procedimen-
tos acordados numa determinada altura, de forma
voluntria, e em torno do qual as expectativas dos
actores convergem.
Os regimes internacionais surgem como comple-
mento necessrio cooperao formal existente
no seio das organizaes internacionais, tradu-
zindo um compromisso de colaborao nas mais
diversas reas, incluindo as telecomunicaes, o
controlo do trfego areo ou aspectos monetrios e
comerciais.
Conjunto de bens e relaes humanas nas quais se
articula uma certa actividade econmica ou jurdica.
Por exemplo, quando se fala em regime agrrio, refe-
rimo-nos ao conjunto das leis, usos, costumes, con-
dies ambientais, tecnologia, produo e vnculo
jurdico, na base do qual se desenvolve a actividade
agrcola.
Em sentido mais estrito e mais concreto do que o
de sistema, designando as aplicaes de um certo sis-
tema a um domnio (sistema capital regime de pro-
Na perspectiva do referido autor, a ideia de uma
solidariedade da comunidade dos homens e dos
Estados acabaria por transformar as Relaes
Internacionais, levando inveno de instituies
colectivas permanentes (as organizaes interna-
cionais), com objectivos de cooperao, e at mesmo
de unificao, no seio da sociedade internacional.
O estudo das Relaes Internacionais conheceu, no
decorrer das ltimas dcadas, um rpido desenvol-
vimento, marcado, por um lado, por um aumento
quase exponencial das anlises e das pesquisas e, por
outro lado, por importantes transformaes. Assim,
as Relaes Internacionais adquiriram uma auto-
nomia enquanto campo de estudo, ainda que, at l,
a sua anlise no se tenha desenvolvido mais do que
como um objecto subsidirio, margem da reflexo
sobre o Estado e a sociedade. Este processo concre-
tizou-se pela criao, desde o final da Primeira Guerra
Mundial, de instituies de ensino e de pesquisa, con-
sagradas s Relaes Internacionais, bem como de
numerosas publicaes peridicas especializadas.
Inicialmente limitado aos EUA e Gr-Bretanha, este
fenmeno estendeu-se progressivamente, a seguir
Segunda Guerra Mundial, ao conjunto da Europa
ocidental, URSS e mesmo a alguns pases do
Terceiro Mundo.
Esta evoluo do estudo das Relaes Internacio-
nais , em parte, a consequncia da importncia que
a poltica internacional passou a adquirir ao longo
deste sculo, especialmente as profundas repercus-
ses que tiveram os dois conflitos mundiais sobre o
conjunto da sociedade internacional.
Por outro lado, ela ter sido fortemente estimu-
lada pelo rpido desenvolvimento das cincias
sociais, cujo investimento neste campo de estudo ter
conduzido sua transformao.
Enquanto que, tradicionalmente, o estudo das
Relaes Internacionais dependia da Histria, da
Histria Diplomtica, da Filosofia Poltica e do
Direito Internacional, assim como da Economia,
numerosas outras disciplinas, tais como a Sociologia,
a Psicologia, a Antropologia, a Etnologia entraram
neste domnio, conduzindo a uma descentralizao
e a um enriquecimento das Relaes Internacionais,
bem como ao recurso a novos mtodos e tcnicas de
anlise, e at mesmo elaborao de numerosos
modelos explicativos e teorias. Esta evoluo con-
duziu os estudiosos a reivindicar, para o estudo das
Relaes Internacionais, um verdadeiro estatuto
cientfico.
Sob a influncia combinada das cincias sociais e
das profundas alteraes da vida internacional (mul-
tilateralizao da diplomacia, desenvolvimento de
novos sistemas de armamento, descolonizao, uni-
versalizao do modelo do Estado-nao, mundiali-
zao do campo diplomtico-estratgico, bem como
dos mercados econmicos e financeiros, reforo das
interdependncias, desenvolvimento dos meios de
comunicao, globalizao dos problemas ecolgi-
cos e amplificao dos fluxos migratrios), o estudo
das Relaes Internacionais abriu-se a novas dimen-
ses, tais como os fenmenos das organizaes inter-
nacionais, os processos de integrao regional, a
REGULAO PACFICA DE CONFLITOS 159
REGULAO PACFICA DE CONFLITOS
Resoluo pacfica de conflitos
RELAES INTERNACIONAIS
As Relaes Internacionais, como escreveu Philippe
Braillard, so tradicionalmente consideradas como
um conjunto de ligaes, de relaes e de contac-
tos que se estabelecem entre os Estados, muito par-
ticularmente no mbito da sua poltica externa.
Esta concepo tem certamente em considerao
as diversas formas e as dimenses que podem assu-
mir aquelas relaes conflito e cooperao, quer seja
no plano poltico, econmico, estratgico, cultural, etc.
Todavia, apesar do Estado conservar ainda hoje um
papel central na vida internacional, ser ilusrio
reduzir esta ltima exclusivamente s relaes inte-
restatais, muito particularmente numa poca onde
numerosos processos econmicos e culturais esca-
pam, pelo menos em parte, ao controlo dos governos.
Consequentemente, impe-se actualmente uma
viso alargada e global das Relaes Internacionais,
tendo em conta o conjunto de fenmenos interna-
cionais como campo de investigao, mesmo reco-
nhecendo que a prpria existncia dos Estados e,
por conseguinte, das fronteiras que conferem a sua
especificidade dimenso internacional das relaes
sociais.
Deste modo, as Relaes Internacionais podem ser
definidas como o conjunto das relaes e comunica-
es que se estabelecem entre vrios grupos sociais,
atravessando as fronteiras.
De acordo com Max Gounelle, as Relaes Inter-
nacionais definem-se como as relaes e os fluxos
sociais de toda a natureza, que atravessam as fron-
teiras, escapando deste modo ao domnio de um
nico poder estatal. Segundo o autor, um crit-
rio de localizao poltica que permite determinar se,
em presena de uma dada relao social, ela pertence
ou no ao campo das Relaes Internacionais.
Relativamente questo do objecto das Relaes
Internacionais, o referido autor afirma que todos os
domnios da vida social so susceptveis de depen-
der da cincia das Relaes Internacionais.
Para Max Gounelle, durante muito tempo, as Rela-
es Internacionais mais no foram que relaes de
vizinhana. Nessa poca, o prncipe, o soldado e o
diplomata eram figuras emblemticas. No entanto,
essas relaes acabariam por se intensificar e diver-
sificar, passando de meras relaes espordicas a rela-
es com carcter permanente (podendo datar-se o
aparecimento das embaixadas permanentes no sculo
XVI).
As Relaes Internacionais levadas a cabo pelos
prncipes e pelos Estados foram, durante muito
tempo, quase exclusivamente motivadas por preo-
cupaes de segurana: segurana das fronteiras, dos
abastecimentos, dos mercados, dos sujeitos e, mais
tarde, dos cidados, no estrangeiro.
Todavia, desde o final do sculo XIX as preocupa-
es de segurana deixaram de ser as nicas a cons-
tituir a trama das Relaes Internacionais.
da Cincia Poltica. Contudo, segundo Colard, os poli-
tlogos dividem-se em duas escolas, ou seja, para uns
a politologia a cincia do Estado, para outros ela
a cincia do poder. Para este autor, necessrio dis-
tinguir Cincia Poltica interna de Cincia Poltica
externa. A primeira dir respeito ao estudo dos pro-
blemas nacionais, a segunda respeitar aos proble-
mas internacionais.
Tambm para ele, o que se altera o campo geo-
grfico, uma vez que, o objecto e os mtodos so
idnticos, tanto mais que existe uma interaco cons-
tante entre os fenmenos internos e os externos.
Em suma, e para simplificar, como assume Daniel
Colard, dir-se- que o estudo das Relaes Interna-
cionais engloba as relaes pacficas ou belicosas
entre os Estados, o papel das organizaes interna-
cionais, a influncia das foras transnacionais, bem
como o conjunto das trocas ou actividades que ultra-
passam as fronteiras estatais.
Na acepo do referido autor, o estudo cientfico
das Relaes Internacionais consiste em examinar
positiva e globalmente os fenmenos internacionais,
em trazer luz os laos de causalidade e os factores
determinantes da sua evoluo, bem como tentar for-
mular uma teoria inteligvel.
imagem da Cincia Poltica, as Relaes Inter-
nacionais so uma cincia encruzilhada. Os fen-
menos polticos so os mais complexos que existem,
porque tratam ao mesmo tempo da trama das socie-
dades e do carcter dos indivduos. Vem entrecho-
car-se a regularidade dos fenmenos sociais e a sin-
gularidade do acaso e da sorte pessoal. Combinam o
mecanismo das foras e das paixes, mas tambm das
regras, dos costumes sociais e das culturas. Apelam
s convices, s crenas e s ideologias, mas tam-
bm s necessidades e ao peso das coisas.
Isto equivale a dizer que os fenmenos polticos
nunca podero ser completamente compreendidos,
por mais fina que possa ser a sua anlise. Que pen-
sar ento dos fenmenos internacionais que, por
natureza, ultrapassam as fronteiras de todas as socie-
dades polticas?
RELAES INTERNACIONAIS
E DIREITO INTERNACIONAL PBLICO
As relaes entre os Estados tomam por vezes a forma
de compromissos jurdicos. A sua cooperao deu
lugar ao nascimento das organizaes intergover-
namentais. A natureza e a forma destas obrigaes
esto codificadas nas normas do Direito Internacional
Pblico, que repousa muito particularmente no prin-
cpio pacta sunt servanda os acordos devem ser
respeitados.
Os laos contratuais entre os Estados, os deveres
e os procedimentos que eles impem, as instituies
que eles criam, constituem a base da poltica inter-
nacional, a qual, logicamente, se interessa pelo fun-
cionamento das Relaes Internacionais e a evolu-
o do sistema, a manuteno da paz e segurana
internacionais, os jogos planetrios e as relaes de
poder. Os juristas, ao dominarem a linguagem, os
RELAES INTERNACIONAIS E CINCIA POLTICA 160
estratgia nuclear, os problemas do desenvolvimento
scioeconmico, etc.
Tudo isto para concluir que as Relaes Interna-
cionais nunca tiveram nem tm contornos bem defi-
nidos, no sendo fcil acordar entre os especialistas,
com preciso, o seu objecto de estudo.
RELAES INTERNACIONAIS
E CINCIA POLTICA
A autonomia disciplinar das Relaes Internacionais
encontra-se profundamente ligada autonomia dis-
ciplinar da Cincia Poltica. A Cincia Poltica defi-
niu-se na base de um facto social relevante que o
poder poltico soberano capacidade de obrigar, sem
paralelo, no plano interno da sociedade, no reco-
nhecendo qualquer entidade superior no plano
externo , ao passo que as Relaes Internacionais
ganharam autonomia na base do facto social conse-
quente, isto , que a pluralidade dos poderes polti-
cos soberanos implica relaes de perfil especfico,
uma outra abordagem cientfica.
Max Gounelle considera ainda que, os fenmenos
do poder so o objecto privilegiado da cincia das
Relaes Internacionais, bem como da Cincia
Poltica, esta ltima limitada aos problemas nacio-
nais. Somente o campo geogrfico que dife-
rente, existindo um estreito lao entre a Cincia
Poltica e as Relaes Internacionais, reforado por
uma interaco permanente entre os fenmenos pol-
ticos nacionais e os fenmenos polticos interna-
cionais.
No que se refere a esta questo do objecto das Rela-
es Internacionais, importar, talvez, retirar o que
de essencial nos transmitido na obra de Pierre de
Senarclens, La Politique Internationale. A este pro-
psito, o autor assume que a definio de um objecto
de estudo sempre, em parte, arbitrria e conse-
quentemente suscita controvrsias entre os estu-
diosos. No entanto, admite, como outros autores, que
as Relaes Internacionais designam, em primeiro
lugar, a esfera das relaes entre os Estados, ou seja,
as interaces das suas polticas externas.
Na acepo do referido autor, reconhece-se tam-
bm que elas compreendem, numa perspectiva mais
alargada, todas as trocas entre sociedades nacionais,
que tenham uma dimenso poltica. De entre as
numerosas relaes transfronteirias escolhem-se,
por conveno, as que so de natureza poltica ou que
tenham efeitos polticos. esta a razo, segundo
Pierre de Senarclens, pela qual se pode igualmente
definir o objecto das Relaes Internacionais, utili-
zando o conceito de poltica internacional.
Deste modo, ser atravs da Cincia Poltica que
tero de se encontrar os quadros conceptuais e os
mtodos que permitam compreender as caracte-
rsticas das Relaes Internacionais e que possam
fornecer os meios para uma anlise sistemtica
dos principais fenmenos que marcam a sua evolu-
o.
Neste seguimento, tambm Daniel Colard, assume
que o objecto das Relaes Internacionais o mesmo
integrveis no paradigma poltico. A Economia Pol-
tica nasce do reconhecimento da irredutibilidade dos
dois paradigmas e da necessidade de os utilizar simul-
taneamente (Jean Coussy).
RELAES INTERNACIONAIS
E HISTRIA
A Histria foi durante muito tempo considerada como
a via real para o estudo das Relaes Internacionais.
O seu contributo permanece incontestvel, uma vez
que no possvel compreender as Relaes Inter-
nacionais sem conhecer a sua ancoragem histrica.
Confrontado com a anlise de um qualquer fen-
meno poltico, todos os investigadores colocam ques-
tes que mobilizam o saber histrico, como por
exemplo, saber qual o encadeamento dos aconteci-
mentos, que criam esta ou aquela configurao
diplomtica; quais as origens e razes de ser das ins-
tituies, das normas e das prticas que influenciam
o comportamento dos governos; quais as tradies
polticas que marcam a poltica externa dos Estados;
qual o meio sociocultural e o horizonte ideolgico
dos que decidem e assumem a responsabilidade ao
nvel do Estado.
Estas e outras questes, que esto na origem do
estudo das Relaes Internacionais, dizem respeito,
em primeiro lugar, Histria. Pois, para se poder
determinar as sequncias causais entre os factos con-
temporneos e explicar a dinmica de certos pro-
cessos polticos, necessrio reconstituir os seus fun-
damentos histricos.
Por outro lado, poder-se- dizer que se o futuro das
sociedades humanas se situa por definio numa tra-
jectria histrica, o sentido desta evoluo incerto.
O historiador no um profeta. O seu objecto de
estudo o passado. Ele experimenta, por vezes, a ten-
tao de esboar uma filosofia da histria, e ento
empenha-se em chamar a ateno para os fenme-
nos recorrentes, os ciclos de evoluo poltica, os
movimentos de civilizao de grande amplitude. Os
efeitos deste gnero historiogrfico so mais ou
menos perniciosos como o testemunhou a filosofia
alem do sculo XIX. A uma escala mais reduzida,
no gnero do historiador ingls Arnold Toynbee, por
exemplo, encontram-se numerosos ensaios embele-
zados de aforismos explicando o nascimento e a deca-
dncia dos imprios, ou seja, os movimentos peridi-
cos que marcam a expanso e o declnio das grandes
potncias. O historiador ingls Paul Kennedy recome-
ou este tipo de interpretao na sua obra intitulada
Ascenso e Queda das Grandes Potncias (1988).
Devemos, porm, ter em conta que as analogias
retiradas da experincia histrica so duvidosas, e as
lies da histria tm muitas vezes uma funo ideol-
gica: esto geralmente ao servio de projectos polti-
cos conservadores, uma vez que fazem das experin-
cias passadas o horizonte incontornvel do futuro.
Em suma, no se podem compreender as Relaes
Internacionais sem o recurso Histria, ainda que,
para se estudar o presente, se tenha que ser selec-
tivo quanto ao conhecimento do passado.
RELAES INTERNACIONAIS E ECONOMIA POLTICA 161
cdigos e os procedimentos do Direito Internacional,
tm por misso elaborar estes compromissos, inter-
pret-los e fornecer os argumentos para justificar a
sua violao. Uma vez que o seu saber e prtica pro-
fissional se inscreve no campo normativo, eles devem
por vocao resistir s questes relacionadas com os
fundamentos sociolgicos e polticos do Direito e das
instituies. Consequentemente, eles tm a tendncia
para sobrestimar a sua influncia sobre o curso das
Relaes Internacionais, negligenciando as foras
sociais e polticas que determinam a sua formao
e evoluo.
No perodo entre as duas Guerras Mundiais, o
estudo do Direito e das instituies internacionais
ocupou um lugar central na literatura sobre as
Relaes Internacionais, sendo extremamente fortes
as aspiraes para a paz e a esperana na Sociedade
das Naes e no novo Tribunal Permanente de Justia
Internacional. Esta perspectiva legalista, inspirada
nos ideais do presidente norte-americano Woodrow
Wilson, foi posta em causa pelo aparecimento dos fas-
cismos, pela exploso da Segunda Guerra Mundial e
ainda pelas desiluses suscitadas pelas Naes
Unidas durante a guerra fria.
Em concluso, assiste-se hoje em dia a um inte-
resse renovado pelo papel das normas e das insti-
tuies na evoluo das Relaes Internacionais.
O Direito rege cada vez mais a sociedade interna-
cional, constituindo a relao do Direito com o poder,
mais do que nunca, uma problemtica essencial do
sistema internacional.
RELAES INTERNACIONAIS
E ECONOMIA POLTICA
As Relaes Internacionais so tambm constitudas
pelas relaes econmicas entre os Estados e as socie-
dades, especialmente pelas trocas comerciais e
financeiras. Esta dimenso econmica da poltica
internacional no cessou de crescer no decorrer da
poca contempornea. Convir, por isso, ter em con-
siderao, nas Relaes Internacionais, a natureza
dos regimes econmicos dominantes, das organiza-
es que os servem e das doutrinas que os inspiram.
A teoria econmica define os quadros conceptuais
e os instrumentos de anlise que permitem apreen-
der a disparidade das taxas de crescimento entre os
Estados, contabilizar e at mesmo prever os fluxos
monetrios e financeiros, bem como a intensidade
e direco das transaces comerciais, anunciar as
recesses e o seu ciclo, explicar o papel e a estra-
tgia das empresas transnacionais e compreender
as alteraes nos modos de produo e de con-
sumo. Assim, por economia poltica internacio-
nal, tambm designada por economia poltica global
ou economia poltica mundial, entendemos o estudo
das interaces do econmico e poltico no palco
mundial.
Mas no existe economia poltica internacional se
no se colocarem em evidncia as interaces entre
os factos no integrados e no integrveis no para-
digma econmico e os factos no integrados e no
De facto, quando o professor Rivett disse, nessa
citao, eu sei, ele pretendia dizer, inmeras expe-
rincias confirmaram a hiptese de que, devido a cer-
tas condies, o emprego de uma determinada quan-
tidade de calor gua, ir convert-la em vapor, esta-
belecendo-se, deste modo, um alto grau de probabi-
lidade do que acontecer, o que me permite supor
que, de facto, acontecer e, portanto, em termos de
propsitos prticos, posso dizer eu sei. Mas nenhuma
lei cientfica oferece mais do que a probabilidade,
envolvendo, para tal, algumas aproximaes ou
excluindo algumas variveis, e nenhum nmero de
demonstraes no passado, de que duas variveis
interagindo de um certo modo, pode provar que vo
ou tero de interagir desse mesmo modo no futuro.
O problema nas cincias sociais (que poder ser inso-
lucionvel) se e como variveis importantes pode-
ro ser identificadas, e se o forem, como podero ser
especificadas com preciso adequada, bem como tes-
tar as relaes hipotticas entre elas, no sentido de
se estabelecer o grau suficiente de probabilidade, para
a aco ser baseada na hiptese.
Deste modo, o trabalho de alguns estudiosos no
campo das Relaes Internacionais (aqueles que de
facto iluminaram esta disciplina) no diferente
daquele levado a cabo pelos historiadores.
RELAES INTERNACIONAIS
E POLTICA INTERNACIONAL
Se as Relaes Internacionais contemplam os mais
diversos aspectos, econmicos, tcnicos, culturais,
etc., as relaes entre os Estados so sempre domi-
nadas pela poltica. A poltica determina o inte-
resse nacional e o bem colectivo, interessa-se pelo
funcionamento das Relaes Internacionais, pela evo-
luo do sistema, manuteno da paz e segurana
internacionais, pelos desafios planetrios e relaes
entre as potncias.
Assim sendo, o conceito de Relaes Internacionais
mais amplo que o da poltica internacional, repor-
tando-se a todas as formas de interaco polticas e
no polticas, ao passo que esta apenas se preocupa
com as relaes ou fenmenos que tm impacto ime-
diato nas relaes intergovernamentais.
RELIGIO
Conjunto de crenas que liga o homem a uma ordem
superior por intermdio de prticas rituais. As reli-
gies desempenham um importante papel nas Rela-
es Internacionais, sendo, no raras vezes, elemento
de agudos antagonismos (Pascal Boniface) ou factor
de consolidao de conflitos, como se tem visto nos
nossos dias.
RENDIMENTO
o fluxo de salrios, juros, dividendos e outras recei-
tas obtidas por um indivduo ou uma nao.
RELAES INTERNACIONAIS E HISTRIA INTERNACIONAL 162
RELAES INTERNACIONAIS
E HISTRIA INTERNACIONAL
A histria das Relaes Internacionais , antes
de mais, a histria das relaes diplomticas. Ela
insere-se, contudo, num contexto mais alargado.
O historiador francs Pierre Renouvin encara o
estudo das Relaes Internacionais atravs da an-
lise das foras profundas, evocando as mutaes eco-
nmicas e sociais, o movimento das ideias polticas,
as transformaes demogrficas e as mentalidades
colectivas, enquanto factores influenciadores da diplo-
macia.
Infelizmente, os adeptos da histria diplomtica na
Frana tiveram a tendncia de estender a sua aco
sobre todos os domnios das Relaes Internacionais,
e isso numa perspectiva que rejeitava o contributo
das cincias sociais. Este gnero historiogrfico pro-
duziu uma narrativa de acontecimentos, desprovida
de envergadura analtica, donde emergia, por vezes,
a tentao de esclarecer a evoluo do mundo con-
temporneo, pelo recurso s analogias histricas,
atravs da evocao pouco sistemtica dos facto-
res da poltica internacional. A defesa desta tradio
histrica teve, vrias vezes, o efeito de limitar o
estudo das Relaes Internacionais nas universida-
des francesas.
Com efeito, vale a pena comparar o estudo desen-
volvido pela Histria Diplomtica ou Internacional
com o estudo das Relaes Internacionais.
Os historiadores reconhecem que a sua aproxi-
mao aos problemas, que consideram interessantes,
bem como as questes e as evidncias que seleccio-
nam como sendo significativas, so extremamente
influenciadas pelo contexto social no qual esto inse-
ridos e se desenvolvem. No entanto, procuram esfor-
ar-se por apresentar, dentro das suas preocupaes,
da maneira mais objectiva possvel, o curso e a causa
dos acontecimentos no perodo ou problema que
esto a estudar. Podem ou no tentar extrair das suas
lies o que considerem apropriado, mas normal-
mente no se esforam para procurar registos e fon-
tes histricas de modo a apresentar afirmaes gerais
acerca do comportamento humano, aplicveis uni-
versalmente.
Nalguns sentidos, os acontecimentos histricos so
nicos, mas todos tm aspectos que so semelhan-
tes ou comparveis, pelo que a tarefa a de identi-
ficar as variveis recorrentes. Continua a ser impro-
vvel que uma resposta individual a uma situao
particular seja alguma vez previsvel; mas, menos
provvel ainda ser tornarem-se prognosticveis as
vrias consequncias de diferentes cursos de aces,
ou o resultado geral de uma srie de interaces.
Utilizando uma analogia usada num diferente con-
texto: eu sei que uma cafeteira de gua estar a fer-
ver a 100 graus centgrados. Tambm sei que dada a
quantidade de calor que estou a aplicar na cafeteira
ela far com que as molculas de gua se transfor-
mem em molculas de vapor. Mas, quando vejo as
molculas de gua separadas, cada uma a 100C, no
consigo, de maneira alguma, predizer qual ser a pr-
xima molcula de gua a transformar-se em vapor.
tarem (uma modificao do regime no tocante a algu-
mas partes). Com a formulao de uma reserva con-
diciona-se a vinculao (da que apenas possa ser for-
mulada aquando da assinatura da conveno ou no
acto atravs do qual se exprime o consentimento em se
vincular). O efeito prtico da reserva assim o de enxer-
tar um regime especial dentro de um regime geral
(aquilo que na Conveno de Viena de 1969 se desi-
gna impropriamente por modificar as disposies
do tratado sobre as quais incide quanto ao Estado que
a formula nas relaes com o Estado que a aceita).
A reserva no faz sentido dentro das convenes
bilaterais uma vez que entre duas partes apenas no
possvel que subsista mais do que um regime. Da
que a formulao e aceitao de uma reserva numa
conveno bilateral tenha como consequncia a alte-
rao do texto da mesma conveno.
A qualificao de uma declarao unilateral como
reserva ou declarao interpretativa determinada
pelo efeito jurdico visado, sendo que para se proce-
der distino na prtica, se deve interpretar a
declarao em causa de boa-f, segundo o sentido
comum atribudo aos termos e luz do tratado a que
ela se refere. Deve ser tida em conta tambm a inteno
do Estado ou da organizao internacional em causa,
no momento em que a declarao formulada.
Os efeitos das reservas podem ainda ser obtidos
atravs de procedimentos alternativos, tais como a
insero no tratado de clusulas restritivas que limi-
tem o seu mbito, ou a sua aplicao, ou a concluso
de um acordo nos termos de uma disposio expressa
de um tratado, atravs do qual dois ou mais Estados
ou organizaes internacionais se propem excluir
ou modificar os efeitos jurdicos de certas disposi-
es na aplicao s suas relaes mtuas.
RESOLUO
Designao genrica para os actos jurdicos unila-
terais de uma organizao internacional, englobando
os obrigatrios (deciso e sentena) e no obri-
gatrios (recomendao e parecer).
RESOLUO DE CONFLITOS
Conceito que procura analisar as causas e solues
para situaes de conflito, implicando uma redefi-
nio da relao entre as partes, com vista a alterar
a percepo de conflitualidade para um entendimento
de que para alcanar os seus objectivos no neces-
srio enveredar pela via conflituosa. As tcnicas de
resoluo tm sido testadas em pequenos grupos
experimentais, os denominados workshops de reso-
luo de problemas, num ambiente restrito, mas
informal. Atravs de um processo analtico de reso-
luo de problemas, as partes so conduzidas a uma
soluo integrada concentrada no entendimento da
disputa como um problema que as partes partilham
e para a resoluo da qual a sua cooperao fun-
damental. O objectivo a eliminao das causas e
manifestaes de conflito atravs da resoluo das
incompatibilidades entre as partes.
RENNCIA 163
RENNCIA
Acto jurdico unilateral dos Estados que implica uma
disposio de direitos.
REPRESLIAS
No quadro das contramedidas (reaces dos Esta-
dos afectados por um acto ilcito de um outro Estado),
a doutrina distingue as medidas de retorso (que
correspondem ao uso de meios lcitos no obstante
sejam prejudiciais) das represlias (que constitui-
ro medidas, enquanto tais, ilcitas, mas que so toda-
via toleradas enquanto reaces a ilcitos).
REPRESENTAO COMUM
Acreditao (ou nomeao, no caso das relaes con-
sulares) da mesma pessoa como chefe de misso
(diplomtica ou consular) perante outro Estado, por
dois ou mais Estados. A representao comum ape-
nas se consuma no havendo oposio do Estado
acreditador/receptor.
RESERVA
Declarao unilateral, qualquer que seja o seu enun-
ciado ou designao, feita por um Estado ou por uma
organizao internacional no momento da assina-
tura, ratificao, acto de confirmao formal, acei-
tao ou aprovao de um tratado ou de adeso a este,
ou ainda quando um Estado efectua uma notificao
de sucesso a um tratado, pela qual visa excluir ou
modificar o efeito jurdico de certas disposies do
tratado na sua aplicao a este Estado ou a essa orga-
nizao.
Trata-se de um acto jurdico unilateral no aut-
nomo, na medida em que o seu regime decorre do
regime das convenes internacionais, j que no
mbito destas que o acto surge.
As reservas devem ser formuladas por escrito e
comunicadas s partes e bem assim aos sujeitos que
reunam as condies para se tornarem partes e ainda,
organizao internacional ou rgo deliberativo
desta quando se trate dos seus tratados institutivos
ou de rgo com capacidade para aceitar reservas.
Se no for outro o regime institudo pelo tratado,
a reserva deve ser comunicada ao depositrio (que
dela deve dar conhecimento aos interessados no mais
breve prazo) ou, na falta deste, s partes e a todos os
que estejam em condies de se tornarem partes.
A reserva surge como uma particularidade das
convenes multilaterais, flexibilizando a extenso
do seu regime a sujeitos que no concordam com o
disposto em uma ou mais regras (ou com o tratado
no seu todo), mas que mantm o interesse em se vin-
cularem desde que as mesmas lhes no sejam aplic-
veis, ou que o sejam em termos distintos daqueles
que esto fixados na conveno. A reserva no visa
assim a modificao do texto da conveno (no geral)
mas a aceitao de um regime especial que se apli-
car entre as partes que a formularem e as que a acei-
de uma ou mais obrigaes a ttulo de contramedi-
das, ou mesmo de pr fim a obrigaes convencio-
nais.
RESPOSTA FLEXVEL
Proclamada pelo secretrio da defesa dos EUA, James
Schlensinger, nos anos 1970, a estratgia de resposta
flexvel (ou graduada) envolve as seguintes ideias: a
cada aco empreendida pelo adversrio correspon-
der uma resposta adequada e no automaticamente
o desencadeamento da resposta mxima, embora possa
ser a resposta mxima se for considerada adequada;
a incerteza sobre o tipo de resposta, que pode ir desde
retaliaes diplomticas a retaliaes nucleares, a
respostas econmicas, polticas (directas ou indirec-
tas) e militares, convencionais ou no; a aceitao
como admissvel da guerra limitada quer no espao
(localizada) quer no tipo de armamento (controlando
a escalada, ou seja o nvel de violncia); o reconhe-
cimento oficial da inviabilidade da dissuaso nuclear
total e a adopo da forma de dissuaso limitada,
uma vez que cada capacidade de actuao dissuade
certos tipos de actuao que o adversrio possa
empreender.
RETORSO
As reaces dos Estados afectados por um acto ilcito
de um outro Estado, enquadram em geral as contra-
medidas. Dentro destas, a doutrina distingue fre-
quentemente as medidas de retorso que corres-
pondem ao uso de meios lcitos (que no entanto so
prejudiciais, no sentido de visarem exercer alguma
forma de presso sobre o autor do acto ilcito) das
represlias (que constituiro medidas ilcitas).
REVISO
O termo pode surgir como equivalente ao da modi-
ficao ou das emendas, mas, frequentemente refere-
-se a modificaes que incidem sobre todo o regime
convencional (ao passo que as emendas incidem
sobre determinadas disposies, penas).
REVOLUO
Segundo Reinhart Koselleck (1990), a noo de revo-
luo inseparvel do vocabulrio poltico moderno,
exprimindo o modelo moderno da experincia his-
trica (e porventura a nossa prpria noo de his-
tria) direccionada para um futuro novo.
Conceitos tais como revoluo/reaco, progresso,
acelerao, emancipao, etc., inscrevem-se num
campo semntico que , em termos histricos, deter-
minado pela modernidade, e pela sua forma hist-
rica particular de experincia temporal. Entre a revo-
luo e a reaco, que so assimtricas, h uma ten-
so caracterstica duma nova relao ao tempo, a rela-
o prpria dos novos tempos. Trata-se de uma ten-
so assimtrica entre a acelerao do tempo no
RESOLUO PACFICA DE CONFLITOS 164
RESOLUO PACFICA DE CONFLITOS
A resoluo pacfica dos conflitos internacionais
constitui actualmente um corolrio do princpio da
proibio do recurso fora, impondo-se assim aos
sujeitos de Direito Internacional.
Os mais importantes mecanismos de resoluo
pacfica de conflitos so os previstos no artigo 33.
da Carta das Naes Unidas (cuja enumerao no
, todavia, taxativa), a saber: a negociao diplo-
mtica, os bons ofcios, a mediao, o inqu-
rito e a conciliao sendo normalmente desig-
nados estes por mecanismos polticos, por no visa-
rem decises obrigatrias para as partes. Existem
ainda os mecanismos jurisdicionais (cujas decises
so obrigatrias), que so a arbitragem e as juris-
dices internacionais permanentes.
A utilizao dos mecanismos livre, no havendo
hierarquia ou antecedncia obrigatria.
RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL
o instituto segundo o qual um sujeito de Direito
Internacional, ao qual imputado um acto ou omis-
so contrrio s suas obrigaes internacionais,
constitudo no dever de reparar o sujeito que foi
vtima desse acto em si ou na pessoa dos seus nacio-
nais (David Ruzi).
A responsabilidade internacional surge com a adop-
o por um sujeito de Direito Internacional de um
comportamento ilcito. Subsistem pois dois elementos
essenciais: a ilicitude do comportamento, ou elemento
objectivo e a imputabilidade do mesmo (ou elemento
subjectivo) a um sujeito de Direito Internacional.
O regime recolhido e desenvolvido pela Comisso
de Direito Internacional esclarece desde logo que a
ilicitude decorre da mera desconformidade da aco
ou omisso com uma obrigao internacional. Por
outro lado, em matria de imputabilidade, o regime
consagra os actos dos rgos dos Estados e bem assim
os actos de rgos de outros Estados (desde que
agindo sob o comando ou direco), os actos de movi-
mentos insurrecionais e os actos de outras entida-
des quando ajam na ausncia de autoridade pblica,
quando exeram funes pblicas ou quando a sua
actividade seja instigada ou assumida pelo Estado.
O regime visa desde logo a reparao. Este , na
verdade, o efeito central da responsabilidade, con-
forme decorre da definio inicialmente adiantada.
A reparao pode ocorrer por restituio (recons-
tituio da situao que existiria se no tivessem sido
praticados os actos ilcitos que deram origem res-
ponsabilidade); por indemnizao (uma compensao
pelos prejuzos sofridos); e por satisfao (o reconhe-
cimento da violao, uma expresso de pesar, um
pedido formal de desculpas ou em qualquer outra
modalidade adequada).
Para alm da reparao, insiste-se actualmente
tambm na obrigao de fazer cessar o comporta-
mento ilcito e oferecer garantias de no repetio,
sendo caso disso.
Subsistem outras consequncias menores, como
seja a de o ilcito poder justificar o incumprimento
RIMLAND 165
futuro, em termos de progresso e de evoluo, e o
afastamento do passado valorizado negativamente.
A revoluo projecta um futuro novo, ao mesmo
tempo que rejeita e desvaloriza o passado. Em ter-
mos polticos, a rejeio do passado acompanhada
da promessa de instaurao de novas relaes de
poder.
assim que, nas sociedades modernas, a revolu-
o ganha tambm o sentido da instaurao da trans-
formao social. O conceito de revoluo (e tambm
o de emancipao) passa deste modo do domnio pol-
tico-jurdico limitado, para o domnio social. A revo-
luo designa, desde o sculo XIX, o processo de uma
transformao que poder ser aplicada ao domnio
social, industrializao ou transformao tecno-
lgica, para alm do seu uso no campo poltico.
Designa, ento, transformaes polticas e sociais
decisivas, assim como inovaes cientificamente
importantes. Fala-se da revoluo do proletariado,
da revoluo cultural chinesa, da segunda revoluo
industrial, da revoluo tecnolgica, etc.
Em suma, podemos considerar que os conceitos
de revoluo, reaco, fascismo, comunismo, demo-
cracia, so conceitos temporais que marcam pro-
fundamente a modernidade, do mesmo modo que as
noes relativas s liberdades pblicas, tais como a
liberdade de expresso e a liberdade de informao,
determinam o espao pblico moderno.
RIMLAND
Expresso atribuda pelo professor americano
Nicholas Spykman orla martima que circundava
a Eursia, pelo sul desde os confins da Sibria, con-
tinuando pelo Pacfico e pelo ndico at ao Atlntico.
O rimland corresponde ao crescente interior de
Mackinder. Segundo o autor, a estratgia americana,
quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra,
tinha como directriz geogrfica o rimland. Era aqui
que os EUA deviam intervir de forma permanente,
por se tratar de um vasto conjunto de Estados com
caractersticas hbridas, continentais e martimas,
que sempre desempenharam um papel fundamental
na definio histrica da fora vitoriosa na luta pelo
poder mundial.
RIQUEZA
Dinheiro e bens materiais que um indivduo ou grupo
possui.
RUBRICA
A rubrica corresponde a um acto de assinatura visando
apenas a autenticao do texto, ou seja, afastando
outros efeitos (implcitos) decorrentes daquele acto.
Europa oriental devido s fronteiras artificiais tra-
adas aps as duas grandes guerras, como demons-
tram os exemplos da Jugoslvia e Checoslovquia.
Alm do mais, o espao da antiga Unio Sovitica
onde as fronteiras das repblicas so pouco coinci-
dentes com realidades demogrficas, em particular
aps movimentos forados de populao, tambm
uma rea crtica.
SCHENGEN (ACORDO E CONVENO)
O Acordo de Schengen designa o acordo assinado a
14 de Junho de 1985, em Schengen, entre a Alemanha,
a Blgica, a Frana, o Luxemburgo e os Pases Baixos,
com o objectivo de suprimir progressivamente os
controlos nas fronteiras comuns e instaurar um
regime de livre circulao para todas as pessoas que
sejam nacionais dos Estados signatrios, de outros
Estados da Comunidade ou de pases terceiros.
A Conveno de Schengen foi assinada em 19 de
Junho de 1990 por estes cinco Estados e define as
condies de aplicao e as garantias de realizao
desta livre circulao. Esta Conveno, por alterar
as leis nacionais, foi sujeita a ratificao parlamen-
tar. A Itlia (1990), a Espanha e Portugal (1991), a
Grcia (1992), a ustria (1995), a Sucia e a Dina-
marca (1996) juntaram-se aos Estados signatrios.
A Islndia e a Noruega so igualmente partes con-
tratantes nesta Conveno, aderindo a Schengen, em
18 de Maio de 1999, atravs de um acordo com a Unio
Europeia, mediante o qual estes so associados cria-
o e ao desenvolvimento do acervo Schengen, sendo
deste modo organizada a sua participao no espao
de livre circulao criado na Unio Europeia.
O acordo, a conveno, as declaraes e decises
adoptadas pelo Comit Executivo do espao de Schen-
gen constituem o acervo de Schengen. Quando o
Tratado de Amesterdo foi redigido, decidiu-se inte-
grar este acervo na Unio Europeia a partir de 1 de
Maio de 1999, uma vez que corresponde a um dos
principais objectivos do mercado nico, designada-
mente, a concretizao da livre circulao de pessoas.
A integrao jurdica de Schengen na Unio
Europeia foi acompanhada por uma integrao ins-
titucional. Foi assim que o Conselho passou a subs-
tituir o Comit Executivo Schengen e o Secretariado-
-Geral do Conselho o Secretariado de Schengen.
SALT
Acordos de Limitao de Armas Estratgicas.
SANTA ALIANA
Um acordo vago e de certa forma mstico de assis-
tncia e ajuda mtua assinado em 1815 entre a Rssia,
ustria e Prssia, e ao qual aderiram mais tarde outros
Estados europeus, exceptuando-se os Estados papais,
o Imprio Otomano e o Reino Unido. A Aliana era
significativa pois representava um movimento reac-
cionrio antiliberal, supostamente cristo, que se pre-
tendia assumir como um instrumento de interven-
o multilateral nos assuntos dos novos Estados inde-
pendentes. Os receios de interferncia da Santa
Aliana para restabelecer a lei imperial na Amrica
Latina deram, aos Estados Unidos da Amrica, uma
contribuio decisiva para a definio da Doutrina
Monroe. A Aliana foi enfraquecida pelo desacordo
interno quanto guerra da independncia grega
(1821-1829). Foram feitas tentativas, especialmente
por Metternich (representava a ustria), para trans-
formar a Aliana numa fora policial colectiva inter-
nacional sob os auspcios do Concerto Europeu,
mas sem resultado. As diferenas na colaborao
entre as grandes potncias quanto aos mritos da
interveno colectiva e quanto orientao ideol-
gica significou que a Aliana nunca foi to coesa como
os seus promotores pretendiam.
SECESSO
Refere-se expresso poltica da vontade de separa-
o de uma regio pertencente a uma estrutura pol-
tica existente, e que, no raras vezes, degenera em
conflito ou guerra civil, por exemplo, a Guerra da
Secesso nos Estados Unidos da Amrica (1861-
-1865). Os desejos de secesso podero ser entendi-
dos como indicadores de rejeio de algumas das nor-
mas mais bsicas do sistema de Estados em favor do
nacionalismo, relacionado com ideias de consan-
guinidade e etnicidade. Raramente a secesso alcan-
ada sem envolver violncia, visto que representa um
poderoso desafio ao centralismo estadual, levando
as autoridades polticas centrais a resistir-lhe. Os
movimentos de secesso podero intensificar-se na
S
falhanos da Sociedade das Naes (Manchria
1931; Etipia 1935; ustria 1938; Checoslovquia
1939; Finlndia 1940) so um sinal da persistncia
perversa de perspectivas individuais em detrimento
de aces comuns na formulao e conduo da pol-
tica externa.
Dado este percurso poder parecer surpreendente
o facto das Naes Unidas seguirem as pisadas da
Sociedade das Naes na Conferncia de 1945. Foi
conferido estatuto especial a cinco potncias e sob
o captulo sete, foi aprovado um conjunto de medi-
das coercivas a ser aplicado em caso de ameaa paz.
Estes poderes foram activados em duas ocasies aps
1945: no caso da Guerra da Coreia em 1950, e na
Guerra do Golfo em 1990. No primeiro caso, as reso-
lues foram tomadas pelo Conselho de Segurana
graas ausncia da ex-Unio Sovitica e excluso
da Repblica da China. Nesse perodo, a guerra fria
estava no auge e a administrao Truman pretendia
estender a sua percepo de conteno ao contexto
asitico. Este exerccio controverso comprometeu a
neutralidade das Naes Unidas.
No segundo caso, o exerccio de poder de uma coli-
gao de 28 Estados contra o Iraque em 1990 foi
entendido por muitos como evidncia de que a segu-
rana colectiva podia ser uma realidade e de que no
perodo ps-guerra fria os obstculos que haviam
impedido as Naes Unidas de prosseguir os seus
objectivos haviam sido removidos. A solidariedade
geral na condenao da anexao do Kuwait pelo
Iraque e a rapidez com que o Conselho de Segurana
das Naes Unidas respondeu, correspondeu ao cen-
rio pretendido pelos fundadores da organizao em
1945. Contudo, este optimismo revelou-se prema-
turo, uma vez que muitos dos conflitos que as Naes
Unidas foram chamadas a resolver eram conflitos
internos. A Guerra do Golfo foi um caso nico no sen-
tido em que se traduziu na ocupao de um Estado-
-membro da organizao por outro Estado. Alm do
mais, h dvidas legtimas quanto ao facto da ope-
rao ser um exemplo de aco das Naes Unidas.
A guerra no foi conduzida sob alada das Naes
Unidas, foi primariamente uma guerra norte-ame-
ricana. No seu decurso, a linha de comando levava
a Washington e no s Naes Unidas em Nova
Iorque.
Analiticamente, os dois casos acima citados refe-
rem-se mais a constrangimento do que a dissuaso
no uso da fora. O perigo inerente implementao
da segurana colectiva torna-se claro: que num sis-
tema sem coeso e unidade cultural, a aplicao da
segurana colectiva num momento particular,
assuma a aparncia e o carcter dos Estados.
SEGURANA INTERNACIONAL
Traduz a ausncia de ameaa, e a sua obteno cons-
titui um objectivo fundamental da poltica gover-
namental. Contudo, os conceitos relacionados com
o que torna a segurana efectiva so amplamente sub-
jectivos. A capacidade de defesa necessria a um
Estado muitas vezes entendida por outros como
SECULARIZAO 168
SECULARIZAO
Processo de reduo da influncia da religio. Embora
todas as sociedades modernas tenham sofrido uma
crescente secularizao, definir a amplitude da secu-
larizao uma questo muito complicada. A secu-
larizao pode referir-se aos nveis de cumplicidade
com as organizaes religiosas (como o nmero
de pessoas que frequentam servios religiosos), ou
influncia social e material que as organizaes
religiosas tm, ou ao grau de convico religiosa de
determinada populao.
SEGUNDO MUNDO
Expresso que designava as sociedades industriali-
zadas ex-comunistas da Europa de leste e da ex-Unio
Sovitica.
SEGURANA COLECTIVA
A ideia de segurana colectiva, de modo simples,
a de que a agresso pode ser melhor contida ou
limitada perante a aco conjunta de um nmero de
Estados. A teoria da segurana colectiva baseia-se na
assuno de que a guerra e os conflitos internacio-
nais esto enraizados na insegurana e incertezas das
polticas de poder. Sugere que os Estados, desde que
se comprometam a defender-se mutuamente, tm
capacidade, quer para prevenir a agresso, quer para
punir um transgressor, se a ordem internacional for
quebrada. O sucesso da segurana colectiva depende
de trs condies: os Estados devero ter uma dimen-
so semelhante de forma a no haver um poder pre-
ponderante; todos os Estados tm de estar dispostos
a assumir os custos e responsabilidade de defesa
mtua; e dever haver um organismo internacional
com autoridade moral e capacidade militar para
actuar sempre que necessrio.
O conceito de segurana colectiva uma impor-
tante inovao das Relaes Internacionais do sculo
XX uma vez que, s com a Primeira Guerra Mundial
ganhou relevo. Defende que o dilema de segurana
dos Estados poder melhor ser ultrapassado no atra-
vs do isolamento nacional ou da balana de poder,
mas atravs da instituio de procedimentos comuns,
de acordo com os quais cada Estado se compromete
a prosseguir aces comuns contra aqueles que
ameacem a integridade territorial ou independncia
poltica de um Estado.
A ideia de um compromisso universal, permanente
e colectivo de oposio agresso e para garantir
segurana foi codificado na Carta da Sociedade das
Naes, reaparecendo de forma modificada na Carta
das Naes Unidas. A sua eficcia depende de cada
Estado, sem atender a interesses particulares ou ime-
diatos, estando preparado para actuar contra viola-
dores, com base no princpio de que deste modo seria
sempre possvel organizar uma coligao de Esta-
dos preponderante contra um agressor indetermi-
nado. Logo, dissuaso, bem como castigo e repo-
sio da ordem, faziam parte do seu rationale. Os
Sem falar de variaes possveis que se verifica-
vam, at, numa mesma universidade, conforme os
professores , um esquema muito comum consistia
em o director do seminrio indicar um tema ou um
texto a um aluno, que redigia um trabalho a submeter
crtica dos outros estudantes; por fim, o trabalho
era apresentado discusso geral, juntamente com
um relatrio global das crticas que recebera.
No sculo XIX, acentuou-se na Alemanha a unio
entre a investigao e a docncia universitria, o que
exigiu um esforo de sistematizao dos procedi-
mentos da investigao. A fim de se obter o maior
rendimento possvel com um mnimo de esforo,
experimentou-se o trabalho em grupo, que permi-
tia a coordenao e oferecia a vantagem de combi-
nar a tarefa individual com a tarefa colectiva. Por
outro lado, atacou-se o ensino verbalista da ctedra,
considerado insuficiente para a preparao cientfica
que o universitrio devia adquirir. Foram estes,
esquematicamente, os factores que aceleraram a
introduo do seminrio em quase todas as univer-
sidades, como algo de adequado aprendizagem da
investigao cientfica.
Em princpios do sculo XX, o seminrio tinha che-
gado, nas universidades alems, ao mximo grau de
desenvolvimento e aperfeioamento. Ao ver os seus
resultados, os restantes pases adoptaram-no, a prin-
cpio, a ttulo experimental, mas mais tarde, com
carcter obrigatrio, pelo menos no sentido de opor-
tunidade que deve ser concedido a todos os estu-
dantes. Assim, na Conferncia de 1937, do Bureau
International de lEducation, sobre o Ensino Supe-
rior qual assistiram professores de mais de 40 pa-
ses foi reconhecida a importncia que o semin-
rio deve ter em toda e qualquer instituio de ensino
superior.
Assim, podemos definir seminrio, de acordo com
Watt, como o organismo didctico onde se faz a
aprendizagem da investigao cientfica, graas
aplicao do mtodo peculiar que cada cincia uti-
liza para estabelecer as suas verdades e concluses,
sendo a forma mais aprofundada de trabalho do estu-
dante, e que corresponde a trs finalidades especfi-
cas: a de incorporar activamente os estudantes nas
tarefas particulares do estudo, a de inici-los na cola-
borao intelectual e a de prepar-los para a inves-
tigao.
A esta finalidade ou caracterstica principal do
seminrio aprender a investigar investigando , logo
se juntaram outros objectivos. Em parte, porque a
utilizao do seminrio no ficou reduzida aos estu-
dos de ps-graduados ou aos cursos superiores, apli-
cando-se tambm a qualquer nvel de ensino. Por
conseguinte, os seus fins primitivos ampliaram-se e,
em certos casos, modificaram-se. De forma sinttica,
podemos referir os seguintes objectivos de semin-
rio: criar o hbito da investigao cientfica trans-
mitir o esprito cientfico, desenvolver nos alunos a
tcnica do pensamento crtico e do pensamento ori-
ginal; criando estes hbitos, o seminrio proporciona
um dos melhores instrumentos para a posterior auto-
-educao e investigao autnoma; aprendiza-
gem dos mtodos cientficos: ensina-se o estudante
SEMINRIO 169
excessiva e potencialmente ofensiva. Por outro lado,
a segurana, mais que em termos absolutos, dis-
cutida em termos relativos. As anlises tradicionais
da segurana internacional concentravam-se, regra
geral, na sua dimenso militar, face a ameaas de ata-
que externo ou instabilidade interna, e na impor-
tncia dos gastos com a defesa. Com o final da guerra
fria, novas ideias foram incorporadas na agenda de
segurana, alargando o seu mbito, a factores e con-
sideraes polticas, econmicas, sociais, culturais,
ecolgicas e ambientais. Estas novas valncias inte-
gradas no conceito de segurana internacional
visam dar resposta aos novos desafios, como por
exemplo a intensificao do terrorismo internacio-
nal e a necessidade da proteco ambiental.
SEMINRIO
O termo seminrio derivado do latim Seminarium
(viveiro de plantas) generalizou-se a partir do
sculo XVII para designar, em geral, a instituio des-
tinada a formar ministros do culto, quer fossem
sacerdotes catlicos quer fossem pastores protestan-
tes, acepo que ainda hoje perdura. Paralelamente,
surgiu na Alemanha uma instituio denominada
tambm Seminar, mas cuja finalidade era a forma-
o de quadros docentes.
Mais tarde, na viragem do sculo XVIII para o
sculo XIX, o termo seminrio no sentido geral de
instituio destinada a preparar os professores pas-
sou a aplicar-se a um organismo que, juntamente
com a ctedra, exercia a funo por excelncia da
Universidade, como por exemplo o seminrio filo-
sfico de Halle ou o seminrio em Konigsberg.
Em todas as acepes, porm, importa reter que
estes organismos tinham j em grmen aquilo que
na actualidade constitui o fundamento do semin-
rio como mtodo didctico: a iniciativa dos jovens
universitrios na investigao cientfica; e a for-
mao dos educadores na escola da livre investiga-
o, habilitando-os assim para a docncia e investi-
gao.
A partir de ento, vai manter-se, praticamente inse-
parvel, a unio entre o seminrio como organismo
e o seminrio como mtodo de ensino.
Apesar de utilizado, principalmente, para a for-
mao de estudantes ps-graduados, o seminrio
chegou, no sculo XIX a ser, nas Universidades ale-
ms, o principal meio de preparao de uma elite uni-
versitria, especialmente em matrias clssicas.
Essencialmente, o mtodo consistia no seguinte:
reunidos em volta de uma mesa orientada pelo
professor, os estudantes liam e comentavam textos
escolhidos. Durante a reunio iam surgindo diver-
gncias de interpretao desses textos, opinies,
rplicas; e no passava muito tempo sem que o
ambiente fosse dominado por animada discusso de
ideias. Normalmente, para se ser admitido no semi-
nrio, apenas se exigia um mnimo de conhecimen-
tos sobre a matria a tratar; e cada membro ficava
obrigado a realizar trabalhos escritos e orais com
regularidade.
mas pelas quais essa tarefa se pode realizar: expo-
sio nica ou mltipla, leituras e comentrios,
abundncia de dados, investigaes histricas ou
actuais.
Os traos essenciais do mtodo so a discus-
so entre os participantes; o direito de participao
de todos os estudantes na discusso; a elaborao
de um trabalho. No existir propriamente um
seminrio se os participantes no fizerem um real
trabalho de investigao, que obrigatoriamente
escrito.
Em concluso, no seminrio, o papel do professor
no desaparece, mantendo uma funcionalidade cen-
tral, mas discreta, uma vez que o papel dos alunos
ocupa um lugar decisivo e indispensvel, na medida
em que estes asseguram a dinmica da pesquisa e do
debate, dependendo o sucesso do trabalho colectivo
da sua participao no processo activo da formao.
Atravs de discusses dirigidas e de investigaes
orientadas, o professor assume funes de organi-
zao, prope a distribuio de programas, assegura
os textos e orienta os trabalhos preparatrios para
as sesses, promove o debate, provoca a discusso,
delimita os contornos dos problemas, sugere novas
propostas de abordagem, e assegura procedimentos
de crtica e avaliao.
SEMIPRESIDENCIALISMO
Forma de governo caracterizado pela repartio de
poderes entre o Presidente da Repblica e a Assem-
bleia da Repblica, face ao governo. O Presidente
assume um papel de relevo, facto a que no alheia
a sua eleio por sufrgio directo, o que o coloca, em
termos de legitimidade eleitoral, em p de igualdade
com o parlamento. No semipresidencialismo, o governo
depende da confiana mtua, quer do presidente,
quer do parlamento. E se verdade que no caso por-
tugus, aps a reviso constitucional de 1982, os
poderes do presidente perante o governo, ficaram
reduzidos, no menos verdade que a ele compete,
ouvido o Conselho de Estado, determinar se deve ou
no demiti-lo, para assegurar o normal e regular fun-
cionamento das instituies.
SENTENA
Deciso final proferida no mbito de um processo
judicial, com carcter obrigatrio para as partes.
SERVIOS DE INFORMAO
Informao recolhida por um governo ou agncia,
de forma pblica ou secreta, sobre a capacidade ou
intenes de outro pas ou aliana. O objectivo reco-
lher, analisar e avaliar informao fundamental ao
processo de deciso. Enquanto a aquisio de infor-
mao confidencial funo primria dos servios
de inteligncia, outras tarefas incluem a contra-
-espionagem (evitar que outros obtenham infor-
mao), logro (disseminao de desinformao), e
SEMIPRESIDENCIALISMO 170
a manejar os instrumentos do trabalho intelectual,
o que implica a anlise dos factos e problemas e no
somente a das fontes e bibliografia ao longo da repe-
tio das diversas formas do trabalho cientfico, os
estudantes, por aproximaes sucessivas, vo adqui-
rindo a prtica da metodologia das cincias; melho-
rar as capacidades de expresso escrita e oral: por ter
de expor, com mtodo, o estudo realizado, de elabo-
rar os trabalhos escritos, de defender as suas opinies,
etc., o aluno desenvolve a sua capacidade de expres-
so escrita e oral, embora no seminrio seja muito
mais importante reflectir sobre um tema ou um pro-
blema que exp-lo.
Segundo Nrici, os objectivos fundamentais do
seminrio so os seguintes: ensinar investigando;
revelar tendncias e aptides para a pesquisa; ajudar
ao domnio da metodologia cientfica em geral e da
metodologia cientfica de uma disciplina; conferir
esprito cientfico; ensinar a utilizao de instru-
mentos lgicos de trabalho intelectual; ensinar a
recolher material para anlise e interpretao, colo-
cando a objectividade acima da subjectividade; intro-
duzir, no estudo, a interpretao e crtica de traba-
lhos mais avanados em determinado sector de
conhecimento; ensinar a trabalhar em grupo e desen-
volver o sentimento de comunidade intelectual entre
os educandos e entre estes e os professores; ensinar
a sistematizar factos observados e a reflectir sobre
eles; levar a assumir uma atitude de honestidade e
rigor nos trabalhos efectuados; dominar a metodo-
logia cientfica geral.
Em suma, a natureza do seminrio pode, em sen-
tido amplo, ser assim descrita: um meio de aquisi-
o do hbito do raciocnio objectivo para se poder
trabalhar com o esprito que prprio de toda a cola-
borao cientfica.
Esquematicamente, um seminrio decorre como
j h um sculo se faz nas Universidades alems: esco-
lhido o tema, o professor encarrega um aluno da pre-
parao de um trabalho, que normalmente escrito;
uma vez concludo ou planeado esse trabalho, o aluno
discute-o informalmente com alguns dos partici-
pantes no seminrio. Depois disso, h uma reunio
geral de todos os alunos com o professor, na qual
apresentado o trabalho, juntamente com as crticas
que lhe foram feitas na reunio preliminar, proce-
dendo-se por fim a uma discusso geral para extrair
concluses sobre o tema.
So muitas as variantes que podem modificar este
esquema. Quanto apresentao do tema, por
exemplo, o trabalho dos alunos pode ser mais ou
menos acabado; a sua exposio pode ser sob forma
de leitura ou de apresentao oral de um simples
resumo; por vezes, no h trabalho prvio dos alu-
nos e o professor, ou um seu colega convidado, espe-
cialista do assunto a tratar, faz uma exposio ini-
cial sobre a qual incide depois a discusso. Esta apre-
sentao, por sua vez, pode variar pelo tom, pela exis-
tncia ou inexistncia de moderadores, de materiais
auxiliares, etc.
Pode-se dizer que, no seminrio, o essencial a
colaborao entre professor e alunos no traba-
lho cientfico e que o acidental so as mltiplas for-
A noo de sistema, inicialmente formulada no
domnio das cincias da natureza com o intuito de
demonstrar a existncia de relaes entre elemen-
tos particulares dentro de um conjunto complexo,
s a partir do sculo XIX comeou a ser transportada,
ainda que de forma incipiente e pouco rigorosa, para
o estudo das cincias sociais. Na realidade, s na
segunda metade do sculo XX, com os trabalhos de
Talcott Parsons, vemos emergir uma perspectiva clara
e coerente da noo de sistema social.
Segundo Parsons, existem quatro caractersticas
fundamentais em todo o sistema social, a saber: capa-
cidade de manuteno todo o sistema deve ter a
capacidade de preservar os seus padres essenciais,
reproduzindo-os e assegurando a sua sucesso ao
longo do tempo; a capacidade de adaptao qual-
quer organizao e sociedade deve adaptar-se aos
constrangimentos e mudanas inerentes ao meio
ambiente onde se inserem; a capacidade de obter
determinados objectivos toda a organizao e socie-
dade tem um ou vrios objectivos que tenta atingir;
e a capacidade de atingir uma integrao social a
integrao consiste na capacidade de fazer com que
as trs primeiras funes se realizem de uma forma
compatvel e consensual no seio da sociedade.
Partindo desta primeira abordagem global, David
Easton elaborou um modelo especfico para analisar
os sistemas polticos. Assim, Easton, na sua anlise
sobre o sistema poltico, pe em relevo dois aspec-
tos: a importncia das relaes entre o sistema e o
seu ambiente, e a importncia da regulao do sis-
tema por uma autoridade capaz de gerar uma res-
posta adequada aos desafios provenientes do ambiente.
A anlise sistmica consiste em estudar o conjunto
de interaces que se produzem entre o sistema e o
seu ambiente atravs de um esquema ciberntico.
O sistema, constitudo por um conjunto determi-
nado de relaes, est em comunicao com o seu
ambiente atravs de mecanismos de inputs e outputs.
Os inputs so constitudos pelo conjunto de pedidos
e apoios que so dirigidos ao sistema. No interior do
sistema, estes pedidos e apoios so convertidos pelas
reaces combinadas de todos os elementos do sis-
tema, provocando finalmente, por parte da autori-
dade reguladora, uma reaco global que exprime a
forma como o sistema tentou adaptar-se aos incita-
mentos e presses emanados do ambiente. Esta reac-
o global (ouput) constitui a resposta do sistema.
No entanto, esta resposta (ouput) vai produzir um
novo circuito de reaco (feed-back) que, por sua vez,
vai contribuir para alterar o ambiente de onde, segui-
damente, partiro novos pedidos e apoios e assim
sucessivamente, numa lgica de circulao ciber-
ntica.
A abordagem sistmica apresenta uma dupla van-
tagem. Por um lado, ela permite elaborar leis de uma
dinmica social, pois esfora-se por ultrapassar a par-
ticularidade das decises ou acontecimentos, elabo-
rando portanto, um quadro de anlise de aplicabili-
dade geral.
Por outro lado, ela permite uma avaliao bastante
precisa das interaces que se manifestam, ao longo
de todo o circuito, entre as variveis internas (aque-
SESSO LEGISLATIVA 171
aco dissimulada (subverso poltica). Os servios
de informao incluem uma vertente tecnolgica,
associada a satlites e vrios meios de transporte
espies ou escutas telefnicas, por exemplo, e uma
vertente humana, relacionada com documentos
secretos ou intenes polticas. Os servios de
informao so muitas vezes referidos como a
dimenso em falta da histria diplomtica e das
Relaes Internacionais. Na era ps-guerra fria, a
actividade dos servios de informao tem-se con-
centrado mais nos crimes relacionados com terro-
rismo, drogas e espionagem industrial, e menos na
espionagem militar tradicional.
SESSO LEGISLATIVA
Corresponde ao perodo anual de funcionamento da
Assembleia da Repblica. De acordo com o artigo
174. da Constituio da Repblica Portuguesa, a
Assembleia comea normalmente os seus trabalhos
a 15 de Setembro e termina-os a 15 de Junho, de cada
ano.
SHATTERBELTS
Expresso atribuda por Saul Bernard Cohen a duas
regies geopolticas: o Prximo e Mdio Oriente e o
Sudeste Asitico e Indonsia. A palavra tinha j sido
empregue em 1942 por Whitlesey, para designar o
conjunto de Estados da Europa oriental e central
entre a Alemanha e a Rssia.
Significa zonas quebradas, de fractura e, por isso,
flexveis. Os Shatterbelts (cinturas fragmentadas)
tm as seguintes caractersticas: so regies poltica
e socioculturalmente fragmentadas, e geografica-
mente retalhadas, divididas fisicamente por alter-
nncias de mar e terra, de florestas, montanhas e
desertos, que dificultam a circulao interior e favo-
recem a pulverizao cultural e poltica. Deste modo,
as suas condies intrnsecas, todas geradoras de divi-
so entre mltiplas comunidades humanas que as
povoam, tornam extremamente difcil a implantao
em tais regies, de qualquer forma de unidade.
Constituem por isso reas simultaneamente tampo,
e de competio entre as grandes potncias.
SISTEMA
Conjunto de disposies jurdicas, das instituies
polticas, dos meios tcnicos, dos mtodos de tra-
balho que constituem a organizao econmica e
social de um pas ou conjunto de pases.
Conjunto de elementos ligados por um conjunto
de relaes (estrutura) com interdependncia entre
estrutura e funcionamento.
Num sistema econmico, devemos reter trs
nveis de estruturas: as estruturas ambientais (geo-
grficas e fsicas); as estruturas de enquadramento
(demogrficas, jurdicas, polticas, sociais e mentais);
as estruturas de funcionamento (tcnicas de produ-
o e organizao).
Mas a expresso pode encerrar outro alcance, pre-
tendendo significar, no j a relao de poderes cons-
titucionalmente definida (esta assumir ento a
designao de forma de governo acepo usada na
doutrina francesa), mas a posio predominante deste
ou daquele rgo poltico na conduo do pas.
assim que podemos falar de sistema governamenta-
lista (quando o governo e o primeiro-ministro tm
o papel mais relevante), de sistema presidencialista
(quando este papel est cometido ao presidente) e sis-
tema parlamentarista (quando o parlamento, de facto,
assume um plano decisivo na soluo governativa).
SISTEMA DE INTEGRAO
CENTRO-AMERICANO (SICA)
Central American Integration System
O processo de integrao centro-americano ficou mar-
cado a 13 de Dezembro de 1991 pela assinatura do Pro-
tocolo de Tegucigalpa pelos Estados da Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicargua, Costa Rica e Panam,
e pela entrada em funcionamento, a 10 de Fevereiro
de 1993, do Sistema de Integrao Centro-Americano.
Trata-se de uma organizao regional desenhada para
responder s necessidades actuais e do futuro. Os seus
objectivos e princpios esto em conformidade com
a realidade poltica, social, econmica, cultural e eco-
lgica dos pases centro-americanos, e com as tra-
dies e aspiraes mais profundas dos seus povos.
O SICA tem por objectivo fundamental a realizao
da integrao centro-americana, enquanto regio de
paz, liberdade, democracia e desenvolvimento.
So seus propsitos, consolidar a democracia e for-
talecer as suas instituies; concretizar um novo
modelo de segurana regional, sustentado num equi-
lbrio razovel de foras; impulsionar um regime
amplo de liberdade, que assegure o desenvolvimento
pleno e harmonioso do indivduo e da sociedade em
conjunto; criar um sistema regional de bem-estar e
justia econmica e social para os povos centro-
-americanos; alcanar uma unio econmica e for-
talecer o sistema financeiro centro-americano; e
reforar a regio enquanto bloco econmico.
O rgo supremo do SICA a reunio de presidentes
centro-americanos, a quem compete decidir regional-
mente em matria de democracia, desenvolvimento,
liberdade, paz e segurana. Tem tambm como rgos
um conselho de ministros, um comit executivo, uma
secretaria-geral, um comit consultivo, um parla-
mento centro-americano, um tribunal de justia e a
reunio de vice-presidentes centro-americanos.
SISTEMA INTERNACIONAL
Um sistema um conjunto de unidades inter-rela-
cionadas, que atravs de uma estrutura e de um pro-
cesso enquadra e define os fins e instrumentos da sua
actividade.
Segundo Raymond Aron, o sistema internacional
o conjunto formado pelas unidades polticas que
mantm, entre si, relaes regulares e susceptveis
SISTEMA ELEITORAL 172
las que incluem o sistema) e as variveis externas
(aquelas que incluem o ambiente).
A anlise sistmica sublinha que o sistema estu-
dado no existe seno em funo do seu ambiente e
que, portanto, ele s pode ser definido e analisado
em face da sua relao com o ambiente.
Em sntese, um sistema um conjunto de relaes
entre um certo numero de actores, compreendidas
dentro de um determinado tipo de ambiente, sujeito
a um modo de regulao adequado.
SISTEMA ELEITORAL
Definio das regras de eleio e designao dos
representantes dos eleitores, num determinado acto
eleitoral. Assumem natureza diversa (sistemas maio-
ritrios, proporcionais, mistos, etc.), e traduzem
opes polticas e ideolgicas sobre o sentido do voto,
sobre a importncia da representao parlamentar,
sobre o papel dos partidos e sobre a estabilidade
governativa. comum associar-se a ideia de maior
estabilidade governativa aos sistemas de represen-
tao maioritria, enquanto as preocupaes de jus-
tia representativa nos parlamentos, surgem ligadas
aos sistemas de representao proporcional.
SISTEMA FINANCEIRO
Por sistema financeiro de um pas entende-se o con-
junto de instituies financeiras que asseguram a
canalizao de fundos na economia entre os agen-
tes que os possuem em excesso (aforradores) e os
agentes que deles necessitam e que disponibilizam
os meios de pagamento necessrios realizao de
transaces econmicas.
O sistema financeiro internacional respeita ao con-
junto de mecanismos, regras e instituies que asse-
guram a canalizao internacional de fundos dos
agentes que os possuem em excesso para os agentes
que deles necessitam e que disponibilizam os meios
de pagamento necessrios realizao de transaces
internacionais. A sua arquitectura inclui a definio
de regimes cambiais, de mecanismos de pagamento
internacionais, de regras prudenciais e do prprio grau
de liberdade dos movimentos de capital entre pases.
As polticas do sistema financeiro internacional
respeitam ao conjunto de intervenes pblicas ao
nvel da definio dos regimes cambiais, da inter-
veno nos mercados cambiais, da criao de regras
prudenciais e da negociao do grau de liberdade dos
movimentos de capitais.
SISTEMA DE GOVERNO
Na acepo maioritariamente usada em Portugal, sis-
tema de governo corresponde a um dos principais ele-
mentos do sistema poltico, de um determinado pas,
a par do sistema eleitoral e do sistema de partidos.
Traduz a relao entre os vrios rgos polticos e
respectivos titulares (presidente, assembleia, governo).
neste sentido que se fala de sistema presidencia-
lista, parlamentarista ou semipresidencialista.
de actores misto. Relativamente ao seu aspecto expli-
cativo, o sistema internacional determina o compor-
tamento dos actores estatais individuais no seu campo,
sendo que a primeira tarefa de anlise inclui a desco-
berta das caractersticas legais do sistema que estes
actores devero tomar em conta. Assim, a segurana
muitas vezes entendida como um objectivo primor-
dial dos Estados devido natureza anrquica do sistema.
(Anlise sistmica, Escola Inglesa e Neo-realismo)
SISTEMA MONETRIO EUROPEU (SME)
European Monetary System
A sua criao foi decidida no Conselho Europeu de
Bruxelas em Dezembro de 1978. O SME entrou em
funcionamento em Maro de 1979, e visava estabe-
lecer uma maior estabilidade monetria na Comuni-
dade. Deve ser considerado como o elemento funda-
mental de uma vasta estratgia tendo como objectivos
um crescimento contnuo na estabilidade, um regresso
progressivo ao pleno emprego, a harmonizao dos
nveis de vida e a reduo das disparidades regionais
no interior da Comunidade. Os seus principais elemen-
tos eram: o ECU (Economic Currency Unit), o Meca-
nismo de Taxas de Cmbio e as Facilidades de Crdito.
O ECU, figura nuclear do sistema, era um cabaz
de moedas, composto por uma certa quantidade de
moedas de cada Estado, em funo do seu produto
nacional bruto (PNB) e participao no comrcio
entre todos. Referencial do sistema, da sua consti-
tuio decorre a relao entre as vrias moedas, con-
substanciada nas taxas centrais bilaterais. O ECU
tinha utilizao essencialmente oficial, em especial
para as operaes entre os bancos centrais, mas tam-
bm era usado para fins privados, como o titular de
emisses internacionais de obrigaes ou moeda de
inmeros depsitos bancrios, atravs de um sistema
de compensao internacional.
O Mecanismo de Taxas de Cmbio (MTC) formado
por dois elementos fundamentais: a grelha de parida-
des e o indicador de divergncia. A primeira consti-
tuda pelo conjunto das taxas centrais entre as moedas
participantes, volta das quais se definem margens de
flutuao mximas que tm de ser respeitadas pelos
bancos centrais. O indicador de divergncia tem como
finalidade estabelecer uma presuno de aco por
parte das autoridades responsveis pela moeda cuja
cotao em relao ao ECU ultrapasse 75% do limite.
O terceiro elemento do SME consiste nos mecanis-
mos de solidariedade financeira para facilitar a gesto
do MTC e o financiamento de dfices nas balanas de
pagamento. Existem trs facilidades de crdito: o finan-
ciamento a muito curto prazo, o apoio monetrio a
curto prazo e a assistncia financeira a mdio prazo.
O SME deixou de ser um acordo funcional em Maio
de 1998, quando os Estados-membros fixaram as
taxas de cmbio para participar no euro. O seu suces-
sor, o Sistema Monetrio Europeu II, foi criado a 1
de Janeiro de 1999, mantendo-se as bandas de flu-
tuao iguais s do primeiro SME (+15%), com a pos-
sibilidade de individualmente estabelecer uma banda
mais estreita em relao ao euro.
SISTEMA MONETRIO EUROPEU (SME) 173
de estarem implicadas numa guerra geral. Para este
autor, exprimindo a concepo realista das Relaes
Internacionais, o que define antes de tudo o sistema
internacional a possibilidade de uma guerra comum
entre os actores. O sistema internacional pode, assim,
ser analisado atravs de trs noes-chave: guerra,
Estado-nao e organizaes internacionais.
Os sistemas polticos nacionais so facilmente
identificveis devido sua centralizao e institu-
cionalizao em organizaes claramente referen-
ciadas: o governo, o parlamento, os tribunais, o exr-
cito e assim por adiante. O sistema internacional no
centralizado e no to tangvel e claro no que toca
s suas instituies definidoras. Todavia, quando em
Relaes Internacionais nos referimos ao conceito
de sistema internacional, estamos a destacar dois
aspectos definidores deste, a saber: a estrutura e o
processo. A estrutura diz respeito forma como se
distribui o poder pelas unidades do sistema. O pro-
cesso diz respeito ao padro de relacionamento e
tipos de interaco entre as unidades do sistema.
Estas unidades polticas so, no presente sistema ves-
tefaliano, sobretudo os Estados, mas no unicamente.
O sistema internacional no abrange apenas os
Estados mas todo o tipo de actores no estatais exis-
tentes no sistema. O ponto essencial que importa res-
saltar acerca de qualquer tipo de sistema o de o
padro geral do sistema ser mais importante e
influente do que a soma das suas partes. Deste modo,
o comportamento das unidades do sistema vai ser
influenciado pelo padro geral de relacionamento do
sistema. o tipo de estrutura e o tipo de processo
do sistema que interagindo entre si influenciam acto-
res, fins e instrumentos, construindo um conjunto
de princpios e normas de aco que, por sua vez, vo
definir e caracterizar o padro geral de relaciona-
mento entre as unidades do sistema.
O conceito de sistema internacional usado nas
Relaes Internacionais como instrumento de an-
lise nos planos descritivo e explicativo. Como ideia
descritiva, o sistema internacional constitui uma
outra designao para o sistema de Estados. A an-
lise tradicional do sistema de Estados tem tendido a
enfatizar os objectivos e orientaes das grandes
potncias como influncias fundamentais relativa-
mente a processos e resultados. Em termos sist-
micos, uma potncia um actor estatal de tal sig-
nificado que a sua retirada do sistema alteraria a sua
estrutura, por exemplo, de uma situao de mul-
tipolaridade para uma de tripolaridade. H dois
processos sistmicos fundamentais geralmente iden-
tificados nos sistemas internacionais passados, pre-
sentes e futuros, os processos de conflito e os pro-
cessos de cooperao. Devido sua permanncia ao
nvel do sistema, os Estados individuais tomam-nos
como dados adquiridos na formulao das suas pol-
ticas. Como forma de confrontar estes processos sis-
tmicos, os Estados tm-se envolvido na criao de
regimes e na construo institucional. Organizaes
internacionais como a Sociedade das Naes e as
Naes Unidas proliferaram no sistema do sculo XX,
contribuindo para alterar a sua natureza, e levando
alguns autores a referir a existncia de um modelo
entre as moedas de cada par de pases que era desig-
nada por mint exchange rate.
O sistema de Bretton-Woods, sistema monetrio
internacional que vigorou entre 1944 e 1971, con-
sistia essencialmente num regime de taxas de cm-
bio fixas em que a moeda ncora era o dlar e a ins-
tituio central o FMI. No entanto, como este sis-
tema contemplava a possibilidade das taxas fixadas
relativamente ao dlar serem alteradas em situaes
de desequilbrio fundamental da balana de paga-
mentos, ele era na realidade um regime de cmbios
ajustveis.
SISTEMA OPERATIVO
O sistema operativo uma aplicao informtica
(programa) que serve de interface entre o computa-
dor e os utilizadores. O sistema operativo permite ao
utilizador gerir a informao armazenada no com-
putador e executar outras aplicaes. As aplicaes
informticas so desenvolvidas para uma dada pla-
taforma, que definida por uma combinao sistema
operativo/ equipamento informtico. As plataformas
informticas mais utilizadas so o MS-Windows
computadores IBM-PC compatveis, o MacOS com-
putadores da Apple e o LINUX , vrios tipos de com-
putadores.
SISTEMA DE PARTIDOS
Refere-se ao nmero e tipo de partidos a operar num
dado sistema poltico. O conceito refere-se tambm
s interaces entre partidos e a sociedade em geral,
e aos padres de competio ou falta dela entre
os prprios partidos. Os sistemas de partidos variam
de acordo com as sociedades e culturas, e com o sis-
tema eleitoral. Podemos classificar os sistemas de
partidos em trs tipos diferenciados: sistemas mono-
partidrios, sistemas bipartidrios e sistemas mul-
tipartidrios. Enquanto o sistema monopartidrio
determinado pela proibio de formao de outros
partidos, os sistemas bipartidrios e multipartidrios
so influenciados pela lei eleitoral, com um sistema
maioritrio a favorecer o bipartidarismo e o propor-
cional a levar ao multipartidarismo. Esta subdiviso
foi, porm, considerada excessivamente simplifica-
dora. Tendeu-se a generalizar os casos em que a rela-
o entre bipartidarismo e estabilidade governativa
e vice-versa, multipartidarismo e ingovernabilidade,
era extremamente evidente, sem considerar casos
mais ambivalentes. Observou-se tambm que para
alm do nmero, importante a dimenso dos vrios
partidos.
STIO
Site
Os stios da Internet (site ou website) correspondem
a endereos na Internet que identificam locais con-
tendo pginas de informao correspondentes a pes-
soas ou a organizaes.
SISTEMA MONETRIO INTERNACIONAL 174
SISTEMA MONETRIO INTERNACIONAL
International Monetary System
Por sistema monetrio internacional entendemos o
conjunto de sistemas cambiais que permitem aos pa-
ses realizar transaces internacionais que envolvam
mais do que uma moeda. Este sistema pode assen-
tar em regimes de cmbios fixos, regimes de cm-
bios flexveis ou em regimes de cmbios controlados.
O regime de cmbios fixos corresponde a um regime
cambial em que a cotao da moeda nacional defi-
nida pelo Banco Central do pas que intervm siste-
maticamente nos mercados cambiais para segurar a
taxa fixada.
O regime de cmbios flexveis corresponde a um
regime cambial em que a cotao da moeda nacional
determinada pelo livre funcionamento dos mercados
cambiais, isto , pelas foras da procura e da oferta.
O regime de cmbios controlados corresponde a
um regime cambial em que a cotao da moeda
nacional simultaneamente determinada pelas for-
as do mercado e pela interveno do Banco Central
do pas. Existem vrias modalidades de cmbios con-
trolados. A primeira respeita ao regime de cmbios
ajustveis, subjacente aos acordos de Bretton Woods,
que fixava a cotao da moeda nacional e um inter-
valo mximo para a sua variao sendo, ainda, admi-
tida a possibilidade de ajustamento da taxa de cm-
bio fixada quando ocorresse um desequilbrio fun-
damental da balana de pagamentos. A segunda
modalidade respeita ao regime de cmbios deslizantes
(crawling peg) caracterizado por valorizaes ou des-
valorizaes permanentes e graduais da cotao da
moeda nacional relativamente a outra ou a um cabaz
de outras moedas. A ltima respeita ao regime de
cmbios de flutuaes geridas em que a cotao da
moeda nacional largamente determinada pelo fun-
cionamento dos mercados de cmbios, embora as
autoridades monetrias intervenham de forma a
amortecer as flutuaes de curto prazo.
A poltica cambial traduz um sector da poltica
econmica dos pases, da responsabilidade dos Ban-
cos Centrais, que tem por objectivo assegurar o fun-
cionamento do regime cambial que cada pas adopta.
Os principais instrumentos utilizados pela poltica
cambial envolvem a compra e venda de divisas, a
manipulao da taxa de juro de referncia e as opera-
es de mercado aberto.
Em termos histricos, os sistemas monetrios
internacionais mais conhecidos foram o sistema
padro-ouro e o sistema de Bretton Woods.
O sistema padro-ouro, sistema monetrio inter-
nacional que vigorou entre 1880 e o incio da Pri-
meira Guerra Mundial, desenvolveu-se espontanea-
mente medida que os pases mais activos nos mer-
cados internacionais comearam a utilizar moedas
e notas convertveis em ouro. Neste sistema, cada
moeda era convertvel em ouro a uma dada taxa, isto
, os agentes econmicos podiam trocar quando qui-
sessem as suas notas e moedas por ouro a uma taxa
de converso fixada pelo governo. O compromisso
assumido por cada governo relativamente ao valor
da sua moeda gerava uma taxa de cmbio implcita
SOCIEDADE
A sociedade , ao mesmo tempo, o quadro de todos
os factos sociais e a totalidade real de todas as pr-
ticas sociais e representaes. Enquanto totalidade,
constitui uma unidade formada pelas prticas indi-
viduais e colectivas, pelos grupos e agrupamentos
(famlia, classe, etnia, etc.), e por todos os sistemas
de relaes (ordem do poltico, econmico, religioso,
cultural). Isso significa que a sociedade entendida
simultaneamente como totalidade orgnica ou como
um todo colectivo indiviso, dotado de individualidade
e como uma pluralidade que conserva a diversidade
prpria s entidades colectivas. Ora, enquanto con-
junto de indivduos e de prticas sociais, a sociedade
no uma totalidade real mas um objecto abstracto.
O aspecto colectivo das partes ou a individualidade
do todo reporta-se a uma perspectiva: reencontra-se
a lio de Rousseau: perante o estrangeiro, o corpo
do povo torna-se um ser simples, um indivduo (Des-
combes), ou seja, o resultado de um ponto de vista.
Estas duas perspectivas esto presentes, em termos
epistemolgicos, na anlise sociolgica. Para uns, a
sociedade uma totalidade abstracta e no uma tota-
lidade concreta, na medida em o que conta so os
indivduos e as relaes sociais, e a sociedade o con-
junto dos indivduos ( o caso do nominalismo e do
individualismo metodolgico, que poderemos encon-
trar em Weber). Para outros, a sociedade uma tota-
lidade real e uma entidade distinta dos indivduos (
o caso do holismo e do realismo, de que so exem-
plos Durkheim e Marx). J o holismo estrutural de
Descombes prope-se ultrapassar a dicotomia entre
realistas e nominalistas, na medida em que defende
que todo o sistema composto de partes, e no de
membros, cujas relaes estruturam a totalidade.
Aqui, os dois pontos de vista, o das relaes e o dos
sistemas que elas compem, esto presentes.
Para o nominalismo, os termos singulares que se
referem a indivduos so o objecto sociolgico por
excelncia, enquanto os termos gerais abstractos no
so seno construes tericas (modelos abstractos),
que descrevem estruturas ou relaes entre indiv-
duos. A questo sociolgica central a da relao
entre o indivduo e a sociedade, e a do estatuto da
sociedade por relao aos indivduos. O nominalismo
considera que o que existe so os indivduos e as suas
interaces, cujas descries adequadas se fazem por
intermdio dos termos singulares, podendo dispen-
sar-se os termos holistas, como sociedade, j que os
colectivos sociais so abstractos. assim que, na
linha do nominalismo, o individualismo metodol-
gico privilegia o ponto de vista das aces individuais.
Max Weber, que decompunha a sociedade em aces
de indivduos independentes, foi um representante
do nominalismo sociolgico. Como observa Elias, as
estruturas sociais tipos, como as administraes
burocrticas, os sistemas econmicos de tipo capi-
talista, ou os sistemas de dominao de tipo caris-
mtico, eram para ele representaes precisas e cien-
tficas de qualquer coisa que no tinha nem ordem
nem estrutura: eram simplesmente criao dos soci-
logos.
SOBERANIA 175
SOBERANIA
Governao poltica sem contestao de um Estado
sobre determinado territrio.
O direito exclusivo do Estado de exercer todos os
seus poderes sobre o territrio, como o monoplio
de legislao, regulamentao e jurisdio.
o poder dos poderes, aquilo a que Bodin chamava
o poder supremo e independente dos Estados. Supremo
na ordem interna e independente na ordem externa,
ou seja, no plano internacional. Mas levanta o con-
ceito imensas questes. Desde logo as que se rela-
cionam com a sua eficcia, o que significa confront-
-lo, na prtica, com o facto das soberanias no serem
iguais, logo no serem independentes perante pode-
res soberanos mais fortes. Por outro lado, so cada
vez mais os que duvidam do sentido do conceito, num
mundo em que os problemas no conhecem fron-
teiras e aparentam ter dificuldade em perceber modos
diferentes de os resolver.
Apesar da discusso, a que no alheia a vaga supra-
nacionalista dos tempos presentes, parece inequvoco
que h soberanias que se afirmam, recordando a velha
concepo bodinista, e que o fazem no plano inter-
nacional para se salvaguardarem ao nvel interno.
H hoje quem evoque o soberanismo ou sustente
posies soberanistas ( direita ou esquerda), como
movimento opositor ou at alternativo ao modelo de
integrao federal, no plano europeu. Os defensores
de tal posio no aceitam confundi-la com a ideia
de nacionalismo, considerando esta sinnimo de
isolamento nacional. O corolrio da soberania a
independncia.
SOCIALISMO
Conjunto de ideias polticas que destacam a natureza
cooperativa da produo industrial moderna, que
acentua a necessidade de alcanar, em comunidade,
a igualdade social.
Sistema poltico-econmico onde o Estado controla
a economia atravs de planeamento ou de forma mais
directa, detendo os meios de produo. Ao contro-
lar os bens industriais, e mesmo os agrcolas, o objec-
tivo produzir o que a sociedade necessita sem olhar
ao que poder ser mais vantajoso e lucrativo produ-
zir. O socialismo visa uma sociedade igualitria, onde
no haja lugar para a pobreza (Robertson).
O socialismo toma posse como credo poltico em
incios do sculo XIX como reaco situao eco-
nmica e social no contexto da Revoluo Industrial,
criticando os pases liberais por gerarem o empo-
brecimento e desigualdades sociais, procurando dar
resposta questo social decorrente da industriali-
zao, exigindo uma nova ordem econmica e social,
mais igualitria e justa, subordinando a anlise pol-
tica anlise econmica e defendendo a atribuio
ao Estado de extensas funes na economia, de modo
a que os benefcios materiais sejam distribudos com
base nas necessidades.
O objectivo principal do socialismo , ento, a erra-
dicao das desigualdades econmicas e sociais, ou
pelo menos a sua reduo substancial.
fazem com que impere progressivamente uma lgica
meditica que anula as distncias e esbate as fron-
teiras entre o espao pblico e o espao privado da
vida domstica. Lgica esta simultaneamente acom-
panhada da introduo de novas formas de relaes
sociais e de novas possibilidades de interactividade.
SOCIEDADE MUNDIAL/COMUNIDADE
MUNDIAL
Segundo a distino clssica de Tnnies, a sociedade,
no sentido de Gesellschaft, uma construo arti-
ficial e atomstica, uma soma de indivduos em que
continuam a prevalecer os interesses particulares, as
rivalidades e os conflitos, no uma comunidade, no
sentido de Gemeinschaft, fundada sobre uma soli-
dariedade natural e espontnea que une os que se
amam e se compreendem, e constituindo, assim,
um todo orgnico e harmonioso. A sociedade inter-
nacional permanece muito mais prxima da primeira
acepo que da segunda, no dispondo de estrutu-
ras ou instituies comparveis s dos Estados. Como
escreveu Daniel Colard, o recurso fora, a ausn-
cia de um poder centralizado e a violao das regras
de direito caracterizam ainda este tipo de sociedade.
A solidariedade mais formal que real. A coopera-
o interestadual depende da convergncia dos
interesses nacionais. O meio internacional hete-
rogneo.
A originalidade da sociedade internacional reside
no facto de ser constituda por Estados juridicamente
soberanos e iguais, que detm o poder poltico; reve-
lar um carcter imperfeito, inorganizado e pouco
estruturado, no existindo no seu seio, rgos pol-
ticos centrais capazes de gerirem em nome da colec-
tividade dos Estados, o conjunto das funes sociais
fundamentais no existe um governo mundial ou
um parlamento universal; manifestar um reforo
extraordinrio da solidariedade e a cooperao inter-
estadual, por fora de interdependncias complexas
que se criaram a todos os nveis e em todos os dom-
nios.
Aps a ruptura da unidade jurdica e moral que
caracterizou a Cristandade na Idade Mdia, com o
aparecimento dos Estados modernos, que deu ori-
gem, durante sculos, sociedade anrquica, ao
Estado de natureza, a sociedade internacional est,
para muitos tericos, a caminhar rapidamente para
uma comunidade internacional, que anuncia, quer
um Estado mundial, quer uma Federao mundial.
Ao presente, contudo, a sociedade internacional, cada
vez mais complexa por fora da multiplicao do
nmero de Estados, das tenses ideolgicas, econ-
micas, culturais, etc., encontra-se ainda a meio cami-
nho entre a anarquia e a comunidade, revelando uma
natureza mista em que as caractersticas de ordem
e desordem so bem evidentes.
Por outro lado, faltam os quadros conceptuais para
construir a nova sociologia de um espao sem fron-
teiras. Norbert Elias imaginava para muito breve o
dia em que a noo de humanidade seria o quadro
de referncia dos estudos em cincias sociais. Sob
SOCIEDADE FINANCEIRA INTERNACIONAL (SFI) 176
Para Weber, que conduz uma reflexo crtica em
relao s concepes realistas, as construes te-
ricas das cincias sociais tm um carcter ideal (os
tipos-ideais so construes simblicas e instru-
mentos que permitem organizar realidades diversas).
O realismo, por seu lado, defende que o mundo
social uma realidade em si mesma factual, e a socie-
dade uma entidade distinta dos indivduos. Durkheim,
por exemplo, utilizou uma concepo simultanea-
mente realista e holista de sociedade, concebida como
uma entidade indiferenciada, exterior aos indivduos.
De facto, as perspectivas holistas tendem a analisar
o social como unidade, enquanto as perspectivas indi-
vidualistas tomam o social na sua pluralidade. por
isso que Gurvitch fez questo de sublinhar a diver-
sidade do social, desde a pluralidade das formas de
sociabilidade pluridimensionalidade da realidade
social e pluralidade dos mtodos para o seu estudo.
SOCIEDADE FINANCEIRA
INTERNACIONAL (SFI)
Banco Mundial (Grupo)
SOCIEDADE DE INFORMAO
Por sociedade de informao entende-se uma socie-
dade que j no est baseada, em primeiro lugar, na
produo de bens materiais, mas na produo de
conhecimento.
A noo de sociedade de informao est estreita-
mente ligada ao nascimento das tecnologias da infor-
mao (computadores e sistemas electrnicos de
informao), que formam conjuntos de ligaes em
interconexo, e por isso multiplicam as comunica-
es transversais, prprias ao modelo do funciona-
mento em rede. Os sistemas de comunicao, as tele-
comunicaes, a Internet, constituem redes, multi-
plicando as comunicaes transversais e escapando
muitas vezes ao controlo da ordem legtima e hie-
rrquica, ou seja, afastando-se do modelo de orga-
nizao social clssico, dotado de uma fonte formal
de autoridade ou poder. A informao torna-se um
bem de troca, cujo uso cada vez mais de regulao
difcil.
E embora a informao possa ser definida no sen-
tido da circulao de um contedo, transportado de
um lugar para o outro, que modifica e enriquece o
conhecimento que os agentes sociais tm do mundo,
na sociedade de informao esta ltima ser a mat-
ria-prima das indstrias da comunicao, da distrac-
o, da informtica, da gentica e de sectores da eco-
nomia, sendo que o mercado , por natureza, uma rede.
Na sociedade de informao e comunicao veri-
fica-se a existncia de um universo saturado de men-
sagens, na medida em que os mass media produzem
uma enorme proliferao de informaes e de canais
de comunicao, assim como novas formas de liga-
es sociais e de socializao. As novas tecnologias
da informao e da comunicao, que ligam a tele-
viso e outros media ao computador pessoal ou doms-
tico, acedendo por sua vez aos multimedia e Internet,
disputa deveriam submeter os seus desentendimentos
Sociedade ou arbitragem. Se estes no chegarem
a uma deciso unnime num perodo de seis meses,
as partes em disputa poderiam, aps novo perodo de
mais trs meses, envolver-se em guerra. O Tribunal
Internacional de Justia Permanente, apesar de sepa-
rado da Sociedade, actuava em concerto com esta.
O fulcro do Tratado encontrava-se no artigo 16.,
que permitia Sociedade das Naes o uso de san-
es econmicas ou militares contra um Estado vio-
lador. Em essncia, contudo, era deixada a cada
membro a deciso quanto violao do Tratado e
aplicao de sanes. Este aspecto tem sido referido
como uma grande fraqueza, embora apesar da Socie-
dade ter falhado relativamente Alemanha, Itlia e
Japo nos anos 1930, ela ter sido bem sucedida na
resoluo de disputas em casos menores, especial-
mente nos Balcs e Amrica do Sul. Para alm da
resoluo de conflitos, a Sociedade das Naes dedi-
cava-se a outros assuntos, para os quais foram cons-
titudos rgos subsidirios nas reas dos mandatos,
desarmamento e cooperao econmica e social.
O argumento de que a Sociedade das Naes fra-
cassou no seu propsito de manuteno da paz dever
ser balanado pelo facto de nunca ter sido levada, ver-
dadeiramente, em linha de conta, pelas grandes
potncias. Os Estados-membros, especialmente os
europeus mais poderosos, estavam a braos com
concepes tradicionais de soberania e diplomacia
e em assuntos de high politics que ultrapassavam
a prpria SDN. Por muito flexvel que fosse a sua
organizao, a menos que recebesse a cooperao
total das maiores potncias na implementao de
decises, a SDN estava destinada ao insucesso em
termos da procura de solues para os conflitos inter-
nacionais.
SOCIEDADES PLURAIS
Pode entender-se a noo de sociedades plurais em
termos de uma constituio plural de identidades ou
em termos polticos.
No primeiro caso, considera-se a presena, numa
mesma sociedade, de culturas diferenciadas e a exis-
tncia de identidades nacionais, tnicas, religiosas,
ou raciais distintas. por isso que a lgica destas
sociedades se prende com determinados aspectos, tais
como: a anterioridade (o caso dos ndios da Amrica,
por exemplo), a importao (o fenmeno da imigra-
o), a reproduo social e cultural (o caso das mino-
rias regionais ou das etnias diferentes), e a prpria
produo social.
As sociedades plurais, marcadas pela existncia de
particularismos culturais, debatem-se, na maioria das
vezes, com os problemas relativos articulao entre
o reconhecimento pblico dos particularismos e a
resoluo das desigualdades. Os problemas sociais das
minorias so frequentemente objecto de polticas
prprias, sobretudo nos Estados em que a lei fun-
damental contempla o direito dos indivduos e dos
grupos ao exerccio e reproduo de uma cultura pr-
pria, sem prejuzo do direito de cada um se integrar
SOCIEDADE DAS NAES (SDN) 177
muitos aspectos, a sua intuio era justa: o reco-
nhecimento dos indivduos afirma-se cada vez mais
contra o Estado, atravs dos direitos do homem e
assiste-se progresso espectacular da noo de inge-
rncia humanitria. Em matria de meio ambiente,
a noo de bens comuns da humanidade penetrou as
conscincias e o discurso diplomtico, seno os com-
portamentos.
No entanto, so muitos os intermedirios que se
colocam entre o indivduo e a sociedade mundial para
que se possa, de forma definitiva, fazer da humani-
dade um quadro de referncia analtica para as Rela-
es Internacionais. A Filosofia, o Direito, a Moral
podem meditar sobre a unidade do gnero humano.
Todavia, a disciplina das Relaes Internacionais deve
ter em conta a diversidade cultural, a multiplicidade
das identidades individuais, bem como a diversifi-
cao crescente dos reagrupamentos e das formas de
vida colectiva. isso que torna difcil tomar como
unidade de anlise os cerca de seis mil milhes de
indivduos que vivem, de forma to dspar, na socie-
dade mundial.
SOCIEDADE DAS NAES (SDN)
League of Nations
A Sociedade das Naes foi criada em Janeiro de 1920
com o objectivo especfico de estabelecer procedi-
mentos para a resoluo pacfica de disputas e con-
flitos internacionais. O catalisador para a sua for-
mao foi a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de
Versalhes, embora as suas origens retrocedam ao des-
contentamento idealista e liberal com a anarquia
internacional e a balana de poder que at ento
caracterizavam o sistema de Estados. Pretendia-se
que fosse uma organizao global, embora desde logo
fosse prejudicada por realidades polticas e ideol-
gicas. Os Estados Unidos da Amrica recusaram-se
a aderir, a Unio Sovitica foi vtima do ostracismo
de outros, a Frana e o Reino Unido revelaram um
apoio morno, e a Alemanha, Itlia e Japo opera-
vam fora dos princpios estabelecidos. Apesar de tudo,
a sua breve histria, reduzida na prtica a menos de
duas dcadas, testemunha o fim do velho sistema e
o desejo quase universal do sculo XX de estabele-
cer instituies internacionais no sentido de permitir
o estabelecimento de um regime legal para a conduta
ordenada dos assuntos internacionais. As Naes
Unidas so o seu sucessor, e ambas adicionaram uma
nova dimenso poltica mundial.
A Sociedade das Naes, sediada em Genebra, era
constituda por trs rgos centrais: o Conselho
(quinze membros, incluindo a Frana, o Japo, a
Itlia, o Reino Unido e a Unio Sovitica como mem-
bros permanentes), que se reunia trs vezes por ano;
a Assembleia (todos os membros) que se reunia
anualmente; e um Secretariado. Todas as decises
eram tomadas por unanimidade. A filosofia inerente
Sociedade baseava-se no princpio da segurana
colectiva o que significa que a comunidade interna-
cional tinha o dever de intervir em conflitos inter-
nacionais; tambm significava que as partes numa
Objectivismo e positivismo em Durkheim. A Sociolo-
gia explicativa
Com mile Durkheim, a afirmao da objectivi-
dade do conhecimento sociolgico vai centrar-se no
objecto e nos mtodos. A frmula de Durkheim,
segundo a qual devemos considerar os factos
sociais como coisas (As regras do mtodo sociol-
gico, 1895), acompanhada dos utenslios e dos
mtodos para os estudar. O facto social exterior ao
esprito e deve ser estudado por mtodos cientficos.
Determinar a especificidade da sociedade como
coisa, pr prova os mtodos de observao e de
anlise, certificando a objectividade do conhecimento
sociolgico, o programa que caracteriza a afirma-
o da Sociologia como cincia e a sua autonomia.
Durkheim defende assim a aplicao da explicao
causal ao estudo dos factos sociais, aproximando os
mtodos sociolgicos dos mtodos objectivos das
cincias naturais: o nosso princpio fundamental
a realidade objectiva dos factos sociais.
A Sociologia compreensiva
Enquanto Durkheim defendia a irredutibilidade do
social ao psicolgico, segundo o princpio que os fac-
tos sociais devem ser explicados por factos sociais,
Max Weber (1864-1920) props uma Sociologia com-
preensiva, que deu lugar aos contedos mentais, ao
sentido e s significaes na compreenso da aco.
Colocou a aco como prioridade da anlise socio-
lgica e enfatizou a compreenso do sentido sub-
jectivo tal como ele conferido pelo actor. A dimen-
so subjectiva dos fenmenos sociais, relativa s sig-
nificaes atribudas pelos actores, deve ser tida em
conta. O fenmeno social produto da aco dos indi-
vduos que do um sentido ao seu comportamento.
assim que, sem recusar a explicao, Weber defen-
deu a compreenso e a interpretao: o objectivo cen-
tral da Sociologia compreender o sentido da aco.
A Sociologia prope-se compreender, por interpre-
tao, a actividade social e explicar o seu desenvol-
vimento e os seus efeitos.
A Sociologia descritiva
Enquanto em Durkheim, Weber e outros, h a
busca de um critrio da objectividade sociolgica (o
positivismo de Durkheim de que preciso tratar os
factos sociais como coisas e romper com as pr-
-noes, e o princpio de Weber que consiste em sepa-
rar o facto do valor), que est de acordo com uma
perspectiva positivista das cincias sociais, a Socio-
logia americana , praticamente desde o seu incio,
orientada pela descrio e pelos trabalhos empricos.
Na sequncia de numerosos estudos de carcter
microssociolgico (como o caso dos estudos dos
socilogos da Escola de Chicago, dos antroplogos
urbanos, do interaccionismo simblico e dos estu-
dos etnometodolgicos), determinados autores admi-
tem que existe uma certa continuidade entre a com-
preenso prtica dos actores sociais e o conhecimento
cientfico. Este aspecto foi ressaltado pela abordagem
de tipo etnogrfico, que apreende de modo indutivo
as propriedades concretas dos fenmenos em con-
texto, segundo o critrio fenomenolgico de retorno
SOCIEDADE PS-INDUSTRIAL 178
e participar plenamente na vida pblica. Sociedades
como a sociedade norteamericana (Estados Unidos
da Amrica e Canad), a sociedade australiana, ou o
caso europeu da Srvia e do Kosovo, debatem-se com
problemas concretos de integrao social de etnias
ou de identidades religiosas diferentes.
As sociedades plurais, entendidas em termos do
poder poltico, so aquelas que, contrariamente s
sociedades totalitrias, apresentam distino de
poderes autnomos (entre o jurdico, o legislativo e
o executivo, por exemplo) e diferentes centros de
deciso. As democracias assentam na existncia de
diferentes partidos polticos, em oposio s socie-
dades totalitrias de partido nico.
SOCIEDADE PS-INDUSTRIAL
Noo defendida por aqueles que acreditam que os
processos de mudana social esto a levar as pessoas
para l da ordem social industrializada. A sociedade
ps-industrial baseia-se, no na produo de bens
materiais, mas na produo de informao. Para os
seus defensores, neste momento, ocorre um conjunto
de mudanas sociais to profundas como aquelas que
iniciaram a era industrial h cerca de duzentos anos
atrs.
SOCIOLOGIA
A Sociologia nasce no sculo XIX, no contexto da
sociedade industrial e das transformaes simult-
neas das condies de trabalho, da tcnica, das rela-
es sociais e dos quadros tradicionais de vida. A
Sociologia surge, portanto, como cincia duma socie-
dade que pretende explicar-se a si mesma. assim
que Auguste Comte (1798-1857) defendeu a neces-
sidade de constituir uma cincia positiva dos fen-
menos sociais, tendo como objectivo o estabeleci-
mento das leis da evoluo social e histrica. , alis,
esta exigncia de fazer da Sociologia uma cincia
geral das sociedades que pode ser considerada como
o aspecto global que caracteriza a Sociologia nos seus
primrdios. O que no invalida que, segundo os auto-
res, sejam diferentes as leis e as regularidades que a
Sociologia procura: leis de evoluo das sociedades
em Comte (a lei dos trs estados); em Marx (1818-
-1883), a humanidade evoluiria por estados, desde o
comunismo primitivo at ao comunismo, sendo o
desenvolvimento das foras produtivas o motor
do devir histrico; em Durkheim (1858-1917), a
evoluo da solidariedade mecnica solidarie-
dade orgnica, com a crescente diviso do trabalho
e o individualismo, que marca a passagem das socie-
dades tradicionais s sociedades modernas; em
Spencer (1820-1903), as sociedades evoluiriam dos
estados primitivos homogneos aos estados moder-
nos, pela diferenciao das partes e pela especiali-
zao das funes.
Em termos epistemolgicos, os primeiros soci-
logos preocupam-se em afirmar o carcter positivo
da Sociologia, distinguindo-a das ideologias.
entendida como uma objectividade produzida e
construda pelo homem, sendo igualmente a socie-
dade uma realidade subjectiva que interiorizada no
decurso da socializao.
O construtivismo constitudo hoje por aborda-
gens diversas de diferentes autores, tais como L.
Boltanski, P. Bourdieu, A. Giddens, Touraine.
Teorias construtivistas
As Sociologias especializadas
Os grandes modelos tericos (marxismo, estrutu-
ralismo, funcionalismo) deram progressivamente
lugar, nos anos de 1970-1980, s Sociologias espe-
cializadas. A Sociologia dividida em campos deli-
mitados a partir de objectos concretos, surgindo Socio-
logias especializadas ligadas a estes campos. Refira-
-se a Sociologia urbana, rural, poltica, das religies,
do trabalho, da famlia, da educao, do desvio,
etc., demarcando-se domnios novos tais como as
Sociologias da vida quotidiana, das comunicaes, da
cultura, do desenvolvimento, da sexualidade, da con-
dio feminina, dos lazeres, do desemprego, da imi-
grao, das cincias, etc.
SOCIOLOGIA DAS RELAES
INTERNACIONAIS
A abordagem sociolgica das Relaes Internacionais,
sem transportar mimeticamente os conceitos e cate-
gorias caractersticos da Sociologia, caracteriza-se
por tentar adoptar o mtodo compreensivo e com-
parativo na anlise da sociedade internacional.
Tenta ultrapassar a perspectiva que circunscreve as
Relaes Internacionais a uma anlise emprico-des-
critiva inscrita nas anlises do realismo da Cincia
Poltica tradicional. Deste modo, a abordagem
sociolgica tem sido menos utilizada do que a abor-
dagem especificamente politolgica do estudo das
Relaes Internacionais, que se imps atravs do
paradigma dominante do realismo poltico do ps-
-guerra. A perspectiva sociolgica assume alguns
pressupostos bsicos, a saber: a crescente interde-
pendncia da sociedade internacional contempor-
nea; a impossibilidade de separar os assuntos inter-
nacionais dos assuntos nacionais (linkage politics);
a necessidade de classificar os vrios tipos e formas
de relaes sociais internacionais e, consequente-
mente, analisar de forma compreensiva os comple-
xos factores estticos e dinmicos que operam na
actual sociedade internacional, designadamente os
factores ideacionais como a cultura, a identidade, as
ideias e as normas.
sobretudo ao nvel da interpretao compreen-
siva dos factos que se acentua a especificidade meto-
dolgica da Sociologia das Relaes Internacionais.
Na realidade, no deixa de ser uma iluso pensar ser
suficiente coligir os factos, ainda que de forma rigo-
rosa, para elaborarmos uma explicao cientfica. Se,
como refere Raymond Aron, a Sociologia um inter-
medirio entre a teoria e o acontecimento, esta
mediao supe o recurso a uma aparelhagem con-
ceptual apropriada ao objecto de estudo. Assim,
SOCIOLOGIA DAS RELAES INTERNACIONAIS 179
s prprias coisas. Pretende-se que a descrio res-
peite a integridade dos fenmenos sociais e a Socio-
logia descritiva centra-se sobretudo nas prticas
sociais e na realidade social concreta e, nesta medida,
menos explicativa. O exemplo de Erving Goffman
(1922-1982), que privilegiou a observao dos com-
portamentos em contexto e a descrio dos procedi-
mentos naturais de organizao das interaces e da co-
-presena nas cenas pblicas, mostra a influncia da
descrio de tipo etnogrfico e a influncia dos estudos
de etologia, que observam directamente o comporta-
mento animal em situao de co-presena corporal.
Os modelos tericos e as Sociologias especializadas
As Sociologias formais
Entende-se aqui por Sociologias formais, em sen-
tido amplo, as tentativas de dotar a investigao
sociolgica de um quadro terico e de encontrar um
sistema de conceitos gerais que possibilitem uma
anlise dos diferentes sistemas sociais.
O funcionalismo (Radcliffe-Brown, Malinovski,
Robert Merton) considera que os fenmenos sociais
particulares devem ser explicados pelas funes que
exercem em relao sociedade no seu conjunto, ou
em relao a certos segmentos dessa sociedade. Do
ponto de vista do funcionalismo importa dar conta do
modo como se combinam as diferentes instituies
sociais.
Talcott Parsons (1902-1979), no seguimento do
funcionalismo americano, pretendeu criar um sis-
tema de conceitos gerais que permitissem analisar
os diferentes nveis dos sistemas sociais. Parsons (The
social system, 1951) considera a existncia de qua-
tro subsistemas interdependentes: o econmico, o
poltico, o cultural e o social. Estes subsistemas cor-
respondem respectivamente s funes de adaptao,
de definio e de realizao dos objectivos colecti-
vos, de socializao e de integrao dos indivduos.
Estes sistemas existem graas s relaes sociais que
os compem, havendo uma reciprocidade de influn-
cias entre as relaes e o todo, com reequilbrios
sucessivos em que o novo equilbrio mantm o sis-
tema global. A sociedade desenvolve-se no sentido de
uma diferenciao e complexidade crescentes, o que
conduz a uma maior interdependncia dos subsis-
temas que a compem.
O socilogo francs Georges Gurvitch estabeleceu
um sistema de conceitos gerais, de modo a dotar a
Sociologia de um quadro terico. Props uma clas-
sificao das manifestaes de sociabilidade, dos gru-
pos e das sociedades globais, assim como dos nveis
constitutivos da realidade social: os denominados
patamares em profundidade.
O construtivismo
Contrariamente aos grandes modelos tericos, o
construtivismo apresenta uma nova concepo da
Sociologia e do seu objecto, consistindo em consi-
derar que a realidade social e o conhecimento dessa
realidade so produto de uma construo perma-
nente. A realidade social fruto de uma construo
histrica e quotidiana dos actores individuais e colec-
tivos. Donde a objectividade do mundo institucional
rativo, a abordagem mais eficiente para analisar as
Relaes Internacionais. Para Aron, a Sociologia das
Relaes Internacionais, atravs da anlise com-
preensiva das determinantes e das variveis que con-
dicionam a poltica internacional, bem como da
determinao das regularidades que se produzem na
sociedade internacional, tenta encontrar uma expli-
cao global relativamente s alternativas entre a paz
e a guerra. Aron salienta, todavia, que o socilogo
no pode analisar compreensivamente no abstracto.
O estudo dos conceitos, das variveis e determinan-
tes no eficiente se no se puder aplicar aos factos
concretos e histricos. Deste modo, o socilogo
necessita de recorrer histria, pois sobre ela que
poder estudar e definir os conceitos e as regula-
ridades. Assim, a abordagem sociolgica de Aron
encontra-se no cruzamento entre a Histria e a
Sociologia, juntando as dimenses diacrnicas e sin-
crnicas da anlise da realidade internacional. Por
isso afirma que todo o estudo concreto das Relaes
Internacionais um estudo simultaneamente socio-
lgico e histrico.
Marcel Merle, herdeiro da concepo da Sociologia
histrica, consegue fazer uma interessante sntese da
abordagem sociolgica continental com a abordagem
politolgica anglo-saxnica. Na sua ptica, a abor-
dagem sociolgica contraria a abordagem emprico-
-descritiva que se caracteriza pela ausncia de uma
problemtica. Assim, abordagem sociolgica inte-
ressa a definio e construo de uma problemtica
relativamente aos acontecimentos internacionais.
Interessa-lhe estudar o fenmeno e no o simples e
irrepetvel acontecimento. Neste sentido, a aborda-
gem sociolgica das Relaes Internacionais tem
como principal objectivo contribuir para uma clari-
ficao das caractersticas essenciais das Relaes
Internacionais tentando, assim, interpretar os fen-
menos internacionais de uma forma integrada.
Caracteriza-se por uma viso sistemtica e com-
preensiva, com o intuito de fornecer alguma coern-
cia massa de fenmenos e acontecimentos inter-
nacionais, que s podem ser inteligveis se no os iso-
larmos uns dos outros. Ou seja, uma perspectiva
sociolgica visa fornecer ao campo de estudo das
Relaes Internacionais um conjunto de instrumen-
tos terico-metodolgicos, se quisermos conceptuais,
comummente aceites pela comunidade cientfica, que
dote os investigadores e os estudantes em geral, de
grelhas de interpretao que lhes permitam ultrapas-
sar a viso improvisada e dispersa da realidade interna-
cional transmitida empiricamente pelo paradigma
realista tradicional. Aqui, Merle identifica a con-
cepo torico-metodolgica sistmica como a mais
apropriada para o estudo das Relaes Internacionais.
Do outro lado do Atlntico, a abordagem sociol-
gica no teve tanta especificidade como na Europa.
Com efeito, a tradio politolgica no universo aca-
dmico norte-americano designadamente atravs do
paradigma dominante do realismo/racionalismo , foi
decisiva para autonomizar as Relaes Internacionais
como campo de estudo da Cincia Poltica, origi-
nando mesmo que alguns autores glosassem as
Relaes Internacionais como uma disciplina ame-
SOCIOLOGIA DAS RELAES INTERNACIONAIS 180
podemos dizer que a diferena entre uma interpre-
tao emprica e uma interpretao sociolgica das
Relaes Internacionais comparvel que existe
entre uma fotografia e um retrato pintado: a foto-
grafia mostra tudo o que pode ser visto pelo olho nu;
o retrato no mostra tudo o que pode ser visto a olho
nu, mas mostra algo que o olho no v: a essncia
humana da pessoa que serve como modelo.
A abordagem sociolgica das Relaes Internacio-
nais no significa, todavia, que possamos identificar
uma nica e idntica concepo seguida por todos
os autores que a reclamam.
O autor mais influente que primeiramente con-
sagrou a aplicao de uma perspectiva sociolgica s
Relaes Internacionais foi George Schwarzenberg
na sua obra Power Politics. A Study of International
Society (1941). De acordo com Schwarzenberg, o
estudo das Relaes Internacionais o ramo da
Sociologia que se ocupa da sociedade internacional.
Neste sentido, podemos considerar que o objecto de
estudo da Sociologia das Relaes Internacionais
a sociedade internacional. Ou seja, a anlise da evo-
luo da estrutura da sociedade internacional; a an-
lise do comportamento dos seus actores tradicionais
os Estados; a anlise dos actores individuais os
decisores e agentes que activa ou passivamente agem
quer inter, quer transnacionalmente; a anlise dos
tipos de relacionamento e comportamento existen-
tes no ambiente internacional, bem como das liga-
es ambiente interno/ambiente internacional; a an-
lise dos factores, tangveis e intangveis, que operam
e que caracterizam aquela ligao (ambiente interno/
/ambiente internacional) e, finalmente, a anlise dos
modelos e desafios futuros que se colocam socie-
dade internacional.
A perspectiva sociolgica de Schwarzenberg teve
uma forte influncia na anlise das Relaes Inter-
nacionais na Europa. Na Inglaterra, Evan Luard
(1976) e Ralph Pettman (1979) destacam-se por ten-
tar aplicar conceitos bsicos da anlise das socieda-
des internas anlise da sociedade internacional. De
acordo com Luard, ainda que existam diferenas sig-
nificativas entre a sociedade internacional e as socie-
dades estudadas pelos socilogos, possvel aplicar
alguns conceitos bsicos da Sociologia s Relaes
Internacionais. Assim, conceitos como a legitimi-
dade, status, classe, atitudes, lealdade, socializao
e percepo so passveis de serem aplicados an-
lise da sociedade internacional. Estes autores tam-
bm conhecidos por adoptarem uma international
society approach, apresentam uma imagem do
mundo em que as relaes entre indivduos so to
ou mais importantes do que as relaes entre Esta-
dos. Reconhecem a crescente interligao entre os
vrios actores internacionais provocada pela explo-
so dos modernos meios de comunicao e rejeitam
a obsessiva preocupao analtica com o poder e com
as relaes de poder adoptadas pelos realistas, bem
como a imagem mecanicista da sociedade interna-
cional levada a cabo pelos analistas sistmicos.
Em Frana, Raymond Aron e Marcel Merle so bons
exemplos da abordagem sociolgica. Para Aron, a
Sociologia histrica, atravs do seu mtodo compa-
START (ACORDOS)
Strategic Arms Reduction Talks
As conversaes que levaram aos Acordos START tive-
ram incio em Junho de 1982 em Genebra, e culmi-
naram em Julho de 1991 com a assinatura de um tra-
tado que previa a reduo das foras estratgicas norte-
-americanas e soviticas. Inicialmente considerado
um sucessor melhorado do processo SALT dos anos
de 1960 e 1970, o START obteve considervel pro-
gresso com a subida ao poder de Mikhail Gorbatchev
em 1985, ultrapassando a interrupo das negocia-
es em 1983, resultante do afastamento da Unio
Sovitica das conversaes paralelas relativas s
Foras Nucleares Intermdias. As negociaes foram
denominadas de conversaes para a reduo e no
limitao de armas, com o intuito de sublinhar o seu
carcter mais radical. O acordo estabelecia uma srie
de limites ao sistema de armamentos, reduzindo os
lanadores de msseis de longo alcance de cada pas
para 1 600 e o nmero de ogivas para 6 000, e pre-
vendo um regime de verificao com base em meios
tcnicos nacionais e inspeces.
Com o final da guerra fria e a desagregao da
Unio Sovitica, os sistemas de armas nucleares at
ento vistos como parte da soluo para a segurana
nacional e internacional, tornaram-se parte dos
novos problemas. Como resultado, o START II per-
mitiu cortes mais radicais nos armamentos nuclea-
res, vindo a ser assinado entre a Rssia (como Estado
sucessor da Unio Sovitica) e os Estados Unidos da
Amrica, em Janeiro de 1993. Este segundo acordo
reduziu para metade do valor inicial o nmero de ogi-
vas que cada uma das partes poderia manter. Em
resultado da assinatura do START II, as duas partes
comprometeram-se a prosseguir com a desnuclea-
rizao e polticas de no-proliferao. A principal
razo para o sucesso dos Acordos START prende-se
com o facto de na realidade no se conceber uma
situao em que alguma das partes usasse msseis
nucleares contra a outra.
SUBDESENVOLVIMENTO
Termo utilizado frequentemente para designar o
estado das sociedades cujas economias ainda no rea-
lizaram a sua descolagem industrial.
O subdesenvolvimento apreendido por um con-
junto de indicadores que demonstram o atraso do
desenvolvimento e por um conjunto de aspectos que
demonstram os bloqueios ao desenvolvimento.
SUBSIDIARIEDADE (UNIO EUROPEIA)
Este princpio significa, em termos muito genricos,
que a Unio Europeia s excepcionalmente pode
intervir nos domnios relativamente aos quais no
desfrute de atribuies exclusivas. Este o caso da
poltica social, rea em que os Estados-membros con-
tinuam a usufruir de uma competncia de regula-
mentao, e onde s admissvel a actuao da
Comunidade quando se verifique que os objectivos
SOCIOLOGISMO 181
ricana (Stanley Hoffman). Todavia, a reaco da
escola cientfica contra a escola tradicional pode ser
vista luz da necessidade de uma problematizao
e de um maior rigor metodolgico e conceptual
defendido pela abordagem sociolgica de que fala
Merle. Podemos pois encontrar nos vrios paradig-
mas que contestaram o realismo tradicional, abor-
dagens que comungam, de alguma forma, com os
pressupostos de uma abordagem sociolgica das
Relaes Internacionais. Ou seja, todos os paradig-
mas que tentam demonstrar que o objecto de an-
lise das Relaes Internacionais no uma sociedade
interestadual mas uma sociedade internacional, onde,
para alm dos Estados, existem outros actores to ou
mais importantes, e que mesmo as polticas exter-
nas dos Estados no podem ser analisadas numa
ptica tradicional de pura e simples prossecuo
racional e utilitria de interesses num sistema anr-
quico. Assim, autores clssicos como Ernst Hass,
Holsti, Karl Deutsch ou James Rosenau podero ser
englobados nesta abordagem.
Tivemos, no entanto, que esperar pela obra de
Nicholas Onuf (1989) para efectivamente detectar-
-se uma viragem sociolgica no estudo das Relaes
Internacionais. Esta recente orientao sociolgica,
designada por construtivismo social, que no tem
grandes ligaes com o passado (embora possamos
ver na escola inglesa algumas ideias percursoras),
assume-se como o paradigma da actualidade que
melhor contraria o mainstream analtico do neo-
-realismo e do neoliberalismo. O construtivismo
atribui grande importncia aos factores ideolgicos
e perceptivos, cultura, identidade, s normas e
ideias. Obras como as de John Ruggie, Alexander
Wendt, Emanuel Adler, Martha Finnemore, Friedrich
Kratochwil, e Peter Katzenstein vm estabelecendo
um programa de investigao que tem como preo-
cupao fundamental explicar a construo social dos
factos, interesses e poderes que influenciam e defi-
nem as Relaes Internacionais.
SOCIOLOGISMO
Segundo o sociologismo ou positivismo sociolgico
(que teve como principais figuras Duguit e Scelle),
o fundamento da obrigatoriedade das normas jur-
dicas reside nas necessidades sociais de onde procede
o seu contedo (na sociabilidade internacional, por-
tanto). Importar menos perceber o porqu dessa obri-
gatoriedade e antes observ-la, ou verific-la. Assenta,
portanto, no velho brocardo latino ubi societas ibi
ius. Haver talvez que opor a tal concepo uma limi-
tao bsica: que a existncia de uma regra social
no justifica o reconhecimento do seu carcter jur-
dico, at porque sempre subsistir a questo de saber
da sua justeza (a qual condio dessa juridicidade).
SOFTWARE
Designa as aplicaes informticas (programas) que
necessitam de um computador (hardware) para pode-
rem funcionar.
que os vinculam, quer no plano interno, quer no
plano externo. Decorrem tais actos da aplicao pr-
tica de tratados aprovados pelos Estados, no pleno
uso dos seus poderes soberanos, em que se aceita a
limitao (muitas vezes confundida com partilha)
desses mesmos poderes.
Temos como exemplo os actos legislativos prove-
nientes dos rgos da Unio Europeia, que vm assu-
mindo um papel de cada vez maior relevo no plano
da produo legislativa, substituindo em inmeros
domnios os rgos legislativos nacionais.
SUBVENO 182
consagrados no direito comunitrio no possam ser
realizados pelos Estados-membros de forma satisfa-
tria e desde que, pela dimenso ou pelos efeitos
envolvidos na aco a empreender, tais objectivos
possam ser alcanados a nvel comunitrio de uma
forma mais eficaz ou mais ampla.
SUBVENO
O conceito de subveno implica a existncia de uma
contribuio financeira dos poderes pblicos do pas
de origem ou de exportao, em que est presente
uma transferncia de fundos, a renncia cobrana
de receitas pblicas, o fornecimento de bens ou
servios, ou o pagamento a um mecanismo de finan-
ciamento pblico ou privado. As subvenes espec-
ficas so passveis de medidas de compensao, tais
como: a subveno que limita o acesso a certas
empresas; as subvenes subordinadas aos resulta-
dos de exportao e as subvenes subordinadas,
exclusivamente ou no, utilizao de produtos
nacionais em detrimento de produtos importados.
SUCESSO DE ESTADOS
A sucesso de Estados decorre da substituio de um
Estado por outro nas responsabilidades internacio-
nais em relao a um territrio. Este conceito jur-
dico abarca todas as situaes de criao, transfor-
mao ou desaparecimento de Estados e em volta
dele que se tem procurado coligir os diversos regi-
mes relativos.
Avultam na sucesso de Estados os problemas rela-
tivos atribuio e perda da nacionalidade, as ques-
tes dos bens e interesses dos particulares, as rela-
es entre os Estados sucessor e antecessor (em espe-
cial no tocante a bens pblicos, arquivos e dvidas)
e ainda as relaes entre o Estado sucessor e a comu-
nidade internacional.
SUJEITO DE DIREITO INTERNACIONAL
Em regra, sujeito de Direito Internacional aquele
que destinatrio directo de uma norma interna-
cional.
A viso tradicional que ia no sentido de apenas
reconhecer a personalidade internacional aos Esta-
dos, deu lugar a um entendimento que facilita o
reconhecimento da personalidade a uma pluralidade
de entidades (organizaes internacionais, movi-
mentos de libertao nacional, beligerantes, etc.),
sendo no entanto que a distino assenta agora
na diferente capacidade internacional de cada um.
Enquanto que s ao Estado (soberano) reconhecida
capacidade plena, os restantes sujeitos vo dispor de
uma capacidade limitada s respectivas funes.
SUPRANACIONALISMO
Traduo poltica de actos provenientes de rgos
independentes dos rgos polticos nacionais, mas
a produzir certos resultados na recolha e tratamento
da informao requerida pela actividade da pesquisa.
Como sublinha Grawitz, a tcnica representa as
etapas de operaes limitadas, ligadas a elementos
prticos, concretos, adaptados a um fim definido,
enquanto o mtodo uma concepo intelectual que
ordena um conjunto de operaes, geralmente vrias
tcnicas.
Em sntese, as tcnicas cientficas so procedimen-
tos concretos operativos, de actuao, que cabe uti-
lizar dentro das cincias, para levar a efeito as dis-
tintas etapas do mtodo cientfico.
A relao existente entre mtodo cientfico e tc-
nicas cientficas parece clara. A sua natureza a
mesma. Ambos so procedimentos, formas de actua-
o cientfica. A sua diferena consiste na sua ampli-
tude. O mtodo o procedimento geral do conheci-
mento cientfico e no fundamental comum a todas
as cincias. As tcnicas, pelo contrrio, so proce-
dimentos de actuao concretos e particulares,
relacionados com as distintas fases do mtodo cien-
tfico.
De facto, podem existir tcnicas comuns a todas
ou a vrias cincias, como as tcnicas lgicas e as
matemticas, mas de uma forma geral cada cincia
ou grupo de cincias tem as suas tcnicas especficas.
TCNICAS E INSTRUMENTOS
DAS RELAES INTERNACIONAIS
As noes de instrumentos e tcnicas de Relaes
Internacionais, isto , dos meios que os actores tm
sua disposio, encontram-se to intimamente liga-
das como rgo e funo.
O instrumento o objecto utilizado para se pra-
ticar uma determinada operao, e a tcnica o pro-
cesso utilizado para a efectivao dessa mesma ope-
rao.
Instrumento e tcnica acham-se, pois, intimamente
ligados, como aspectos esttico e dinmico da
mesma realidade, de forma que podemos sistemati-
zar determinados campos de actuao humana, com
base nas diversas tcnicas ou nos diversos instru-
mentos utilizados. Como cada uma dessas tcnicas
se acha ligada a um determinado instrumento, a sis-
tematizao pode ser feita indiferentemente com
referncia aos instrumentos ou s tcnicas utiliza-
TALASSOCRACIAS
Civilizaes martimas, cuja vida colectiva est
mais ou menos centrada na sua relao com o mar.
Segundo o historiador belga Henri Pirenne, estas
civilizaes so extrovertidas, vivendo em frequente
contacto com outras civilizaes. As suas culturas
nacionais seriam o produto de snteses sucessivas,
atravs de permutas materiais e espirituais com
outros povos. So sociedades constitudas por gru-
pos sociais abertos, s vezes com prejuzo da solida-
riedade nacional, quer poltica, quer religiosa. Geram
o individualismo e a concorrncia que, embora criando
tenses, produzem riqueza. O poder descentrali-
zado, tendendo para a democracia, o liberalismo e a
tolerncia. A sua riqueza reside na troca, no comr-
cio e na posse de bens perecveis que, por isso mesmo,
permitem uma elevada mobilidade social. A sua expan-
so faz-se pelo contacto e d lugar ao colonialismo
com vocao para a independncia dos povos trazi-
dos convivncia. As suas relaes com os outros
povos fizeram-se de forma mais harmoniosa, a maior
distncia entre civilizaes bastante desiguais, o que
tudo contribuiu para um melhor e mais rpido conhe-
cimento do mundo.
TAYLORISMO
Conjunto de ideias desenvolvidas por Winslow Taylor
(1856-1915), conhecidas como gestao cientfica, que
implicam operaes industriais simples e coordenadas.
Profeta da organizao cientfica do trabalho,
Taylor decomps o trabalho em tarefas simples, que
organizou, obtendo resultados espectaculares.
Critica-se o taylorismo pela reduo do trabalhador
a um mero instrumento de produo, sem direito a
colaborar ou a tomar qualquer iniciativa para o bom
funcionamento das empresas. Com o taylorismo, o
crescimento tornou-se intensivo e a produtividade
uma verdadeira obsesso. A organizao cientfica do
trabalho s encontrou a sua eficcia com o trabalho
em cadeia do fordismo.
TCNICAS DE INVESTIGAO
As tcnicas de investigao so conjuntos de proce-
dimentos bem definidos e transmissveis, destinados
T
Nas estratgias indirectas, devemos ter em con-
siderao: a espionagem, que os anglo-saxnicos
designam de intelligence, a qual exercida por meio
de agentes secretos de um Estado junto de outro, para
a obteno, por meios no legtimos ou ocultos, de
informaes teis sua poltica; a propaganda, a
que alguns autores preferem chamar informao, e
que a infiltrao das ideias favorveis poltica
externa de um pas junto da populao/opinio
pblica de outro pas; a aco psicolgica, que se tor-
nou um importante meio de luta, embora secund-
rio em relao s aces militares e ao terrorismo;
a desinformao, que tem como origem os servios
de informao de um Estado e como destinatrio os
servios de informao de outro Estado e que signi-
fica, simplesmente, uma intoxicao dos servios cor-
respondentes do adversrio, atravs do fornecimento
de informaes falsas, mas credveis; a subverso,
constituda por um conjunto de prticas que aliam
o psicolgico, os movimentos de multides e a revo-
luo, bem como outras tcnicas indirectas, tendo
como objecto a desagregao do tecido social e pol-
tico e a alterao do prprio poder.
TECNOLOGIAS DE INFORMAO
Termo usado para designar o conjunto de tecnolo-
gias que suportam o armazenamento, tratamento e
disponibilizao de informao. A informao pode
encontrar-se em qualquer formato, texto, som, ima-
gens, vdeo, etc.
TEOCRACIA
Literalmente falando, a palavra significa o governo
de Deus, caracterizando-se os regimes polticos teo-
crticos pela no separao do poder poltico e do
poder religioso. Os lderes religiosos acumulam, de
um modo geral, a funo poltica e as leis do Estado,
de tal forma que, nas questes essenciais, se con-
fundem aquelas com os princpios da religio domi-
nante. notria, nos pases em que estes regimes
vigoram, a inexistncia de liberdades cvicas, sendo
os hbitos de vida dos cidados orientados e condi-
cionados pela classe dirigente, que justifica as suas
aces e opes como conformes s leis de Deus.
A Repblica Islmica do Iro constitui um exem-
plo de teocracia.
TEORIA CONSTITUTIVA
A teoria constitutiva est interessada em analisar e
explicar a natureza e carcter da poltica interna-
cional e das Relaes Internacionais, bem como as
melhores abordagens metodolgicas para o seu estudo.
Diz respeito importncia da reflexo humana
relativamente ao estudo da natureza e carcter das
Relaes Internacionais, bem como s abordagens
terico-metodolgicas relativas a essa reflexo. Est
interessada em analisar e explicar o prprio processo
de teorizao, incluindo, deste modo, no seu objecto
de estudo, as questes epistemolgicas e ontolgicas
TECNOLOGIAS DE INFORMAO 184
das. Assim sendo, no procuramos dissociar instru-
mento e tcnica, antes procedendo nossa anlise
como se instrumento e tcnica, objecto e processo,
formassem um todo.
Na implementao de uma dada poltica externa
deparamos logo de incio com uma distino fun-
damental entre os tipos de instrumentos e tcnicas
susceptveis de serem utilizados: de um lado, os ins-
trumentos e tcnicas de carcter pacfico; do outro,
os instrumentos e tcnicas de tipo violento. No pri-
meiro caso, o Estado que procura desenvolver uma
determinada poltica externa pretende convencer o
Estado em relao ao qual quer executar aquela; no
segundo caso, o Estado executor dessa poltica
externa pretende constranger o Estado a que essa
poltica se dirige.
Enquanto o instrumento pacfico mais tpico da
poltica externa a diplomacia, o seu instrumento
violento mais caracterstico a guerra. Entre estes
dois extremos situam-se as alianas, os meios jur-
dicos, a arma econmica e as estratgias indirectas,
como, por exemplo, a espionagem, a propaganda, a
aco psicolgica, a desinformao e a subverso.
As Relaes Internacionais so uma cincia muito
recente, o que consequentemente resulta no facto de,
na linguagem corrente e at nas obras dos especia-
listas de assuntos internacionais, persistir uma certa
confuso de conceitos, pelo que se torna difcil abor-
dar com clareza qualquer matria terica relativa a
esta disciplina.
No que se refere, em particular, ao conceito de
diplomacia, frequente v-lo confundido com o
conceito de poltica externa, bem como com o de
negociao, para designar o instrumento pacfico e
genrico da poltica externa, isto , qualquer forma
de negociao em oposio aos instrumentos vio-
lentos e em particular guerra.
Todavia, no conceito de negociao, que muitas
vezes identificado com o de diplomacia, h que dis-
tinguir vrios tipos: negociao directa (negociao
levada a cabo directamente pelos detentores do poder
poltico dos Estados); diplomacia (negociao levada
a cabo por representantes do Estado, especialmente
designados pelos seus rgos de soberania, mas eles
prprios destitudos de poder poltico, e que so rigo-
rosamente os agentes diplomticos); mediao (nego-
ciao levada a cabo pelos representantes ou pelos
detentores do poder poltico de um terceiro Estado
que serve de intermedirio entre dois outros Estados).
Sob o ponto de vista formal, as alianas so trata-
dos entre dois ou mais Estados, tendo por objecto
fazer frente a um perigo, a uma ameaa, a um objec-
tivo, a uma preocupao, ou a um interesse que diga
respeito a um ou a todos os signatrios.
A guerra, ou seja, o instrumento violento por exce-
lncia, reveste a forma de ataque das foras milita-
res de um Estado contra o territrio, instalaes mili-
tares ou populaes de outro Estado.
A arma ou guerra econmica traduz o emprego de
sanes de carcter econmico por parte de um
Estado contra outro Estado, sanes que podero exi-
gir a utilizao de meios militares, como no caso do
bloqueio.
que melhor promovam a liberdade, justia e igual-
dade no globo. Constitui, deste modo, uma tentativa
para repensar os fundamentos normativos das pol-
ticas globais.
TEORIA DA DEPENDNCIA
Designao da tese que defende que um conjunto de
pases, especialmente no Terceiro Mundo, no tem
capacidade de controlar aspectos importantes da sua
vida econmica devido ao domnio dos pases indus-
trializados sobre a economia mundial.
Traduziu uma crtica radical ao capitalismo oci-
dental nas suas relaes com o Terceiro Mundo, nos
anos 1960 e 1970, tendo ainda hoje adeptos. Deriva
de uma teoria de imperialismo econmico, sendo
tambm usada como crtica aos programas de ajuda
estrangeiros.
A ideia base a de que os maiores Estados capita-
listas no desistiram verdadeiramente dos seus inte-
resses coloniais, exercendo na realidade um controlo
poltico alargado sobre os pases latino-americanos,
africanos e asiticos. Contudo, fazem-no agora atra-
vs da presso econmica e da explorao da sua supe-
rioridade no mercado para obterem vantagens injus-
tas no comrcio internacional. A teoria defende que,
como a maior parte da ajuda financeira para o desen-
volvimento industrial e agrcola ao terceiro mundo
provm dos Estados capitalistas, o desenvolvimento
naqueles pases est intimamente associado aos inte-
resses econmicos do ocidente (Robertson).
TEORIA EMPRICA
Para o empirismo, todo o conhecimento resulta da
experincia, aproximando-se, assim, do materialismo
filosfico e do positivismo.
O empirismo est no cerne do mtodo cientfico,
considerando que as nossas consideraes tericas
se devem basear na observao do mundo e dos factos,
mais do que na intuio ou na f, isto , na investi-
gao emprica, no raciocnio indutivo e na lgica
dedutiva.
A teoria emprica assenta na observao directa ou
indirecta como teste realidade. Procura descrever
de forma rigorosa a interaco entre os instrumen-
tos e a entidade ou realidade que est a ser observada.
Uma teoria emprica nas cincias sociais ou natu-
rais, diz respeito, pois, aos factos e procura apresentar
uma explicao ou predio de fenmenos observados.
o que defende Quincy Wright, para quem a teoria deve
permitir a previso de alguns factos. Ao contrrio das
teorias normativas, que dizem respeito aos valores
e aos princpios ticos, as teorias empricas consi-
deram que as proposies esto sujeitas a testes como
forma de estabelecerem a sua verdade ou falsidade.
Como refere James Dougherthy, as Relaes Inter-
nacionais tm sido marcadas pelas tentativas do esta-
belecimento de relaes entre a teoria normativa e
a teoria analtica e emprica.
Karl Popper e Ernest Gellner so filsofos que, at
certo ponto, representam as teorias empricas.
TEORIA CRTICA 185
relativas s Relaes Internacionais. A teoria cons-
titutiva distingue-se da teoria emprica e pode ser
caracterizada, assim, como a filosofia das Relaes
Internacionais. Finalmente, pode-se dizer que tm
forte ligao com as chamadas teorias normativas
das Relaes Internacionais.
TEORIA CRTICA
Parte de vrias tendncias de pensamento social, pol-
tico e filosfico ocidental, de modo a erigir um enqua-
dramento terico capaz de reflectir sobre a natureza
e objectivos da teoria, e revelando formas bvias e
subtis de injustia e dominao na sociedade. A Teoria
Crtica no s desafia as formas tradicionais de teo-
rizao, como tambm problematiza e procura des-
mantelar formas institudas de vida social que cons-
trangem a vida humana. A Teoria Crtica est asso-
ciada chamada Escola de Frankfurt, e mais parti-
cularmente ao trabalho do terico alemo Jurgen
Habermas. Para Habermas, a Teoria Crtica questiona
as fundaes da ordem social existente em termos
epistemolgicos (fonte de conhecimento) e ontol-
gicos (natureza do ser), sendo a assuno central a
de que todo o conhecimento tem uma base histrica
e poltica. Critica as teorias ortodoxas por serem
demasiado conservadoras, oferecendo como alter-
nativa, atravs da exposio das bases sociais do
conhecimento, poder e valores, uma nova viso que
liberta a teoria internacional, de modo que as injus-
tias e desigualdades existentes no sistema possam
ser analisadas. Partindo das polticas de emancipa-
o, procura inquirir quanto s possibilidades de
transformar as Relaes Internacionais, de modo a
remover os constrangimentos desnecessrios para o
alcance da igualdade e liberdade universais. Deste
modo, o estudo das Relaes Internacionais deve ser
orientado pelas polticas emancipadoras, sendo que
a remoo de vrias formas de domnio e a promo-
o de liberdade, justia e igualdade social, so as for-
as subjacentes Teoria Crtica.
A principal contribuio da Teoria Crtica relaciona-
-se com a chamada de ateno para a ligao entre
conhecimento e poltica. Rejeita a ideia do terico
como observador objectivo, na medida em que este
se encontra envolvido na vida poltica e social, e as
teorias das Relaes Internacionais, tal como todas as
outras, incluem interesses e convices a priori, quer
sejam reconhecidos, quer no. Uma outra contribuio
relaciona-se com a necessidade de repensar o Estado
moderno e a comunidade poltica. As teorias tradi-
cionais tendem a tomar o Estado como certo, mas a
Teoria Crtica internacional analisa os vrios modos
segundo os quais as fronteiras da comunidade so for-
madas, mantidas e transformadas. No s fornece uma
explicao sociolgica, mas tambm uma anlise
tica sustentada das prticas de incluso e excluso.
O objectivo da Teoria Crtica internacional alcan-
ar uma teoria e prtica alternativa nas Relaes Inter-
nacionais, que ultrapasse as dinmicas de excluso
associadas ao moderno sistema de Estados, e esta-
belea um conjunto de princpios cosmopolitas
TEORIA DA INTERDEPENDNCIA
COMPLEXA
Teoria que surge na dcada de 1970, liderada por
Robert Kheoane e Joseph Nye, que utilizaram o con-
ceito da interdependncia para construrem um para-
digma analtico que superasse o paradigma realista.
A teoria da interdependncia complexa veio contra-
riar as principais assunes analticas do realismo.
Assim, para a escola da interdependncia complexa,
os Estados no so os nicos actores importantes;
os actores transnacionais so igualmente interve-
nientes importantes nas Relaes Internacionais; a
fora no o nico instrumento significativo, j que
a manipulao econmica e o papel das instituies
internacionais so instrumentos to ou mais impor-
tantes do que aquela o bem-estar, e no a segurana,
que constitui o objectivo dominante.
A teoria da interdependncia complexa pode ser
vista como uma sntese de alguns elementos do pen-
samento realista e liberal. Foi tambm partindo da
interdependncia complexa e da sua crtica ao rea-
lismo tradicional, que se introduziu o conceito de
regime como forma de explicar a possibilidade de
mitigar a anarquia e facilitar a cooperao. Final-
mente, importa sublinhar que a teoria da interde-
pendncia complexa desenvolvida por estes autores
refere-se s vrias e complexas relaes transnacio-
nais (interdependncias) que se estabelecem entre
Estados, sociedades e indivduos. Os tericos da
interdependncia complexa sublinham que estas rela-
es, particularmente de carcter econmico, vm
aumentando de importncia, enquanto o uso da fora
militar e da balana de poder ainda que continuem
presentes , tm vindo a decrescer de importncia.
Atravs desta anlise, estes tericos argumentam que
o declnio da fora militar como instrumento das
Relaes Internacionais, e o aumento da interde-
pendncia econmica e de outras formas de inter-
dependncia transnacional ir desenvolver a proba-
bilidade de cooperao entre os Estados (Institucio-
nalismo liberal)
TEORIA DOS JOGOS
Trata-se de uma abordagem do processo de deciso
baseada na assuno da racionalidade dos actores
numa situao de competio. Numa situao de
incerteza e de informao incompleta, cada actor
tenta decidir no sentido de maximizar os seus ganhos
e minimizar os seus prejuzos. Deste modo, cada
actor vai organizar as possibilidades de deciso por
ordem de preferncia, estimar as probabilidades e ten-
tar discernir o que o outro actor ir fazer. A diviso
bsica entre os jogos de soma zero, de soma vari-
vel ou positiva e os jogos de soma negativa. Numa
situao de soma zero, a perda de um actor significa
automaticamente o ganho do outro actor. Numa
situao de soma varivel, ou positiva, os ganhos e
custos no so autodeterminantes e possvel exis-
tirem ganhos para ambas as partes. Finalmente, numa
situao de soma negativa ambos perdem.
TEORIA DA ESTABILIDADE HEGEMNICA 186
TEORIA DA ESTABILIDADE
HEGEMNICA
A teoria da estabilidade hegemnica sustenta que o
poder desigual e hegemnico gera a estabilidade e a
paz. Quando existir uma potncia forte e dominante
existir estabilidade e paz. Quando essa potncia
hegemnica dominante comear a fraquejar iro sur-
gir outros novos competidores e a probabilidade de
guerra aumenta.
A ideia central desta teoria que a estabilidade do
sistema internacional requer um nico Estado domi-
nante que articule e aplique as regras de interaco
entre os mais importantes membros do sistema. Para
que um Estado seja hegemnico ele deve ter trs atri-
butos, a saber: a capacidade de aplicar as regras do
sistema; a vontade de o fazer; e um compromisso com
o sistema, que seja perceptvel como mutuamente
benfico para todos os grandes Estados do sistema.
A capacidade hegemnica de um Estado assenta em
vrios elementos, tais como: uma economia flores-
cente ou pujante, domnio e liderana nos sectores
tecnolgicos e econmicos, e finalmente, um forte
poder poltico apoiado por uma forte projeco de
poder militar. A instabilidade do sistema pode surgir
caso as mudanas econmicas, tecnolgicas, sociais
e outras erodirem a hierarquia internacional e mina-
rem a posio do Estado dominante. Por outro lado, os
pretendentes a assumirem um papel de estabilidade
hegemnica iro emergir se os benefcios do sistema
forem percepcionados como injustos e inaceitveis.
TEORIA FUNCIONALISTA
Teoria sobre a integrao internacional, cujos traba-
lhos desenvolvidos originalmente por David Mitrany
se concentraram na anlise da criao da CECA e
da CEE. Popular na dcada de 1940, a teoria funcio-
nalista tenta explicar a possibilidade dos laos trans-
nacionais levarem integrao internacional, redu-
o do nacionalismo e ao estabelecimento de um
sistema de paz. Basicamente, o funcionalismo sugere
que atravs da cooperao econmica e social se podem
gerar comunidades supranacionais que, atenuando
a soberania dos Estados, sobretudo o seu contedo
hostil e belicista, eliminem a possibilidade da guerra.
O funcionalismo parte do pressuposto que o cres-
cimento da complexidade dos aspectos tcnicos e no
polticos dos governos ir criar a necessidade de coo-
perao tcnico-funcional entre os Estados, e parti-
cularmente entre as suas elites tcnicas. Como resul-
tado, teremos a necessidade de construir organiza-
es que ultrapassem as fronteiras para resolverem
os problemas da cooperao funcional. Central para
a teoria funcionalista a doutrina da ramificao.
Segundo esta doutrina, o desenvolvimento da cola-
borao num determinado sector ir alastrar-se e
ramificar-se num comportamento semelhante, num
outro sector tcnico. Como resultado final, as orga-
nizaes criadas para a colaborao funcional pode-
ro ultrapassar, ou tornar suprfluas, as instituies
polticas tradicionais.
perder, devido a razes estritamente geopolticas.
Segundo Castex, a potncia que provoca o desequi-
lbrio tem como apoio um grande territrio que actua
como fora e lhe transmite as caractersticas epiro-
crticas que Pirenne assim sintetizou: ataca de forma
rgida; denuncia os seus movimentos com muita
antecedncia; inflecte sempre em direco s costas
martimas; tenta subverter a cultura e os valores dos
povos conquistados. pouco imaginativa porque
opera na convico de ser portadora de uma frmula
salvadora. Tudo isto faz com que carea da adequada
flexibilidade para, conforme o momento e as cir-
cunstncias, mudar o seu processo, reformar a sua
tctica e rever a sua estratgia. Definido o objectivo
definitivo, a misso no tem alternativas seno afron-
tar tudo o que a contrarie.
A superioridade tctica e estratgica das potncias
martimas, segundo Castex, desde que funcionem
segundo aquele esquema de coligao, so realida-
des dificilmente impugnveis.
TEORIA DAS RELAES
INTERNACIONAIS
A noo de teoria utilizada neste contexto pressupe
uma ambio cientfica: explicar de maneira rigorosa
a dinmica das Relaes Internacionais, descobrir as
foras e as estruturas que determinam as relaes
entre os principais actores da cena mundial e even-
tualmente prever a sua evoluo.
A anlise da poltica internacional apresenta as
mesmas dificuldades que a pesquisa sobre um qual-
quer objecto complexo das cincias sociais.
Tendo em vista um estatuto cientfico, a teoria das
Relaes Internacionais procura desenvolver os
conceitos que permitam esclarecer a compreenso
deste domnio especfico da poltica e organizar o
conhecimento de maneira sistemtica e coerente,
estabelecendo hipteses e procedimentos de pesquisa
cujos resultados possam ser validados racionalmente,
pelo controlo intersubjectivo. Nesta perspectiva, o
politlogo esfora-se por definir com o mximo de
preciso possvel a especificidade das Relaes
Internacionais, isto , os conceitos que permitem
delimitar os fenmenos e os processos que consti-
tuem a sua trama ou as principais estruturas que
marcam a sua evoluo. Atravs desta construo
intelectual, ele define igualmente as variveis a ter
em conta, bem como as hierarquias a estabelecer
entre essas variveis. Empenha-se, por isso, em cons-
truir instrumentos de medida rigorosos.
Em suma, pode-se definir a teoria das Relaes
Internacionais como a procura de quadros concep-
tuais que permitam a organizao da pesquisa, orien-
tando a formulao de hipteses pertinentes sobre
a explicao dos fenmenos ou dos processos estu-
dados, enriquecendo a sua compreenso. Esta teo-
ria, apesar das suas pretenses iniciais, deve fixar-se
actualmente em objectivos modestos: melhorar a
compreenso das Relaes Internacionais, desen-
volver o conhecimento do comportamento dos
Estados, bem como das outras foras polticas em
TEORIA DA PAZ DEMOCRTICA 187
A teoria dos jogos contribuiu decisivamente para
o desenvolvimento de modelos de dissuaso e
controlo da corrida aos armamentos e da espiral de
guerra. Foi tambm muito importante para o desen-
volvimento de trabalhos que explicam a possibili-
dade da cooperao entre actores concorrentes num
sistema competitivo e anrquico. A possibilidade da
cooperao, ou de jogos de soma positiva, a prin-
cipal questo de muitas das abordagens das Relaes
Internacionais, como so os casos dos trabalhos sobre
os regimes internacionais, a integrao regional e a
resoluo de conflitos.
TEORIA DA PAZ DEMOCRTICA
Teoria que defende que democracias constitucionais
consolidadas, partilhando regras de actuao e orga-
nizao, no se envolvem em conflito entre si.
Deste modo, esta teoria de raiz kantiana baseia-se
no seguinte pressuposto bsico: as Relaes Interna-
cionais entre Estados democrticos so intrinseca-
mente mais pacficas que as relaes entre Estados
com outro tipo de regimes polticos. Para comprovar
a realidade desta hiptese da paz democrtica, te-
ricos como Michael Doyle tentaram demonstrar uma
relao causal entre a varivel independente estru-
turas polticas democrticas ao nvel estatal e a vari-
vel dependente confirmada a ausncia de guerra
entre Estados democrticos. Crticos desta teoria, como
Ido Oren, contestam a sua validade determinista, insis-
tindo na existncia de uma interpretao elstica do
conceito de democracia, o que enfraquece esta teoria.
TEORIA DO PERTURBADOR
CONTINENTAL
Conceito do almirante francs Raoul Castex, que defi-
niu o poder martimo por oposio ao poder conti-
nental atravs desta teoria. Esta inscreve-se nas pro-
posies de Mahan, porque se fundamenta em prin-
cpios semelhantes: o domnio das comunicaes
martimas o factor geogrfico mais importante para
a aquisio e exerccio do poder poltico pelos Estados;
pode no ser condio da sua soberania mas -o da
sua grandeza. Partindo da anlise histrica, Castex
afirma que a Europa, nos ltimos cinco sculos, foi
inquietada por cinco vezes, uma vez por sculo, com
uma periodicidade regular. Essa agitao partiu sem-
pre de uma nao ou de um grupo poltico que aspi-
rava ao domnio das comunicaes martimas e
hegemonia na Europa. Fundamentava-se nos exem-
plos ocorridos com Carlos V e Filipe II, em Espanha,
com Lus XIV e Napoleo em Frana e com o impe-
rador Guilherme II na Alemanha.
O modelo geopoltico do perturbador seria o de
uma nao desenvolvida, activa, ambiciosa e com
uma forte vontade de expanso. Era ainda caracte-
rizada por ser jovem e com uma grande vitalidade.
Estas caractersticas induziam a potncia pertur-
badora a actuar de forma vigorosa e enrgica, inves-
tindo contra tudo o que contrariasse as suas ten-
dncias. E, nessa luta gigantesca, acabaria sempre por
nal. No podemos ter qualquer certeza cientfica neste
domnio. Um conflito armado, por exemplo, pode
explicar-se pela teoria do imperialismo, pela afirma-
o do carcter agressivo de um dado poder, pela an-
lise das relaes entre os povos ou ainda pela afirma-
o do temperamento agressivo do homem de Estado,
mas tambm pela combinao de todos estes factores.
O conceito que melhor d conta da realidade da
sociedade internacional exactamente o da relati-
vidade.
Retomemos a anlise de Maurice Duverger: Em
vez de procurar atingir uma objectividade e uma neu-
tralidade que so inacessveis no estdio actual do
desenvolvimento das cincias sociais, o socilogo
deve estar consciente da impossibilidade de passar
sem ideologias, a fim de delimitar a deformao que
da resulta. Isto implica, em primeiro lugar, que ele
esteja consciente da sua prpria ideologia e que a
confesse. Em seguida, implica que tenha em conta
no s a sua prpria ideologia, mas outras, para poder
construir as suas hipteses e as suas teorias.
Num outro sentido, podemos falar de teorias filo-
sficas, de acordo com Stanley Hoffmann, que faz a
distino entre a teoria emprica, virada para o
estudo de fenmenos concretos, e a teoria filosfica,
virada para a realizao de um ideal ou um julgamento
da realidade em nome de certos valores, ou a des-
crio da realidade baseada numa concepo a priori
da natureza do homem ou a de diversas instituies.
Convm reter esta ltima concepo: a teoria filo-
sfica uma concepo a priori da natureza das ins-
tituies sociais que mistura reflexo, observao,
convico e intuio.
A teoria filosfica constituda por todas as inter-
rogaes, assim como por todas as proposies gerais
que misturam a doutrina, a reflexo e a hiptese rela-
tivas natureza da sociedade internacional. A teo-
ria filosfica designada por teoria poltica no dom-
nio da Cincia Poltica.
A Cincia Poltica contempornea usa hoje esta
expresso, no para evocar a ideia de um sistema de
explicao cientfica das sociedades, mas sim para
falar das doutrinas relativas natureza dos sistemas
sociais.
A teoria poltica elabora as questes significativas
que se colocam permanentemente a propsito da rea-
lidade social: porque que os Estados fazem a guerra?
Quais so os objectivos das potncias? Existe uma
comunidade universal dos indivduos, uma huma-
nidade para l das soberanias e das barreiras estatais?
A teoria coloca estas questes, bem como muitas
outras, tentando dar-lhes uma resposta; levada a
formular conceitos e sistemas conceptuais (Raymond
Aron). Alimenta-se da aco, da reflexo, do conhe-
cimento dos factos e da imaginao, e alimenta, por
sua vez, a cincia social que contribuiu para cons-
truir. Estimula a actividade do historiador e do soci-
logo, o seu poder de explicao geral, o sistema de
explicao que ir sugerir ou gerar hipteses que
permitiro por sua vez a elaborao de leis e de teo-
rias parciais de natureza sociolgica, uma vez que a
anlise sociolgica no se pode fazer sem o apoio da
teoria.
TEORIA DAS RELAES INTERNACIONAIS 188
cena, e explicar com o maior rigor possvel certos
tipos de fenmenos ou processos. Geralmente, os
diferentes quadros de anlise constituem menos um
conjunto de proposies coerentes, donde se pode
deduzir as consequncias susceptveis de serem vali-
dadas atravs de uma confrontao rigorosa com a
realidade, do que uma srie de enunciados meta-
tericos que esclarecem as estruturas, que marcam
a evoluo da poltica internacional, e que permitem
interpretar o comportamento dos seus principais
actores.
Philippe Braillard faz a distino entre teorias
gerais das Relaes Internacionais e teorias parciais.
As primeiras pretendem fornecer um quadro concep-
tual explicativo da dinmica das Relaes Internacio-
nais no seu conjunto, enquanto que as segundas pre-
tendem explicar um acontecimento ou um processo
particular.
De qualquer modo, existe um nvel essencial an-
lise e compreenso em profundidade das realidades
internacionais, isto , o nvel terico, que pode ser
entendido em dois sentidos distintos, o da teoria cien-
tfica e o da teoria filosfica.
No primeiro sentido, a teoria para as cincias
sociais o que para as cincias exactas; falaremos
ento de teorias cientficas, isto , de um conjunto
de teoremas elaborados a partir da experimentao,
ou ainda um conjunto de generalizaes ligadas entre
si dedutivamente e demonstrveis ou verificveis.
Nesta perspectiva, podemos afirmar que no pode
existir teoria cientfica das Relaes Internacionais.
evidente que a anlise cientfica da sociedade inter-
nacional realizou progressos considerveis com o
aparecimento da Sociologia das Relaes Internacio-
nais. Mas esta contribuio cientfica desaguou ape-
nas em teorias limitadas, que permitiram iluminar
alguns domnios particulares das Relaes Interna-
cionais tais como a elaborao da poltica externa, a
dinmica da corrida aos armamentos, o decorrer de
uma crise, a negociao. Trata-se de uma teoria par-
cial ou de um nvel mdio de teoria (middle range
theory). Isto significa que dispomos de anlises objec-
tivas a partir de observaes repetidas ou ainda de
explicaes de natureza racional fundadas em cor-
relaes e no s, e apenas de senso comum.
Este desenvolvimento de teorias parciais, contudo,
no quadro da Sociologia das Relaes Internacionais,
no nos permite falar de teoria geral aplicvel s Rela-
es Internacionais.
O fracasso dos defensores de uma teoria cientfica
geral das Relaes Internacionais deve-se ao erro
de querer organizar a teoria em torno de um con-
ceito-chave, o poder ou o interesse nacional. Ora,
a sociedade internacional no dominada s por um
elemento, mesmo que o interesse nacional, por exem-
plo, continue a ser um elemento importante das Rela-
es Internacionais.
Efectivamente, na sociedade internacional, a orga-
nizao poltica informal, porque no existe essa
diviso entre os governantes e os governados que rege
o conjunto dos grupos sociais internos.
primeira vista, ningum pode dar com preciso
a explicao definitiva de uma situao internacio-
-Bretanha, John Locke argumentou que apesar do
Estado de natureza e da inexistncia de uma sobe-
rania colectiva, os povos podiam desenvolver laos
e fazer contratos entre si, diminuindo assim a vio-
lncia e a ameaa da anarquia. Mais tarde, Immanuel
Kant, no seu Projecto de Paz Perptua, sublinhar
a possibilidade nunca a inevitabilidade da socie-
dade internacional se organizar racionalmente de
acordo com uma ordem republicana e cosmopolita.
Estas duas vises so as percursoras filosficas das
duas teorias contemporneas da poltica interna-
cional: uma mais pessimista, a realista, e outra mais
optimista, a institucionalista liberal.
TEORIAS CONSTRUTIVISTAS
(CONSTRUTIVISMO SOCIAL)
As teorias construtivistas criticam o realismo e o
liberalismo, pois acreditam que estas duas corren-
tes dominantes so incapazes de explicar as mudan-
as que esto a acontecer na poltica mundial. Os
construtivistas esto interessados em examinar os
processos pelos quais lderes, povos e culturas deter-
minam as suas escolhas, moldam as suas identida-
des e alteram os seus comportamentos. Os constru-
tivistas salientam que os conceitos bsicos que estru-
turam a nossa vida e a nossa cincia so constru-
dos socialmente, no existem no mundo como uma
realidade dada e permanente. Deste modo, os con-
ceitos bsicos como Estado-nao, soberania,
anarquia, so socialmente construdos e tm sido
largamente influenciados pelas ideias e normas domi-
nantes em cada poca. O construtivismo social tenta
ultrapassar a anlise racionalista instrumental cls-
sica que caracteriza as duas teorias principais das
Relaes Internacionais, o liberalismo e o rea-
lismo, tentando analisar como que as identidades,
a cultura, e as ideias influenciam o exerccio cons-
trutivo de qualquer deciso.
TEORIAS DA INTEGRAO
De acordo com Philippe Braillard, trata-se do estudo
da integrao, isto , da formao de uma comuni-
dade poltica atravs da unio de duas ou mais comu-
nidades polticas, podendo situar-se em diversos
nveis: nacional, regional, mundial. Seja qual for o
grau de integrao considerado, a integrao implica
a existncia de condies que permitem resolver, sem
recurso violncia em larga escala (sem recurso
guerra), os diversos conflitos que podem nascer no
quadro do sistema que enforma as sociedades parti-
cipantes nesta integrao.
Dentro das teorias de integrao podemos distinguir
duas concepes, a institucional e a funcionalista.
A concepo institucional, que a dos federalis-
tas, tem por objectivo a integrao em que as diver-
sas comunidades participam, graas criao de um
quadro institucional, conservando cada uma certa
autonomia. A concepo funcionalista, que assenta
num postulado utilitarista e est orientada essen-
TEORIA DO SISTEMA-MUNDO 189
Em concluso, poder-se- dizer que as Relaes
Internacionais devem ser abordadas por trs prismas:
a Teoria, a Sociologia e a Histria. Pela teoria, a cin-
cia das Relaes Internacionais interroga-se sobre a
natureza e as competncias fundamentais da socie-
dade internacional. Pela Sociologia, interroga-se
sobre as regularidades da sociedade internacional.
Pela Histria interroga-se sobre o desenrolar da vida
internacional e a transformao da sociedade inter-
nacional (Jacques Huntzinger).
TEORIA DO SISTEMA-MUNDO
Abordagem terica associada em especial obra de
Immanuel Wallerstein, que analisa o desenvolvi-
mento de determinadas sociedades no que diz res-
peito ao seu posicionamento dentro de sistemas
sociais globais.
TEORIAS
Qualquer investigador de Relaes Internacionais
tem de se confrontar com a necessidade de tentar
entender a poltica internacional como um todo.
Ao tentar faz-lo est a teorizar, est a participar na
construo de uma imagem do sistema interna-
cional. Efectivamente, qualquer afirmao que tenha
como objectivo descrever ou explicar qualquer
acontecimento de poltica internacional , em
ltima anlise, uma afirmao terica. perfei-
tamente ingnuo e superficial tentar discutir as
Relaes Internacionais somente com base nos fac-
tos. Isto porque, qualquer seleco de factos lite-
ralmente abstracta, ou seja, esta seleco feita a par-
tir de uma pluralidade de factos disponveis. Deste
modo, a questo que podemos colocar : por que que
determinados factos escolhidos so importantes? Ao
que respondemos: porque estes se ajustam a um con-
ceito, que, por sua vez, se ajusta a uma teoria, inse-
rindo-se a teoria numa imagem, numa viso do mundo.
O objectivo aqui no examinar as vrias teorias
existentes dentro do campo de estudo das Relaes
Internacionais. Em vez disso, iremos contrapor duas
grandes imagens ou vises do sistema poltico inter-
nacional, demonstrando assim como o desenvolvi-
mento do sistema internacional pode ser, de acordo
com a imagem adoptada, diferentemente interpre-
tado. Neste sentido, iremos recorrer a dois grandes
paradigmas tericos: o primeiro, que designaremos
de pluralista, ou institucionalista liberal e o segundo
de tradicional ou realista. Podemos considerar os dois
paradigmas modernos em anlise, o realista e o ins-
titucionalista liberal, como herdeiros das primeiras
tentativas de teorizar sobre a natureza das relaes
entre unidades polticas. Neste sentido, os realistas
tm a sua raiz histrica no historiador grego
Tucdides, bem como no pensamento de Maquiavel
e mais tarde no do filsofo britnico Thomas Hobbes.
Hobbes que escreveu numa Gr-Bretanha dilacerada
pela guerra civil, ressaltou na sua obra poltica a
segurana, a fora e a sobrevivncia. Meio sculo
depois, escrevendo numa menos tormentosa Gr-
vado. A questo do desenvolvimento durvel e sus-
tentvel permanece em aberto e a luta contra a
pobreza continua a ser um desafio inultrapassvel
quanto preservao do nosso planeta.
TERRORISMO
Sendo um termo que se localiza no interface das cin-
cias sociais e da poltica, praticamente impossvel
chegar a uma definio pertinente e operacional, que
no esteja automaticamente ligada a conotaes
negativas, razo pela qual os actores polticos a uti-
lizam para desqualificar outros actores.
De uma certa forma, pode-se sempre vir a ser um
terrorista para algum. Com efeito, em certos con-
textos polticos ou militares, um actor pode ser um
terrorista para uns e um heri ou resistente para
outros; ou num momento, ser considerado terrorista,
e noutro momento passar a ser um herico comba-
tente.
Sendo esta qualificao um meio de desqualifica-
o, ela torna-se uma dupla e poderosa arma pol-
tica: o adversrio chamado de terrorista no tem o
direito a ser levado em considerao e relegado para
um nvel infrapoltico, de onde se excluem todas as
regras do jogo poltico.
Os responsveis da Organizao de Libertao da
Palestina (OLP) so considerados pelos israelitas
como assassinos terroristas, esquecendo que lde-
res israelitas como Menahem Begin, tambm foram
considerados terroristas ao lutarem contra os ingle-
ses e rabes na dcada de 1940, chefiando movi-
mentos secretos pr-independncia de Israel. Bin
Laden, antes de ser considerado o terrorista primeiro
para os EUA e grande parte do mundo, foi o com-
batente da liberdade contra o exrcito sovitico, no
Afeganisto.
E os curdos, no Iraque, heris quando combate-
ram Saddam Hussein, passaram a terroristas quando
atravessaram a fronteira com a Turquia.
Esta lgica, em ltima instncia, justifica qualquer
acto de violncia legitimado, desde que se invente
uma justificao: todos os actos de violncia seriam
igualmente aceitveis ou condenveis; ora, a verdade
que, tais actos, quando brbaros e insensveis aos
princpios universais de gente civilizada, devem ser
classificados de terroristas.
Segundo Raymond Aron, uma aco violenta
denominada de terrorismo quando os seus efeitos psi-
colgicos ultrapassam em muito os seus resultados
puramente fsicos. Esta definio no se pode, con-
tudo, separar das circunstncias histricas, nas quais
o autor refere, por exemplo, a Segunda Guerra
Mundial e a Guerra da Arglia, acrescentando que,
neste sentido, os atentados ditos indiscriminados dos
revolucionrios so terroristas, como o foram alguns
bombardeamentos anglo-americanos de determina-
das zonas. Para ele, o essencial est nesta dimen-
so psicolgica: o acto cometido impressiona e afecta
fortemente os espritos em condies que variam de
acordo com os contextos.
Num contexto completamente diferente, Benjamin
Netanyahu defende que o terrorismo a morte sis-
TEORIAS NORMATIVAS 190
cialmente para a aco, considera que o mais seguro
caminho para a integrao e para a paz o da coope-
rao ao nvel de certas tarefas funcionais de natu-
reza tcnica e econmica e no o da criao, no plano
poltico, de novas estruturas institucionais.
TEORIAS NORMATIVAS
As teorias normativas dizem respeito aos valores e
s preferncias morais. Contrariamente s teorias
empricas, as proposies das teorias normativas no
esto sujeitas a testes empricos como forma de esta-
belecerem a sua verdade ou falsidade. As teorias nor-
mativas no tm como objecto de estudo os dom-
nios da teoria emprica, ou seja, a anlise do que
existe. Ao contrrio, as teorias normativas tm como
objecto de estudo a preocupao de pensarem no que
deveria ser, ou seja, a sua preocupao fundamental
no a anlise descritiva do que existe, mas sim a
anlise normativa de como o mundo deveria ser orde-
nado e de quais os valores que deveriam presidir s
escolhas que os decisores deveriam tomar.
TEORIAS PLURALISTAS
DE DEMOCRACIA
Teorias que realam o papel dos vrios grupos de inte-
resse que, ao concorrerem entre si, evitam que o
poder esteja demasiado concentrado nas mos dos
lderes polticos.
TERCEIRO MUNDO
O termo apareceu, pela primeira vez, em 1952, pelo
demgrafo Alfred Sauvy, por analogia com o terceiro
Estado. Simbolicamente criado em 1955, com a con-
ferncia de Bandung, o terceiro mundo designou um
conjunto de pases heterogneos, cujo trao comum
consiste em no terem efectuado a Revoluo Indus-
trial no sculo XIX.
Numerosos pases classificados como de terceiro
mundo nas dcadas de 1950 e 1960, deixaram de o
ser, tendo-se multiplicado a diversidade dos mesmos
quanto a nvel de vida e actividades econmicas, espe-
rana de vida, nvel educativo, etc. Assim aconteceu
com os drages do Pacfico Coreia do Sul, Taiwan,
Singapura , com certos gigantes econmicos como
o Brasil e o Mxico, sem esquecermos a China, que
se tornou na terceira potncia mundial, logo atrs
dos EUA e do Japo.
Numerosos autores substituram o conceito de ter-
ceiro mundo pela noo mais pragmtica de sul, por
oposio ao norte rico e dominante, mesmo se nem
todos os pases ricos esto no norte e os pases pobres
no sul.
Presentemente, designao de pases do terceiro
mundo, ou pases do sul, utilizam-se as expresses
de pases subdesenvolvidos, pases em vias de desen-
volvimento e pases emergentes, o que no quer dizer
que o problema de fundo, o desnvel entre pases ricos
e pases pobres, no permanea e no se tenha agra-
cos (como sucedeu com a Aliana Anticomunista da
Argentina e, em certa medida, com os Esquadres da
Morte brasileiros); o separatismo (como sucede com
a Euskadi Ta Askatasuna ETA); a afirmao de con-
vices religiosas (como sucede com alguns movi-
mentos fundamentalistas).
Por outro lado, importa tambm chamar a aten-
o para o facto de estarem a surgir novas formas
de actividades terroristas, como seja o terrorismo
informtico, que visa destruir ou danificar sistemas
informticos, tais como bases de dados civis e mili-
tares, ou ainda sistemas de telecomunicaes, no
intuito de desestabilizar um determinado Estado ou
de fazer presso sobre os poderes pblicos, e o ter-
rorismo ambiental com idnticos objectivos.
A diversidade de actores susceptveis de recorrer
a actos terroristas enorme: desde um pequeno
grupo de indivduos ou mesmo um indivduo isolado,
at aos poderosos servios especiais de um Estado.
No entanto, podemos distinguir, pelo menos, trs
principais tipos de actores: os movimentos de liber-
tao, os Estados e as seitas polticas.
Se os movimentos de libertao que deram origem
s guerrilhas clssicas quase desapareceram e se o
terrorismo de Estado no tem mais a importncia que
teve no passado, as seitas, pelo contrrio, e certos
grupos terroristas tm proliferado ao ponto de apa-
recerem actualmente como uma ameaa extrema-
mente preocupante, porventura, a ameaa mais ter-
rvel do sculo XXI.
Muitos autores e especialistas na luta antiterrorista
defendiam que, privadas do seu tradicional apoio com
a queda da URSS, as organizaes terroristas mais
radicais j no estariam em condies de actuar. Foi,
de facto, o que se passou com algumas, mas outras
tomaram os seus lugares e num contexto poltico
muito mais indefinido, o que pe por terra a ideia
de que o terrorismo no iria subsistir aps o fim da
guerra fria, a no ser sob uma forma meramente mar-
ginal. Actualmente, a ameaa terrorista planet-
ria diversificando-se quanto sua origem e modos
de expresso (Jean-Luis Bruguire).
O fenmeno no novo, nem pela sua magnitude,
nem pela sua dimenso internacional, nem pelo seu
irracionalismo, como se v, por exemplo, com os aten-
tados desenvolvidos pelos anarquistas, em finais do
sculo XIX, em todo o Ocidente. Novos, so os meios
utilizados, a constituio de redes terroristas alta-
mente sofisticadas e o cenrio do conflito Islo/Oci-
dente, que serve de pano de fundo ou justificao para
grande parte dos ataques terroristas perpretados.
A lgica de actuao nas aces terroristas repousa
sobre alguns princpios simples. Desde logo, o da
concentrao no tempo: uma aco terrorista surge
bruscamente num dado momento e repercutida nos
mdia desmesuradamente amplificada. A concen-
trao no tempo pode resultar no s de uma aco,
mas de vrias, repartidas sobre um curto perodo, cuja
durao ningum conhece. Isto leva-nos ao segundo
princpio, a maximizao do incerto. O acto terro-
rista errtico (no fixo, nem regular), aleatrio
(pode surgir sem se saber onde nem quando) e ins-
lito ( contrrio ordem e produz uma ruptura na
TERRORISMO 191
temtica e deliberada de inocentes para inspirar o
medo com fins polticos.
O terrorismo tambm pode ser definido como
uma intimidao coerciva ou como o uso sistem-
tico do assassnio, violncia, destruio ou medo,
para criar um clima de terror, no sentido de chamar
a ateno para uma causa ou coagir um alvo inimigo.
Ou como prtica poltica de recorrer sistematica-
mente violncia contra pessoas ou coisas, provo-
cando terror.
A definio de Paul Wilkinson mais precisa, uma
vez que, para ele, o terrorismo o uso sistemtico
de uma violncia poltica por pequenos grupos de
conspiradores, cujo objectivo influenciar as posi-
es polticas muito mais do que destruir material-
mente o inimigo. A inteno da violncia terrorista
psicolgica e simblica.
Segundo o Parlamento Europeu (2001), o acto de
terrorismo todo e qualquer acto cometido por indi-
vduos ou grupos que recorram violncia ou amea-
cem utiliz-la contra um pas, as suas instituies,
a sua populao em geral ou indivduos concretos,
e que, alegando aspiraes separatistas, por concep-
es ideolgicas extremistas ou pelo fanatismo reli-
gioso, ou ainda pela avidez do dinheiro, visam sub-
meter os poderes pblicos, determinados indivduos
ou grupos da sociedade ou, de forma geral, a popu-
lao a um clima de terror.
Ainda segundo o Parlamento Europeu, os actos
terroristas no seio da Unio Europeia devem ser con-
siderados como actos criminosos que visam modifi-
car, em Estados de Direito, as estruturas polticas,
econmicas, sociais e ambientais, ameaando con-
cretamente utilizar a violncia ou recorrendo a ela,
distinguindo-se, desse modo, de actos de resistncia
praticados em pases terceiros contra estruturas esta-
tais que revestem, elas prprias, uma dimenso ter-
rorista.
O terrorismo , pois, o uso da violncia com o pro-
psito de exercer uma extorso, coaco e publici-
dade para uma causa poltica. Esta definio sugere
que o terrorismo resulta, no mnimo, da combina-
o de vrios elementos, a saber: a ameaa ou o uso
real da violncia no convencional, desenvolvida tanto
para atacar como para obter publicidade ou causar
o terror; uma violncia motivada politicamente; a
natureza quase incidental dos objectivos contra os
quais se orienta e executa a violncia; as vtimas,
sejam as pessoas, sejam os bens, tm uma relao
indirecta com os grandes objectivos que orientam tal
violncia; a tendncia de quem exerce o terrorismo
ser um actor no estatal, isto , grupos marginais,
a quem se nega um estatuto legtimo e que buscam
afectar ou subverter uma certa forma de ordem esta-
belecida.
Em concluso, podemos afirmar que o terrorismo
assenta no recurso sistemtico violncia como
forma de intimidao da comunidade no seu todo.
No entanto, a prtica do terror pode visar finalida-
des polticas muito distintas: a subverso do sistema
poltico (como sucedeu com as Brigadas Vermelhas
em Itlia ou com o Baader Meinhof na Alemanha);
a destruio de movimentos cvicos ou democrti-
Quatro anos depois, o etnlogo e musiclogo
cubano Ortiz (1940) introduz o conceito de trans-
culturalidade no pensamento antropolgico. No pre-
fcio obra de Ortiz, Malinowski observa: um pro-
cesso no qual se d sempre qualquer coisa em troca
do que se recebe. um processo no qual as duas par-
tes da equao saem modificadas. Um processo a par-
tir do qual emerge uma nova realidade, composta e
complexa, uma realidade que no nem a aglome-
rao mecnica dos caracteres, nem um mosaico,
mas trata-se de um fenmeno novo, original e inde-
pendente. A transculturao um fenmeno que
est presente no multiculturalismo, sendo este
entendido, em termos sociolgicos, como a presena
de diferenas culturais numa determinada sociedade,
presena que se faz sentir pela existncia de afir-
maes de identidades religiosas, tnicas, nacionais,
raciais, etc. O multiculturalismo tambm um fen-
meno de mestiagem, termo herdado da colonizao
a partir do mestio, que designava aqueles que eram
provenientes de uma unio entre Brancos e ndios
(o mulato e o crioulo designando os descendentes dos
Brancos e dos Negros). Nestas noes h contudo uma
ideia de degenerescncia e uma conotao pejorativa,
na prpria medida em que a maior parte das sociedades
fundam a sua identidade na recusa da mestiagem.
Em Casa-Grande e Senzala (1933), o socilogo
brasileiro Gilberto Freyre fala de miscigenao para
exprimir o encontro cultural e sexual dos ndios, dos
africanos e dos portugueses, que produziu um povo
novo (Freyre fala tambm de tropicalismo ou de luso-
-tropicalismo, que o contrrio de diferencialismo
tnico). A mestiagem torna-se ento no orgulho de
ser brasileiro. A verdade que no Brasil os cruza-
mentos raciais, culturais e religiosos originaram for-
mas culturais inditas ou pelo menos muito parti-
culares: o candombl, que coexiste com o catoli-
cismo, prova disso.
As categorias de transculturalidade e de miscige-
nao assentam porm num pressuposto subjacente,
o de duas matrizes culturais isto , raas, conjun-
tos sociais, culturais e lingusticos que tendo-se
encontrado deram origem a um fenmeno impuro
ou heterogneo embora no Brasil a mestiagem seja
sobretudo vivida na aceitao da pluralidade como
valor constituinte.
Em termos polticos e ticos, a transculturalidade
e o multiculturalismo oscilam entre um universa-
lismo que encara os indivduos como cidados com
direitos iguais, e os defensores dos particularismos
culturais e de identidade. Conciliar as duas posies
ser conciliar o direito a uma cultura prpria, com
o direito cidadania, ou seja participao plena na
vida pblica.
TRANSIO DEMOGRFICA
O conceito significa a passagem de um estado de
equilbrio em alta, em que a mortalidade e a fecun-
didade tm elevados nveis (demografia do Antigo
Regime), para um outro estado de equilbrio em baixa,
em que a mortalidade e a fecundidade apresentam
TOTALITARISMO 192
ordem estabelecida). Provoca inquietude, suscita o
medo e alimenta o boato. A simples ameaa pode
substituir-se aco propriamente dita e conduzir
a fenmenos de psicose colectiva que os terroristas
procuraro explorar da melhor forma.
Nos sistemas democrticos, que construram
caminhos de acesso poltica fundados na excluso
da violncia, a brutal erupo de actos terroristas,
na maior parte das vezes incompreensveis, abso-
lutamente inaceitvel nos planos tico e poltico. O
acto terrorista constitui sempre um atentado inte-
gridade da vida humana, quer se trate de fazer refns,
desviar avies ou promover atentados indiscrimina-
dos e assassinatos.
Face negra da globalizao, desterritorializado ou
implantado em zonas inacessveis, com uma capa-
cidade de mutao elevada, protoplsmico e acfalo
por vezes, o terrorismo constitui hoje uma ameaa
e uma realidade perante a qual o Estado, por si s,
se revela incapaz de afrontar e debelar: a Al-Qaeda,
por exemplo, estabeleceu uma rede de ncleos e clu-
las escala mundial a exigir a concertao dos Esta-
dos para a sua erradicao.
Os atentados de 11 de Setembro de 2001 nos Esta-
dos Unidos da Amrica deram origem ao terrorismo
de massas, primeira guerra mundial do novo sculo
(Manuel Castells), causando milhares de vtimas, e
abrindo as portas guerra antiterrorista, que segu-
ramente se ir desenvolver no sculo XXI.
TOTALITARISMO
Regime poltico em que o grupo que detm o poder
pretende governar totalmente o pas. Nestes regimes,
a par da existncia de todas as caractersticas dos regi-
mes autoritrios, no que concerne ausncia de qual-
quer tipo de liberdade, no h lugar para a autono-
mizao de qualquer iniciativa fora do alcance ou
controlo do Estado. O todo um s e as partes que
o compem so dele elementos integrantes sem indi-
vidualidade ou possibilidade de aco prpria. No
h lugar iniciativa privada e, de um modo geral, a
prtica religiosa proibida, j que a Igreja habi-
tualmente vista como um contrapoder.
TRANSCULTURAO
A transculturao o processo pelo qual um fen-
meno passa de uma cultura para outra, dizendo por
isso respeito aos contactos e cruzamentos de cultu-
ras diferentes. Nos anos 1900-1935, antroplogos e
socilogos americanos prestaram especial ateno s
relaes entre os diferentes grupos de imigrantes
atravs das suas trocas culturais. Em 1936, Redfield,
Linton e Herskovits definem a aculturao como o
conjunto dos fenmenos que resultam do contacto
contnuo entre grupos de culturas diferentes, pro-
vocando alteraes nos modelos iniciais dos grupos
em presena. O termo foi aplicado aos fenmenos
exgenos, resultantes das influncias exteriores, dis-
tinguindo-se da assimilao no que esta tem de inte-
riorizao da cultura do grupo dominante.
minar os msseis nucleares de mdio e pequeno
alcance. O tratado previa a destruio dos msseis
balsticos e de cruzeiro com alcance entre 500 e 5
000 quilmetros, dos seus lanadores e das estrutu-
ras e equipamentos de apoio. O final da guerra fria
e a queda do bloco sovitico retiraram grande parte
da importncia estratgica ao tratado. Contudo, o
Tratado sobre Foras Nucleares Intermdias consti-
tuiu um marco importante no incio do processo de
dtente da doutrina Gorbatchev.
TRATADO GERAL
So tratados gerais os tratados ou convenes mul-
tilaterais que tm uma vocao universal, ou seja,
aqueles que pretendem regular as relaes escala
planetria. So sempre tratados-lei (este , alis,
o seu domnio mais importante, como bem se com-
preende), na medida em que as suas estipulaes assu-
mem obrigatoriamente carcter normativo. A refe-
rida vocao universal implica, por definio, ainda
a sua abertura (ou seja, a possibilidade de a eles se
virem a vincular livremente Estados que no parti-
ciparam na negociao ou no puderam assin-los),
por via da assinatura diferida ou da adeso.
TRATADO SOBRE MSSEIS
ANTIBALSTICOS (ABM)
Anti-Ballistic Missile Treaty
No mbito do processo SALT I, o Tratado sobre
Msseis Antibalsticos, assinado a 26 de Maio de 1972
entre os Estados Unidos da Amrica e a Unio
Sovitica, restringia severamente o direito a ambas
as partes de instalar sistemas de msseis com o intuito
de defender centros populacionais ou a localizao
dos seus prprios msseis balsticos intercontinen-
tais (ICBM). Trata-se de um sistema de intercepo
de msseis com vista a defender determinados alvos
contra msseis ofensivos, nomeadamente em resul-
tado do desenvolvimento da tecnologia MIRV (mul-
tiple independently targeted re-entry vehicles). O tra-
tado limitava as superpotncias a dois sistemas ABM,
no possuindo, cada um, mais do que 100 intercep-
tores. O tratado foi relativamente fcil de negociar,
porque apesar de ambas as partes j terem comeado
a construir e instalar este tipo de sistemas, era claro
que qualquer sistema de defesa efectivo contra os
msseis balsticos seria extremamente dispendioso.
Tornou-se um exemplo clssico de um acordo de con-
trolo de armamento proibindo algo que na realidade
ningum pretendia. Quando o presidente norte-
-americano Ronald Reagan anunciou a Iniciativa de
Defesa Estratgica, em 1983, um projecto que ficou
conhecido como Guerra das Estrelas, a Unio Sovi-
tica e outras potncias afirmaram que este violava o
Tratado ABM. Contudo, a iniciativa parece que teve
mais a ver com o desejo norte-americano de pressio-
nar a economia sovitica e for-la a negociar a redu-
o de armamento estratgico, do que com a inteno
de construir o que para muitos peritos era impossvel.
TRATADO 193
baixos nveis (demografia moderna). Tudo isto na
sequncia de um processo de desenvolvimento socio-
econmico.
TRATADO
Tratado utilizado, tanto em termos genricos
(designando o mesmo que conveno internacio-
nal), como em termos especficos, referindo-se a um
acto dotado de caractersticas especiais. Assim, por
exemplo, na doutrina e na prtica nacionais utili-
zado para designar uma das variantes das convenes:
os tratados solenes (por oposio, portanto, aos
acordos em forma simplificada). Essa a terminolo-
gia utilizada pelo legislador constitucional portugus.
TRATADO SOBRE FORAS
CONVENCIONAIS NA EUROPA
Conventional Armed Forces in Europe (CFE) Treaty
A assinatura do Tratado sobre Foras Convencionais
na Europa, em 19 de Novembro de 1990, como um
processo paralelo Cimeira de Paris da Conferncia
de Segurana e Cooperao na Europa, tinha por
objectivo o estabelecimento do equilbrio militar
entre a OTAN e o Pacto de Varsvia. Visava cor-
tes significativos no armamento convencional e esta-
belecia tectos relativamente ao nmero de armas e
foras convencionais que os signatrios poderiam
manter. De acordo com o tratado, todo o equipa-
mento que ultrapassasse os limites estabelecidos teria
de ser destrudo at quarenta meses aps a entrada
em vigor do documento. O Tratado definia ainda a
criao de um grupo consultivo em Viena, em aco
a partir de 1990, responsvel por questes de cum-
primento, interpretao e aspectos tcnicos. O Tra-
tado sobre Foras Convencionais na Europa estabe-
leceu a renncia sovitica sua hegemonia poltico-
-militar no continente europeu. Negociaes tendo
em vista a reviso do acordado em 1990 tiveram in-
cio em 1997, com o intuito de adaptar o tratado
nova conjuntura internacional, em particular, desa-
gregao do Pacto de Varsvia, levaram definio
de novos limites, relativamente ao nmero de tan-
ques, artilharia, veculos blindados, helicpteros e
avies de guerra que cada Estado poderia deter. O
documento revisto final foi aprovado na Cimeira de
Istambul da Organizao para a Segurana e Coope-
rao na Europa (OSCE), em Novembro de 1992. A
implementao dos novos tectos implica um corte
de aproximadamente 10% do nmero total de armas
convencionais na Europa.
TRATADO SOBRE FORAS NUCLEARES
INTERMDIAS
Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty
Tratado de desarmamento assinado em Washington,
a 8 de Dezembro de 1987, entre os Estados Unidos da
Amrica e a Unio Sovitica, com o objectivo de eli-
finalidades, a estrutura orgnica (institucional) e res-
pectivas competncias e fixando os principais prin-
cpios e regras de funcionamento. De alguma forma,
a criao de uma organizao internacional implica
sempre a edificao de uma nova ordem jurdica
(mais ou menos desenvolvida), que enquadra as rela-
es entre as partes envolvidas no tocante s mat-
rias que integram o seu escopo.
Com muita frequncia, as convenes internacio-
nais agregam regras de diferentes naturezas. Assim,
por exemplo, a Carta das Naes Unidas no apenas
cria uma organizao internacional (e nessa medida
pode considerar-se um tratado-constituio), como
tambm fixa regras de comportamento essenciais
convivncia internacional de entre as quais, avulta
a anteriormente referida proibio do recurso fora
(assumindo a natureza de tratado-lei).
TRATADO-CONTRATO
O tratado-contrato (classificao que surge por opo-
sio de tratado-lei e ainda de tratado-consti-
tuio), como decorre da noo expressa na desig-
nao, visa estabelecer (fixar) as prestaes e cor-
respondentes contraprestaes a que as partes se
obrigam mutuamente.
Muito embora frequentemente se refira, na dou-
trina, o facto de esta distino no envolver nenhum
efeito jurdico (trata-se, na verdade, apenas de uma
abordagem doutrinal com fins fundamentalmente
pedaggicos, procurando-se salientar as diferentes
lgicas que podem informar a elaborao de uma
conveno, ou melhor ainda, as regras a includas),
vale a pena sublinhar o facto de existirem regimes
cuja aplicabilidade decorre desta natureza. Assim, por
exemplo, na execuo de um tratado-lei no parece
dever aplicar-se o regime da excepo do incumpri-
mento (exceptio non adimpleti contractus), porque
a possibilidade de uma parte ficar desobrigada do
cumprimento de uma conveno face ao incumpri-
mento pela(s) outra(s) apenas faz sentido na medida
em que se enquadrem prestaes e contraprestaes
cujo equilbrio, sendo prejudicado pelo incumpri-
mento, naturalmente desobriga os restantes. Essa
uma regra que tem sentido apenas no plano contra-
tual, o qual desaparece totalmente no plano pura-
mente normativo.
TRATADO-LEI
Esta classificao sublinha a funo normativa que
as convenes podem assumir (e que hoje em dia,
cada vez mais importante), referindo-se portanto
criao, por via convencional, de regras de compor-
tamento aplicveis s partes. Nela se inscrevem as
principais convenes internacionais, tais como a
Conveno de Viena de 1969 sobre direito dos tra-
tados ou a Declarao Universal dos Direitos do Ho-
mem, constituindo o objecto do esforo de codifica-
o do costume (na medida em que o prprio costume
apenas integra normas de comportamento) que
levado a cabo pela Comisso de Direito Internacional.
TRATADO MULTILATERAL 194
TRATADO MULTILATERAL
Os tratados multilaterais so um fenmeno recente:
na perspectiva tradicional, todo o tratado (ou con-
veno) era necessariamente bilateral, agregando,
quando muito, grupos de Estados (por exemplo, nos
tratados que punham fim a conflitos, entendia-se a
bilateralidade garantida pelo facto de estes consti-
tuirem acordos entre duas partes: os vencedores e os
vencidos). A admisso da multilateralidade conven-
cional trouxe consigo especificidades importantes
(em especial no processo de concluso, onde avul-
tam as reservas, a adeso e a eventual instituio
de um depositrio, mas comportando ainda diferen-
as de regime no tocante modificao, aos trata-
dos sucessivos, na excepo de incumprimento, etc.).
Tambm o carcter restrito ou geral dos tratados pode
trazer consigo diferentes regimes em alguns aspec-
tos (por exemplo a aceitao das reservas).
TRATADO RESTRITO
Conveno que agrega um grupo plural de partes
(trs ou mais), mas no obstante, restrito, ou seja,
cujo regime no apresenta uma vocao universal,
no sentido em que no visa regular as relaes entre
todos os Estados mas to-s entre um dado grupo
cujas afinidades especiais justificam um regime pr-
prio. Nos tratados restritos portanto a prpria natu-
reza que impede o seu alargamento.
TRATADO SOLENE
Designao usada para designar convenes cujo pro-
cesso de celebrao obriga ao cumprimento de um
certo nmero de formalidades, maxime impondo a
ratificao como acto de vinculao. Na prtica, os
tratados solenes tendem a impor a interveno dos
vrios rgos de soberania no processo de conclu-
so (executivo, parlamento, chefe de Estado e even-
tualmente os tribunais, como acontece em Portugal),
pelo que essas exigncias so reservadas para con-
venes em matrias particularmente sensveis.
Assim, no caso portugus, elas esto definidas na
Constituio: tratados de participao de Portugal
em organizaes internacionais, os tratados de ami-
zade, de paz, de defesa, de rectificao de fronteiras
e os respeitantes a assuntos militares. Este elenco
obrigatrio no impede que em outros assuntos o
executivo submeta a vinculao ao mesmo procedi-
mento, sempre que entenda que a particular sensibi-
lidade do assunto ou das circunstncias justifique
uma ponderao alargada.
TRATADO-CONSTITUIO
Esta designao (mais modernamente acoplada
distino tradicional entre tratado-lei e tratado-
-contrato) refere-se aos tratados institutivos das
organizaes internacionais, ou sejas, s convenes
que criam as organizaes internacionais, desen-
volvendo assim, a partir da determinao das suas
gar indivduos culpados de genocdio, crimes contra
a humanidade, crimes de guerra e crimes de agres-
so. Ao contrrio dos tribunais ad hoc para o Ruanda
e ex-Jugoslvia, a sua competncia no ser limitada,
nem temporal nem geograficamente. O Tribunal
Penal Internacional (TPI) uma organizao inter-
nacional independente. Em aplicao do artigo 2. do
Estatuto de Roma, est ligado s Naes Unidas por
um acordo que foi aprovado pela assembleia de Esta-
dos, aquando da sua primeira sesso em Setembro
de 2002. Tambm nesta sesso instaurou-se o Fundo
de ajuda em favor das vtimas de crimes que so da
competncia do Tribunal (Resoluo 6). Este fundo
controlado por um conselho de administrao cons-
titudo por cinco membros, cada um dos quais eleito
por um perodo de trs anos, e de acordo com uma
repartio geogrfica equitativa: um lugar para o con-
tinente africano, um para a sia, um para a Europa
de Leste, outro para o grupo de Estados da Amrica
Latina e Carabas e, finalmente, um para a Europa
Ocidental e outros Estados.
O TPI, cuja conveno foi ratificada por 60 pases,
entrou em vigor a 1 de Julho de 2002, e teve a sua
sesso inaugural em Maro de 2003.
O Tribunal composto pela presidncia, por cma-
ras (de apelo, de primeira instncia e preliminar),
pelo gabinete do procurador e por um cartrio.
Em 28 de Novembro de 2003, o nmero de Estados
parte do Estatuto de Roma do TPI era 92. Entre eles,
22 so pases africanos, 26 so membros do grupo
de Estados da Europa Ocidental e outros Estados, 15
so pases da Europa de Leste, 18 so pases da Am-
rica Latina e das Carabas, e 11 da regio da sia.
de realar que no fazem parte deste grupo os Estados
Unidos da Amrica, a Rssia, o Japo e a China.
Tem sede em Haia.
TRILATERALISMO
Forma de anlise das Relaes Internacionais que
entende a tripolaridade como a caracterstica estru-
tural mais significativa, enfatizando os aspectos
econmicos e a possibilidade de cooperao hege-
mnica, resultante da interdependncia implcita
no conceito, entre os trs plos principais, nomea-
damente os Estados Unidos da Amrica, Japo e Unio
Europeia. O conceito no se restringe a actores esta-
tais, incluindo tambm, por exemplo, as corporaes
multinacionais como actores fundamentais no sis-
tema internacional.
TRIPOLARIDADE
Uma variao do sistema multipolar que considera
trs actores ou plos como dominantes, integrando
a Trade. Nas Relaes Internacionais tem sido
mais identificada com relaes econmicas, envol-
vendo os Estados Unidos da Amrica, Japo e Unio
Europeia. O termo foi tambm aplicado, no perodo
da guerra fria, trilogia, primeiro, segundo e terceiro
mundos.
TRINGULOS DE CRESCIMENTO 195
TRINGULOS DE CRESCIMENTO
Os tringulos de crescimento podem ser definidos
como zonas econmicas transnacionais estendendo-
-se sobre reas geogrficas prximas e bem delimi-
tadas de trs ou mais pases.
O objectivo da constituio de tais tringulos foi
o de tirar partido de diferenas estruturais, promo-
ver a complementariedade, incentivar o comrcio
intrazona, desenvolver os recursos naturais e cana-
lizar investimentos nacionais e estrangeiros.
Podem definir-se os seguintes tringulos. O pri-
meiro a ser institudo foi demarcado por Hong-Kong,
Taiwan e as Provncias de Guangdong e Fujian. A
abertura econmica da Repblica Popular da China,
que criou zonas econmicas especiais, propiciou a
deslocao de capitais de Taiwan e Hong-Kong para
beneficiar as indstrias de trabalho intensivo. O
segundo tringulo de crescimento compreende
Singapura Johore Riau (SIJORI) e tem como deli-
mitao a ilha de Singapura, a parte sul do Estado
malaio de Johore e as ilhas da provncia de Riau, na
Indonsia. Trata-se de combinar terras abundantes
e de baixo preo, mo-de-obra indonsia e equipa-
mentos sofisticados de Singapura. Com isto obtm-
-se economias de escala e promove-se a integrao
vertical, base do funcionamento dos oito complexos
industriais, incluindo o parque de Batam, responsvel
por um valor de exportao superior a 600 milhes
de dlares/ano. O terceiro tringulo diz respeito ao
Rio Tumen, situado no nordeste da sia, que con-
torna a provncia chinesa de Jihiu, a Sibria russa e
a Repblica Popular da Coreia. uma rea vocacio-
nada para receber recursos naturais da Sibria e da
Monglia com transformao industrial na zona. A
prpria Coreia do Sul e o Japo esto envolvidos no
projecto. O quarto tringulo de crescimento abarcou
quatro Estados da Federao Malaia (Perak, Penang,
Kedah e Perlis), e as duas Provncias da Sumatra-
-Norte e Acheh (Indonsia) e as cinco Provncias do
sul da Tailndia (Songkhla, Saturn, Yala, Narathiwat
e Pattani). O seu objectivo o de promover um cres-
cimento dirigido pelo sector privado, por forma a
reforar os investimentos, promover as exportaes
e reduzir custos de produo e de distribuio. Esta
rea est ainda numa fase incipiente, mas j existem
projectos de investimento para um perodo de 10
anos. A quinta zona de crescimento, compreende o
Brunei, Indonsia, Malsia e Filipinas (ZCEA-BIMP),
muito rica em recursos naturais (petrleo, gs natu-
ral, ouro, diamantes, produtos marinhos e madeira).
A inexistncia de infra-estruturas entrava o seu
desenvolvimento, pelo que o Banco Asitico de
Desenvolvimento est a promover estudos para a ela-
borao de polticas, programas e projectos.
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (TPI)
International Criminal Court
Criado pelo Estatuto de Roma, foi adoptado a 17 de
Julho de 1998 por 120 Estados. Trata-se de um tri-
bunal permanente, com competncia global para jul-
TROCA DE INSTRUMENTOS 196
TROCA DE INSTRUMENTOS
A troca de instrumentos surge no mbito dos actos
ou procedimentos atravs dos quais os Estados expri-
mem o seu consentimento a ficarem vinculados pelas
convenes. Este acto surge em alternativa ao envio
de carta ou outro documento, verificando-se aqui
uma realizao em simultneo de dois documentos
semelhantes que so trocados entre as partes aps a
aposio da rubrica ou assinatura (ou acto similar).
Ocorre normalmente em convenes bilaterais e, por
vezes, assinala a concluso do procedimento interno
de vinculao.
TROCA DE NOTAS
A troca de notas consiste num acordo obtido no qua-
dro de relaes correntes que se aproxima pelos seus
termos e simplicidade, dos contratos de privados.
Assim, como se de um contrato feito em duplicado
se tratasse, verifica-se aqui a troca de dois docu-
mentos, guardando cada uma das partes um deles,
assinado pela outra. So normalmente celebrados
entre ministros, diplomatas ou altos funcionrios e
constituem a prtica mais simplificada que existe em
matria convencional.
pensava. Os modelos mais desenvolvidos (mercado
comum e unio econmica e monetria) supem
um grau de convergncia poltica e social muito ele-
vados, reduzindo por isso consideravelmente o seu
mbito potencial de aplicao.
A Unio Aduaneira visa garantir a livre circulao
de mercadorias entre os Estados que a integrem,
objectivo esse que realizvel atravs da eliminao
dos obstculos a essa circulao (sejam eles de natu-
reza tarifria os chamados encargos aduaneiros ou
encargos de efeito equivalente , ou de natureza no
tarifria os contingentes ou restries quantitati-
vas e bem assim as medidas de efeito equivalente).
A eliminao dos encargos aduaneiros faz-se por via
da substituio das pautas aduaneiras dos Estados-
-membros por uma pauta aduaneira comum (que se
aplicar apenas s trocas com o exterior). Ora, sendo
as pautas aduaneiras o elemento central da poltica
comercial dos Estados, a sua substituio por uma
pauta aduaneira comum implica logicamente a cria-
o de uma poltica comercial comum. So estes os
trs elementos comummente referidos como centrais
do modelo, sendo que, como se viu, derivam do pri-
meiro e mais importante (a eliminao dos obst-
culos livre circulao das mercadorias).
O modelo da Unio Aduaneira surge nos primei-
ros estudos da integrao nomeadamente com Jacob
Viener, James Meade e Bela Balassa, cujos trabalhos
constituem a gnese do prprio conceito e, no qua-
dro do Mercado Comum, assumiu uma importncia
determinante, j que as mercadorias eram o nico
bem cuja circulao no conhecia limites. A Unio
Aduaneira constituiu um objectivo crucial do Tratado
de Roma, tendo sido realizada progressivamente
entre 1958 e 1968.
UNIO AFRICANA (UA)
Organizao resultante de 4 cimeiras: a Sesso
Extraordinria de Sirte (1999), que decidiu a cria-
o da Unio Africana; a Cimeira de Lom (2000), que
adoptou o Acto Constitutivo da Unio; a Cimeira de
Lusaka (2001), que estabeleceu a implementao da
organizao; e a Cimeira de Durban (2002), que lan-
ou a Unio Africana. Esta organizao tem sede em
Addis Abeba, na Etipia. Entrou em vigor em 26 de
Maio de 2001.
ULTIMATO
Comunicao formal (nota ou memorando) de um
governo a outro exigindo conformidade em deter-
minado assunto, contendo termos finais e categri-
cos. A sua rejeio poder levar quebra de relaes
diplomticas ou mesmo a conflito armado. Neste sen-
tido, assume a forma de exigncia final e assinala o
fim do processo de negociao. um instrumento
diplomtico cujo uso geralmente limitado a con-
dies extremas de crise internacional, envolvendo
a ameaa implcita ou explcita do uso de meios que
no a diplomacia tradicional para alcanar determi-
nados objectivos.
UNANIMIDADE
O princpio ou regra da unanimidade deriva a sua
importncia do conceito legal de soberania estatal e,
em particular, da igualdade soberana entre os
Estados. Dado o princpio, pelo menos terico, de que
todos os Estados so iguais, sempre que estes se reu-
nam em conferncias ou encontros diplomticos,
cada Estado participante deve ter igualdade de tra-
tamento. Os procedimentos de voto devem reflectir
esta igualdade, logo todos os Estados tero o mesmo
voto, e nenhum Estado se comprometer a aco con-
trria ao seu consentimento. Daqui decorre que todos
os Estados tero de votar favoravelmente para que
uma resoluo possa ser aprovada numa reunio. A
adeso estrita ao princpio da unanimidade limita
consideravelmente o impacto que uma organizao
possa ter na poltica mundial.
UNESCO
Organizao das Naes Unidas para a Educao,
a Cincia e a Cultura
UNIO ADUANEIRA
A Unio Aduaneira constitui a figura central dos
modelos de integrao econmica. Assim, a zona
de comrcio livre (modelo cujo grau de integrao
menor) apresenta dificuldades importantes que tor-
nam o modelo menos eficaz do que inicialmente se
U
comum; e que s polticas nacionais que interessam
ao domnio econmico se substituam regras e pol-
ticas comuns elaboradas no quadro comunitrio.
UNIO ECONMICA E MONETRIA
DA FRICA OCIDENTAL (UEMOA)
Economic and Monetary Union of West Africa
Tem a sua origem na Unio Monetria da frica
Ocidental (UMOA), criada em 1962.
Foi estabelecida pelo tratado assinado em Daca, a
10 de Janeiro de 1994, com o objectivo de criar um
mercado comum baseado na livre circulao de pes-
soas, servios e capitais e no direito de estabeleci-
mento. Tem como banco central o BCEAO (Banco
Central dos Estados da frica Ocidental). Os Estados-
-membros fazem parte da Zona Franco e da CEMAC
(Comunidade Econmica e Monetria da frica
Central). Partilham todos uma moeda comum (o
franco CFA), defendem uma poltica econmica e
monetria comum e estabeleceram uma unio
aduaneira que se encontra em funcionamento desde
Janeiro de 2000.
Tem 8 Estados-membros: Benin, Burkina-Faso, Costa
do Marfim, Guin-Bissau, Mali, Nger, Senegal e Togo.
UNIO ECONMICA E MONETRIA
(UEM)
A Unio Econmica e Monetria considerada um
elemento determinante do progresso econmico e
social dos pases da Unio Europeia. Enquanto pro-
cesso destinado a harmonizar as polticas econmi-
cas e monetrias dos Estados-membros, a UEM
implica a liberalizao total dos movimentos de capi-
tais, a convertibilidade obrigatria e ilimitada das
diferentes moedas nacionais e cmbios fixos. O
Tratado de Maastricht previu que a UEM se desen-
volvesse em trs fases: a primeira fase (de Julho de
1990 a Dezembro de 1993), com a livre circulao
de capitais entre os Estados-membros, o reforo da
coordenao das polticas econmicas, a intensifi-
cao da cooperao entre os bancos centrais e o
aumento dos meios destinados a corrigir os desequi-
lbrios entre as regies europeias (fundos estrutu-
rais); a segunda fase (de Janeiro de 1994 a Dezembro
de 1998), com o cumprimento dos critrios de con-
vergncia estabelecidos no Tratado de Maastricht, a
criao do Instituto Monetrio Europeu IME (defi-
nio das suas estruturas e funcionamento) e a pre-
parao do modelo de funcionamento da poltica
monetria, cambial e gesto de reservas; e a terceira
fase (que se iniciou em Janeiro de 1999): dando ori-
gem criao do Banco Central Europeu (que subs-
titui o IME), definio e execuo da poltica mone-
tria nica em euros, fixao das taxas de cmbio
e introduo de uma moeda nica.
Em Maio de 1998, uma sesso extraordinria do
Parlamento Europeu, seguida de um Conselho Euro-
peu de Chefes de Estado e de Governo, aprovou um
UNIO RABE DO MAGREBE 198
Visa acelerar a integrao poltica e socioecon-
mica do continente africano.
Sendo uma organizao continental, preocupa-se
com a promoo da paz, segurana e estabilidade no
continente, como um pr-requisito para a implemen-
tao do desenvolvimento e integrao da agenda da
Unio.
Tem os seguintes rgos: conferncia da Unio;
conselho executivo; parlamento pan-africano; tri-
bunal de justia; comisso; comit de representan-
tes permanentes; comits tcnicos especializados;
conselho econmico, social e cultural; instituies
financeiras.
Esta organizao substituiu a Organizao de
Unidade Africana (OUA), criada em Maio de 1963 e
que visava promover a unidade e solidariedade entre
os Estados africanos. Como frum, esta organizao
permitia aos Estados-membros adoptar posies coor-
denadas em assuntos de interesse comum para o con-
tinente em debates internacionais e defender efec-
tivamente os seus interesses. A Carta da OUA, aberta
subscrio de todos os Estados africanos conti-
nentais, Madagscar e outras ilhas vizinhas, definia
como objectivos, para alm da unidade e solidarie-
dade dos Estados africanos, a defesa da sua sobera-
nia, integridade territorial e independncia, a eli-
minao do colonialismo de frica e a cooperao
internacional, tendo em conta a Carta das Naes
Unidas e a Declarao Universal dos Direitos
Humanos.
A Unio Africana regista 53 Estados-membros, isto
, agrupa todos os Estados do Continente africano,
com excepo de Marrocos.
UNIO RABE DO MAGREBE
O tratado que instituiu a Unio rabe do Magrebe foi
assinado em Marraquexe, a 17 de Fevereiro de 1989
e entrou em vigor a 1 de Julho de 1990. So Estados-
-membros a Lbia, Marrocos, Mauritnia, Tunsia e
Arglia. Visa organizar um espao econmico magre-
bino e uma poltica comum em todos os domnios.
Procura encaminhar as respectivas sociedades para
o progresso e prosperidade, e desenvolver polticas
comuns para a liberdade de movimentao de pes-
soas, mercadorias, servios e capitais, por forma a
constituir uma unio aduaneira e um mercado
comum.
A questo do Sahara Ocidental (encerramento das
fronteiras entre a Arglia e Marrocos desde 1994) e
a crise na Arglia provocaram a paralisao da orga-
nizao. Tem sede em Rabat.
UNIO ECONMICA
A unio econmica, para alm de um mercado
comum, impe que as legislaes nacionais com inci-
dncia directa ou indirecta no sistema econmico
sejam convenientemente uniformizadas ou pelo
menos harmonizadas; que as polticas econmicas,
financeiras e monetrias dos Estados-membros
sejam coordenadas sob a gide de uma autoridade
de 1992, concebida como uma nova fase no pro-
cesso de integrao europeia iniciado com a insti-
tuio das Comunidades (a Comunidade Europeia do
Carvo e do Ao, foi instituida pelo Tratado de Paris
de 18 de Abril de 1951; a Comunidade Econmica
Europeia e a Comunidade Europeia da Energia
Atmica Euratom pelos Tratados de Roma, de 25
de Maro de 1957).
Os objectivos propostos para a Unio Europeia so
o aprofundamento da integrao econmica e a cria-
o de condies conducentes a uma futura inte-
grao poltica.
A Unio Europeia uma realidade distinta das
Comunidades Europeias. O Tratado de Maastricht
afirma, expressamente, no seu artigo 1., que a Unio
Europeia funda-se nas Comunidades Europeias,
completadas pelas polticas e formas de cooperao
institudas pelo presente Tratado. A arquitectura glo-
bal da Unio assenta numa estrutura suportada por
trs pilares: um primeiro pilar, composto pelas dis-
posies que modificaram os tratados institutivos das
Comunidades; o segundo pilar compreende as dis-
posies relativas poltica externa e de segurana
comum; e o terceiro pilar relativo cooperao poli-
cial e judiciria em matria penal. Assim, o primeiro
pilar abrange matrias de natureza comunitria, e o
segundo e o terceiro, matrias de cooperao entre
os Estados-membros da Comunidade.
Os objectivos da Unio, de natureza econmica,
social e poltica, compreendem, actualmente, a pro-
moo do progresso econmico e social e de um ele-
vado nvel de emprego, a realizao de um desen-
volvimento equilibrado e sustentvel, a afirmao da
sua identidade na cena internacional, o reforo da
defesa dos direitos e dos interesses dos nacionais dos
seus Estados-membros, a manuteno e o desenvol-
vimento da Unio enquanto espao de liberdade, de
segurana e de justia, e a manuteno da integra-
lidade do acervo comunitrio e seu desenvolvimento.
Os instrumentos necessrios realizao dos prin-
cipais objectivos da Unio a criao do mercado
interno, o estabelecimento de uma unio econmica
e monetria e a instituio de uma cidadania da Unio
encontram-se no Tratado da Comunidade Europeia.
O Tratado da Comunidade Europeia empresta assim
Unio o seu quadro jurdico.
O Tratado da Unio no estabelece qualquer rgo
novo ou especfico. Logo, os rgos da Unio conti-
nuam a ser o conselho europeu, o parlamento euro-
peu, o conselho, a comisso, o tribunal de justia e o
tribunal de contas, ou seja, os rgos das Comunidades.
Actualmente, a Unio Europeia, ao contrrio das
Comunidades Europeias, no considerada uma pes-
soa jurdica, nem de Direito Interno, nem de Direito
Internacional, na medida em que o Tratado no lhe
atribui capacidade jurdica.
UNIO MONETRIA
Implica uma unio econmica mais a instituio
entre os diversos Estados participantes de uma unio
monetria que retire aos Estados a possibilidade de,
UNIO DA EUROPA OCIDENTAL (UEO) 199
primeiro grupo de onze pases que participariam na
UEM, desde o seu incio Janeiro de 1999 designa-
dos de pases in: Alemanha, ustria, Blgica, Espanha,
Finlndia, Frana, Irlanda, Itlia, Luxemburgo, Pases
Baixos e Portugal. A Grcia tornou-se membro da zona
euro em Janeiro de 2001. O Reino Unido, a Dina-
marca e a Sucia no adoptaram ainda a moeda nica.
UNIO DA EUROPA OCIDENTAL (UEO)
Western European Union (WEU)
Foi criada em 23 de Outubro de 1954 e entrou em
vigor a 6 de Maio de 1955. Tem sede em Bruxelas.
A UEO o nico organismo exclusivamente euro-
peu competente em matria de defesa. Resultou da
transformao da Unio Ocidental, fundada em Maro
de 1948, entre a Frana, a Gr-Bretanha, a Blgica,
os Pases Baixos e o Luxemburgo (Tratado de Bru-
xelas). A Alemanha e a Itlia tornaram-se membros
aps o fracasso da CED (Comunidade Europeia de
Defesa), em 30 de Agosto de 1954. Seguiram-se a
Espanha e Portugal, em Novembro de 1988, e final-
mente a Grcia, em Novembro de 1992.
A UEO uma aliana defensiva que prev, no artigo
5. uma assistncia militar automtica e mtua na
hiptese de um ataque contra um dos seus membros.
A UEO constituda por um conselho (composto
pelos ministros dos negcios estrangeiros e da
defesa), uma assembleia consultiva, um secretariado,
uma agncia para o controlo de armamentos e uma
comisso de defesa.
No Tratado de Maastricht, a defesa comum, objec-
tivo fixado a prazo, est confiada UEO.
Numa declarao anexa ao Tratado de Maastricht
afirma-se que a UEO ser desenvolvida como com-
ponente de defesa da Unio Europeia e como meio
de reforar o pilar europeu da Aliana Atlntica.
Nem todos os Estados-membros da UE so mem-
bros efectivos. Alguns deles conservaram o estatuto
de neutralidade, como foi o caso da Irlanda, Sucia,
Finlndia, Dinamarca e ustria. As decises da
cimeira de Colnia (1999) reforaram a poltica euro-
peia de segurana e defesa no mbito da Unio
Europeia. Neste sentido, ficou decidida a transfe-
rncia da sua sede para a UE e a dissoluo do Estado
Maior militar, integrado agora nas estruturas do con-
selho da Unio Europeia.
Os meios militares da UEO so constitudos pelo
Eurocorpo operacional a partir de 1995 e por outros
grupos de foras multinacionais.
A eficcia da UEO continua muito limitada, devido
supremacia da OTAN, ausncia de um comando
integrado das suas foras e s dificuldades da Unio
Europeia de assumir uma poltica de defesa e segu-
rana comum, como se viu com a crise jugoslava, na
dcada de 1990.
UNIO EUROPEIA
A Unio Europeia, instituda entre os Estados-mem-
bros das Comunidades pelo Tratado da Unio
Europeia, assinado em Maastricht a 7 de Fevereiro
fixada a partir dos limites territoriais fixados pelas
potncias coloniais. O princpio afirmou-se no
sculo XIX, aquando das descolonizaes sul-ame-
ricanas e asiticas, vindo a ser acolhido tambm na
descolonizao dos Estados africanos. um princ-
pio reconhecido na jurisprudncia, a qual veio a pre-
cisar que, na medida em que uma fronteira pode ser
modificada por acordo das partes, havendo uma dis-
posio convencional, o princpio uti possidetis iuris
deixa de se aplicar.
UNILATERALISMO 200
mediante o recurso s variaes de valor da sua
moeda, poderem unilateralmente modificar as con-
dies das trocas. A noo de unio monetria implica
cmbios fixos e convertibilidade obrigatria das dife-
rentes moedas nacionais. Na sua fase plena, as vrias
moedas do lugar a uma moeda comum.
UNILATERALISMO
Poltica que conta com os recursos prprios de um
Estado para o prosseguimento dos objectivos de
poltica externa. Pode ser expressa de diferentes for-
mas, envolve geralmente algum grau de no parti-
cipao na poltica internacional, sendo as mais
comuns o isolacionismo, neutralidade e no-
-alinhamento. Na literatura contempornea, o termo
geralmente utilizado em relao ao desarmamento,
em particular, quanto posse de armas nucleares. De
acordo com os seus defensores, a renncia de um
Estado singular a armas nucleares poderia constituir
um exemplo moral para o resto do sistema e enco-
rajar outros ao mesmo. Os argumentos que susten-
tam o unilateralismo incluem a considerao de que
armas to poderosas causam destruio macia e
atingem inocentes, e que a proliferao do arma-
mento nuclear aumenta a probabilidade de conflito.
Estas justificaes perderam peso com o fim de qual-
quer ameaa nuclear sria por parte dos Estados
sucessores da antiga Unio Sovitica.
UNIPOLARIDADE
Sistema marcado por um plo dominante. Num sis-
tema unipolar, o actor dominante no precisa de ser
um Estado, e de facto, historicamente, onde tm exis-
tido sistemas unipolares, estes tm sido dominados
por imprios multinacionais. Para que tal sistema
oferea estabilidade, o actor dominante deve ser
capaz de definir regras aceitveis para todo o sistema.
Mesmo os sistemas imperiais no podem sobreviver
apenas com base na coero e fora, um aspecto ana-
lisado pelos tericos da estabilidade hegemnica. A
questo dos Estados Unidos da Amrica emergirem
como nica superpotncia aps o final da guerra fria tem
suscitado especulao, ora em defesa da unipolaridade
liderada pelos Estados Unidos da Amrica, ora argu-
mentando o seu declnio e tendncia isolacionista.
Esta problemtica foi totalmente ultrapassada aps
11 de Setembro de 2001.
USERNAME
Nome do utilizador. Nome usado para identificar um
utilizador perante um sistema ou servio e junta-
mente com uma palavra-senha (password), per-
mitir a sua autenticao.
UTI POSSIDETIS IURIS
Princpio relativo delimitao territorial dos novos
Estados, nos termos do qual a fronteira deve ser
de independncia); e os beligerantes, cujo reco-
nhecimento decorre normalmente da insistncia
crescente na via negocial para a resoluo dos con-
flitos originados por estes.
A licitude do objecto decorre em termos gerais da
no contrariedade das regras vigentes (designadas
clusulas de ordem pblica, na teoria geral do neg-
cio jurdico). No plano internacional, no foi pac-
fico o processo que conduziu afirmao desse tipo
de regras. Inicialmente equacionou-se a questo por
referncia aos bons costumes internacionais, noo
que todavia demonstraria falhas, na medida em que
no parece possvel evidenciar o contedo e limite
de tais referncias. Recentemente, o problema parece
ter sido definitivamente ultrapassado, com a afirma-
o e desenvolvimento do ius cogens. Assim, entende-
-se que o objecto de uma conveno ilcito na medida
em que contrarie uma regra de direito imperativo.
A regularidade formal do consentimento prende-
-se com a questo de saber em que medida o incum-
primento das formalidades constitucionalmente
previstas ou a incompetncia das autoridades que
exprimiram o consentimento na vinculao afecta a
validade de um tratado. A doutrina debateu larga-
mente a questo e at Conveno de Viena de 1969,
a prtica no se mostrava convergente (revelando
alguma tendncia no sentido de considerar a inva-
lidade resultante das irregularidades formais), vindo
a conveno a consagrar um regime compromiss-
rio, nos termos do qual se fixa a regra geral segundo
a qual as irregularidades formais no afectam a vali-
dade, admitindo-se todavia excepcionalmente essa
situao (de as irregularidades formais conduzirem
a uma nulidade relativa) se e na medida em que a vio-
lao tenha sido manifesta e diga respeito a uma
norma de importncia fundamental. O regime em
causa normalmente apelidado de regime das rati-
ficaes imperfeitas. Trata-se de uma designao cor-
rente mas imprpria porquanto, por um lado, o que
est em causa no so apenas vcios da ratificao
mas quaisquer vcios que surjam em qualquer fase
do processo de vinculao e principalmente porque,
por outro lado, essa designao conduz com fre-
quncia ideia de que no se aplicaria aos acordos
em forma simplificada (j que nestes no existe rati-
ficao, uma vez que a vinculao decorre da assi-
natura ou acto equivalente), o que manifestamente
incorrecto. O regime aplica-se a quaisquer irregu-
VALIDADE DOS ACTOS JURDICOS
UNILATERAIS
So normalmente referidas na doutrina a capacidade
(do representante estadual que efectua a declarao),
a imputabilidade (por essa via, ao Estado, do acto,
na medida em que o mesmo representante tenha
agido no exerccio de funes oficiais) e a publicidade
(garantindo-se que a declarao chega ao conheci-
mento dos eventuais interessados).
VALIDADE DAS CONVENES
INTERNACIONAIS
O regime relativo s condies de validade das con-
venes internacionais desenvolve-se a partir do
regime da teoria geral do negcio jurdico, assen-
tando na grelha de anlise tradicional: capacidade dos
sujeitos, licitude do objecto e regularidade (formal
e substancial) do consentimento.
A capacidade dos sujeitos, enquanto condio de
validade das convenes, significa que as partes das
convenes tm de ter capacidade jurdica para o
fazer, ou seja, tm de dispor do ius tractuum. Tradi-
cionalmente entendia-se esta competncia como
reservada aos Estados, mas essa concepo tem evo-
ludo no sentido do reconhecimento da capacidade
a um nmero cada vez mais importante de entidades.
Assim, sem prejuzo de outros sujeitos, fundamen-
talmente so assinalveis mais trs tipos de sujeitos
que intervm correntemente na celebrao das
convenes: as organizaes internacionais (cuja
capacidade internacional no oferece actualmente
dvidas, embora se trate todavia de uma capacidade
derivada da vontade dos Estados partes, e parcial, j
que submetida ao princpio da especialidade dos fins,
ou seja, limitada pelos fins que so atribudos orga-
nizao no respectivo tratado constitutivo); os
movimentos de libertao nacional, cuja capacidade
se afirma a partir da descolonizao e que envolve
uma limitao especial (funcional), pois estes apenas
podem celebrar tratados no mbito da sua funo
essencial, que consiste em conduzir o povo auto-
determinao (donde decorre que, em princpio, ape-
nas tem capacidade para celebrar tratados relativos
luta armada, alguns tratados de participao em
organizaes internacionais e finalmente, os tratados
V
VESTEFLIA/SISTEMA VESTEFALIANO
Tipo de organizao internacional que define o actual
sistema internacional composto por Estados.
Em 1648, a paz de Vesteflia ps fim guerra dos
trinta anos, a ltima grande guerra religiosa e a pri-
meira guerra dos Estados modernos. Numa anlise
retrospectiva, podemos dizer que o Tratado (na ver-
dade, foram assinados dois Tratados em separado,
nomeadamente um pelos lderes protestantes em
Osnabrck e outro pelos catlicos, em Munique) deu
origem cristalizao da instituio dominante na
organizao internacional, ou seja, o Estado terri-
torial soberano. Assim, nestes documentos foi defi-
nido o princpio bsico da soberania segundo o qual
o sistema internacional tem vindo a operar h
mais de 350 anos que consiste na exclusividade da
autoridade interna do governo. A partir deste
momento, definiu-se que, no territrio pertencente
a um Estado, nenhum poder exterior incluindo o
Papa tem o direito de exercer qualquer tipo de auto-
ridade poltica ou jurisdio legal. Neste sentido,
quando hoje falamos de sistema internacional,
usualmente referimo-nos a este sistema territorial
estatal e definimos as relaes de poltica interna-
cional como relaes onde no existe um poder acima
dos Estados.
VETO
Um voto que probe ou bloqueia uma tomada de deci-
so, travando desenvolvimentos indesejveis. Existe
de forma unilateral, apesar dos actores poderem coo-
perar e exercer um veto combinado. O poder de veto
pode ser legitimado em tratados ou convenes inter-
nacionais, tornando-se dessa forma um atributo da
autoridade. A autorizao do poder de veto em orga-
nizaes de carcter estadual uma exemplificao
da regra da unanimidade, ela prpria derivada de
noes de soberania, igualdade e consentimento. O
melhor exemplo do poder de veto legtimo pode ser
encontrado na Carta das Naes Unidas, apesar do
termo propriamente dito no aparecer no docu-
mento. No captulo V, artigo 2., relativo aos proce-
dimentos de voto no seio do Conselho de Segurana,
os cinco membros permanentes (China, Estados
Unidos da Amrica, Frana, Rssia e Reino Unido)
tm poder de veto em todas as questes de fundo. O
direito de veto foi entendido na altura como um
mecanismo vital para manter a paz internacional,
uma vez que sem a cooperao ou aval dos Estados
mais poderosos, as disputas internacionais seriam
mais difceis de resolver.
VIDEOCONFERNCIA
Conferncia com vdeo e udio realizada entre dois
ou mais participantes atravs de linhas dedicadas a
tal, ou da Internet. A videoconferncia pode ser usada,
por exemplo, para reunies de trabalho, conferncias,
teletrabalho ou no ensino distncia.
VARIVEL 202
laridades formais no processo de vinculao das con-
venes, sejam elas tratados solenes ou acordos em
forma simplificada.
A ltima condio de validade das convenes a
da regularidade substancial do consentimento,
sendo que depende da inexistncia de vcios desse
consentimento.
Tambm aqui o paralelo entre o regime geral dos
vcios da vontade nos contratos e os vcios do consen-
timento dos tratados no pode ter-se por directo.
Embora tenha sido defendido pelos voluntaristas, a
verdade que h uma diferenciao qualitativa entre
contratos e tratados e por outro lado, a insuficin-
cia de meios judiciais ao nvel internacional que
controlem a situao poderia conduzir a abusos e
contestaes.
A Conveno de Viena de 1969 tipifica como vcios
do consentimento o erro, o dolo, a corrupo,
a coaco do representante e a coaco do Estado.
VARIVEL
Medida na qual um objecto, indivduo ou grupo podem
ser categorizados como o peso ou o rendimento.
Por varivel dependente entendemos a varivel ou
factor casualmente influenciada por outra (a vari-
vel independente).
Por varivel independente entendemos a varivel
ou factor que influencia casualmente outra (a vari-
vel dependente).
VATICANO (ESTADO DA CIDADE DO)
Estado soberano, o mais pequeno do mundo, cujo ter-
ritrio forma, na cidade de Roma, um enclave de qua-
renta e quatro hectares, onde vivem cerca de mil pes-
soas. Os direitos de extraterritorialidade do Estado
da Cidade do Vaticano estendem-se igualmente a doze
edifcios em Roma, entre os quais as baslicas de So
Joo de Latro, Santa Maria Maior, So Paulo Extra-
muros, ao terreno em que assentam as instalaes
da Rdio Vaticano e vila de Castel Gandolfo. O
Estado do Vaticano, que substituiu simbolicamente
os antigos Estados Pontifcios, foi constitudo em vir-
tude dos Acordos de Latro, concludos entre Musso-
lini e Pio XI, em Fevereiro de 1929.
O Vaticano mantm relaes diplomticas com
numerosos pases e participa, a ttulo de observador, nos
organismos internacionais mais importantes, como a
ONU, o Conselho da Europa e a Unio Europeia.
O Vaticano, atravs do Papa, possui uma autoridade
moral e espiritual que lhe permite desenvolver uma
influncia considervel nas Relaes Internacionais.
O Papa Joo Paulo II, com as suas mltiplas viagens
no mundo, conferiu uma importncia especial ao di-
logo internacional entre os povos e as diversas reli-
gies. A sua influncia foi determinante na abertura
dos pases comunistas de leste, nomeadamente na
Polnia, seu pas natal. E o mesmo aconteceu na
busca de uma soluo de paz para os conflitos do
Prximo e Mdio-Oriente, nomeadamente nos con-
flitos israelo-palestiniano e do Iraque.
A importncia dada s correntes voluntaristas
parece decorrer da afirmao de desenvolvimento do
princpio da soberania dos Estados. Esta manifesta-
-se primariamente atravs do poder legislativo, pelo
que tende a favorecer as vises segundo as quais exis-
tir uma coincidncia entre o Direito e o Estado.
Nessa medida, o voluntarismo acaba, tambm ele, por
confundir-se com estatismo. E dessa mistura resulta
uma formulao especfica de positivismo jurdico,
em que o direito se funda na vontade do Estado, que
a exprime atravs de regras positivas emanadas pelos
rgos competentes, segundo os procedimentos
determinados. Assim se cai no formalismo jurdico
(optando pela forma em detrimento da matria, j
que a apreciao da justeza da norma remetida para
nveis extrajurdicos).
A afirmao da vontade soberana dos Estados difi-
cilmente admite o desenvolvimento de uma ordem
jurdica a que estes se submetam e esse parece ser
o pecado mortal do voluntarismo.
VIOLAO SUBSTANCIAL DAS CONVENES INTERNACIONAIS 203
VIOLAO SUBSTANCIAL DAS
CONVENES INTERNACIONAIS
O regime da violao substancial das convenes
internacionais tem origem no regime da excepo do
incumprimento (exceptio non adimpleti contractus),
tradicional do direito civil. Introduziram-se, todavia,
com a Conveno de Viena de 1969, algumas altera-
es com vista a melhor o adaptar s especificidades
do enquadramento internacional.
Assim, distinguem-se, desde logo, as situaes rela-
tivas violao substancial de convenes bilaterais
e multilaterais. Nas primeiras, essa violao autoriza
a outra parte a invocar a violao como motivo para
pr fim ao tratado ou para suspender a sua aplica-
o no todo ou em parte. Nas convenes multila-
terais, a violao substancial apenas autoriza a parte,
agindo isoladamente, a suspender a sua vigncia em
relao parte responsvel pela violao substancial,
excepto se se tratar das chamadas obrigaes integrais
(aquelas cujo cumprimento apenas releva na medida
em que seja geral). De resto, s quando todas as partes
ajam em conjunto podero fazer cessar a vigncia.
O regime no se aplica em relao a convenes
no mbito do Direito humanitrio, no tocante s
regras relativas proteco da pessoa humana.
A jurisprudncia especificou ainda que se presume
a consagrao em todos os tratados do direito de fazer
cessar um tratado como consequncia da sua violao.
VRUS INFORMTICO
Um programa ou partes inseridas em programas
informticos com o objectivo de interferir com o nor-
mal funcionamento dos computadores. Os vrus
podem realizar aces destrutivas, danificando infor-
mao ou mesmo bloqueando o funcionamento dos
computadores. Como forma de proteco reco-
mendvel a instalao de antivrus, que permitem
controlar e impedir a aco dos vrus.
VOLUNTARISMO
As correntes voluntaristas fazem derivar a obrigato-
riedade do cumprimento do Direito Internacional da
vontade dos Estados. Numa outra perspectiva, dir-se-
- que, para o voluntarismo, o Direito sempre a expres-
so de uma vontade (necessariamente do Estado).
A corrente teve acolhimento jurisprudencial,
nomeadamente no acrdo do caso Lotus, que afir-
mou expressamente que o Direito Internacional
regula as relaes entre Estados independentes. As
regras jurdicas que vinculam os Estados decorrem
portanto da vontade destes, vontade essa manifestada
em convenes ou em usos aceites em geral como
consagrando princpios jurdicos e estabelecidos
tendo em vista a regulao da coexistncia de comu-
nidades independentes ou o prosseguimento de
objectivos comuns. O Tribunal Permanente de
Justia Internacional tinha entre os seus membros
uma das mais emblemticas figuras do positivismo
voluntarista europeu, o italiano Anzilotti.
WIRELESS (LAN)
Rede (LAN Local Area Network) sem fios (Wireless).
Estas ligaes usam um sistema de transmisso de
ondas electromagnticas permitindo que os com-
putadores se liguem rede sem qualquer fio. Este
sistema particularmente til nos computadores
portteis.
WORLD WIDE WEB (WWW)
Conceito introduzido no centro de investigao em
fsica de partculas (CERN), na Sua, de forma a faci-
litar a troca de informao cientfica atravs da
Internet. A designao WWW significa uma teia (web)
estendida (wide) ao mundo (world) inteiro. Dos vrios
conceitos introduzidos destacam-se os seguintes:
Uniform Resource Locator (URL) que identifica a
localizao da informao; Hyper Text Transfer
Protocol (HTTP) Protocolo usado na transferncia
de informao; Hyper Text Markup Language (HTML)
Linguagem utilizada na construo de pginas da
Internet.
W
XENOFOBIA
Hostilidade manifestada a estrangeiros. Entre os
povos primitivos representava uma medida imposta
pelas economias domsticas, em resultado dos
escassos recursos existentes, que tornavam indese-
jvel a presena de elementos estranhos ao cl. A
xenofobia tem sido uma constante ao longo da his-
tria das Relaes Internacionais: o Antigo Egipto
apenas permitia aos estrangeiros a utilizao de
determinados portos, para as suas transaces mer-
cantis; Esparta cultivou este sentimento, levando-o
a extremos quase inconcebveis; a China e o Japo
recusaram-se obstinadamente, durante sculos, a ter
contacto e trato comercial com os ocidentais, tor-
nando necessrio o recurso fora para os obrigar
abertura dos seus portos.
No passado prximo e no presente, ainda se regis-
tam, sob a forma de nacionalismos exclusivistas, ins-
pirados no mito de pureza ou de superioridade de
raa sendo o caso mais manifesto o da Alemanha
Nazi e em credos religiosos, verdadeiras formas de
xenofobia.
X
ZONA DE COMRCIO LIVRE
Mercado que traduz a livre circulao das mercado-
rias, libertas de restries quantitativas e de impo-
sies aduaneiras no comrcio entre os pases par-
ticipantes na zona. Nas suas relaes com terceiros
pases, cada um dos Estados participantes tem liber-
dade de aco, designadamente no que se refere
definio do nvel de proteco aduaneira que deseja
praticar em relao aos produtos originrios desses
pases.
ZONA FRANCO
Fundada em 1946, a Zona Franco estabelece uma
cooperao monetria entre a Frana e as suas anti-
gas colnias, prevendo uma paridade fixa entre o
franco francs e as moedas dos pases da zona. Desde
Janeiro de 1999, o euro substitui o franco francs
como referncia. So 15 os Estados-membros: oito
pases da Unio Econmica e Monetria da frica
Ocidental (Benin, Burkina Fasso, Costa do Marfim,
Guin Bissau, Mali, Nger, Senegal e Togo); os seis
pases da Comunidade Econmica e Monetria da
frica Central (Camares, Chade, Congo, Gabo,
Guin Equatorial, Repblica Centro Africana),
Comores e Frana.
Z
Anabela Srgio
Doutorada em Gesto, especializao Banca e Finanas, pela City University of London, Docente na Univer-
sidade Lusada de Lisboa e do Porto. Pertence ao Conselho Cientfico do Centro de Investigao Jurdico-
-Econmica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto e Fellow Researcher da City University
(actualmente Cass Business University). Publicaes recentes incluem trabalhos de investigao publica-
dos na Financial Instruments and Derivatives Revue do IBFD Amesterdam, nas revistas cientficas da
Universidade Lusada de Lisboa e Porto, e artigos de opinio divulgados em Cadernos de Economia da Ordem
dos Economistas.
Antnio Carvalho Brito
Doutorado (Ph.D.) em Simulao pelo Departamento de Gesto da Universidade de Cranfield (UK). Docente
na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e na Universidade Lusada, exercendo a sua activi-
dade docente, de investigao e de consultoria nas reas de simulao, programao de computadores e
sistemas de informao. Publicaes recentes incluem, Simulao por Computador, Editora Publindstria,
2001; An Approach for Dynamic Supply Chain Simulation, The 2003 European Simulation and Modelling
Conference, Npoles, Itlia (2003).
Fernando de Sousa
Professor catedrtico de Histria Contempornea da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Director
do Departamento de Relaes Internacionais da Universidade Lusada do Porto, presidente do Centro de
Estudos da Populao, Economia e Sociedade (CEPESE) e director das revistas cientficas Populao e
Sociedade e Lusada Revista de Relaes Internacionais. Da sua vasta produo, salientam-se como publi-
caes recentes, Leixes, Uma Histria Porturia, Porto, 2002; Portugal, Brasil e a Unio Europeia, in
Estudos Estratgicos (2002); A Fundao Dr. Antnio Cupertino de Miranda, Porto, 2004; e Oporto Public
Transport, Porto, 2005.
Hermano Rodrigues
Mestre em Economia. Docente na Universidade Lusada e Consultor da Associao de Municpios do Vale
do Minho (AMVM). Publicaes recentes, em que co-autor, incluem A Inovao no Sector Bancrio em
Portugal, in Gesto XXI: Futuro e Perspectivas, Vol. IV, X Jornadas Luso-Espanholas de Gesto Cientfica,
Universidade do Algarve, Escola Superior de Gesto, Hotelaria e Turismo, 2000; Inovao e Catching-Up
no Sector Bancrio em Portugal, in Notas Econmicas, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
2001 e Competitiveness and Public-Private Partnerships: Towards a More Decentralised Policy?, in Regions
and Fiscal Federalism, 44th European Congress of the Regional Science Association, Faculdade de Economia
do Porto, 2004.
Isabel Babo Lana
Doutorada em Sociologia. Docente na Universidade Lusada do Porto. investigadora do Centro de Estudos
da Populao, Economia e Sociedade (CEPESE). Publicaes recentes incluem, A construo dos problemas
CURRICULA DOS COLABORADORES
CURRICULA DOS COLABORADORES 212
pblicos. Elementos para uma anlise do caso Timor, in Antropolgicas (2000), A construo dos pro-
blemas pblicos, in Revista Portugal Rotrio (2000); e O caso da Casa Pia de Lisboa. Configurao de
um problema pblico, in Psiconmica (2003). Principal responsvel pelas entradas do domnio da Sociologia.
Manuel Monteiro
Doutorando em Direito na Universidade de Paris I (Sorbonne). Docente no Instituto Politcnico de Tomar
e na Universidade Lusada do Porto. Publicaes recentes, em que co-autor, incluem, Tratado de Amesterdo,
Lisboa, 1998 e Viva Portugal, Uma Nova Ideia da Europa, Lisboa, 1994. Colaborador das entradas de Cincia
Poltica e Direito Constitucional.
Maria Cristina Seia
Doutoranda em Direito na Universidade de Santiago de Compostela. Docente na Universidade Lusada do
Porto. Colaboradora das entradas sobre Integrao Europeia e Direito Comunitrio.
Maria Raquel Freire
Doutorada em Relaes Internacionais. Docente na Universidade Lusada do Porto. membro da Comisso
Editorial da Revista Poltica Internacional, e da Comisso Cientfica das revistas Lusada Revista de Relaes
Internacionais e Populao e Sociedade e investigadora do Centro de Estudos da Populao, Economia e
Sociedade (CEPESE). Publicaes recentes incluem The search for innovative procedures: the OSCE approach
to conflicts in the former soviet area, in HENSEL, Howard (ed.) Sovereignty and the global community:
the quest for order in the international system, Ashgate, 2004; Conflict and Security in the Former Soviet
Union: The Role of the OSCE, Ashgate, 2003; e Crisis Management: The OSCE in the Republic of Moldova,
in Journal of Conflict, Security and Development, (2002).
Paula Barros
Licenciada em Gesto de Recursos Humanos. membro do Centro de Estudos da Populao, Economia e
Sociedade (CEPESE). Integra a equipa de investigao que se encontra a realizar os inventrios dos arqui-
vos da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (Real Companhia Velha) e da Sociedade
de Transportes Colectivos do Porto (STCP).
Paula Santos
Doutoranda em Histria na Faculdade Letras da Universidade do Porto. Docente na Escola Superior de Edu-
cao Jean Piaget de Viseu. membro do Centro de Estudos da Populao, Economia e Sociedade (CEPESE).
Publicaes recentes incluem Uma nova Globalizao a emergncia das questes sociais, in Lusada -
Revista de Relaes Internacionais (2004).
Paulo Amorim
Doutorando em Histria na Faculdade Letras da Universidade do Porto. Docente na Universidade Lusada
do Porto. membro do Centro de Estudos da Populao, Economia e Sociedade (CEPESE) da Universidade
do Porto e do conselho redactorial da Revista Lusada Revista de Relaes Internacionais. Publicaes
recentes, em que co-autor, incluem A extino das funes pblicas da Companhia Geral da Agricultura
das Vinhas do Alto Douro (1852), in Populao e Sociedade (2002) e Os fundos documentais da Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro nos Arquivos do Rio de Janeiro, in Populao e Sociedade
(2003).
Pedro Mendes
Doutorando em Relaes Internacionais na Faculdade de Cincias Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa. Docente na Universidade Lusada do Porto. Membro do CEPESE e do conselho redactorial da
revista Lusada Revista de Relaes Internacionais. Publicaes recentes incluem A Europa entre o
Cu e a Terra: duas vises sobre o processo de integrao europeia, in Lusada Revista de Relaes
Internacionais (2000); Utopia, uma ideia na histria ou uma ideia de histria? Consideraes sobre a busca
do ideal de Isaiah Berlin, in Lusada Revista de Relaes Internacionais (2001); A Raiz e o Fruto na
CURRICULA DOS COLABORADORES 213
Anlise da Poltica Externa dos Estados: uma Perspectiva Eclctica, in Poltica Internacional, Lisboa (no
prelo) e A Questo Europeia no Marcelismo: o debate geracional, in Anlise Social (no prelo).
Ricardo Rocha
Licenciado em Relaes Internacionais. Investigador do Centro de Estudos da Populao, Economia e
Sociedade (CEPESE). Publicaes recentes incluem Globalizao. Em busca de um sentido universal, in
Lusada Revista de Relaes Internacionais (2004).
Rui Marrana
Doutorando em Direito na Universidade do Minho. Docente na Universidade Lusada do Porto. Publicaes
recentes incluem O regime da responsabilidade internacional dos Estados, Revista Lusada srie de Direito
(2000). Foi o principal responsvel pelas entradas de Direito Internacional Pblico.
Teresa Cierco
Doutorada em Cincia Poltica e Relaes Internacionais. Docente da Universidade Lusada do Porto. mem-
bro da Comisso Cientfica da Lusada Revista de Relaes Internacionais, e investigadora do Centro de
Estudos da Populao, Economia e Sociedade (CEPESE), da Universidade do Porto. Publicaes recentes
incluem A Influncia Poltico-econmica da Alemanha na Europa (1945-1995), Edies Pedro Ferreira,
Lisboa, 1997; e O Conceito de Refugiado e o Asilo na Perspectiva das Relaes Internacionais: O Caso da
Unio Europeia (tese de doutoramento), Universidade do Minho, 2002. Foi a principal responsvel pelas
entradas relativas s Organizaes Internacionais.
As fontes e bibliografia aqui referidas apenas dizem respeito s obras consultadas, existentes na biblio-
teca da Universidade Lusada do Porto, ou pertencentes aos colaboradores deste Dicionrio de Relaes
Internacionais.
Atlas e Dicionrios
AAVV, Atlas of the 20
th
century, Londres: Times Books, 1996.
AAVV, Dicionrio de sociologia, Porto: Porto Editora, 2002.
AAVV, Macmillan dictionary of modern economics, 4. ed. David W. Pearce ed., 1992.
AAVV, The new palgrave: a dictionary of economics, Londres: Macmillan, 1991.
ANDRADE, John, Aco directa: dicionrio de terrorismo e activismo poltico, Lisboa: Hugin Editores, 1999.
BARROCHS, Graham; BAXTER, R. E.; DAVIS, Evan, Dictionary of economics, 5. ed., Londres: Penguin
Books, 1992.
BARROCHS, Graham; MAUSER, William, Dictionary of finance, Londres: Penguin Books, 1990.
BOBBIO, Norberto; et al., Dicionrio de poltica, 8. ed., Braslia: Universidade de Braslia, 1995.
BONIFACE, Pascal (dir.), Atlas des relations internationales, Paris: Iris, 1993.
__________, Dicionrio de relaes internacionais, Lisboa: Pltano, 2001.
CAPELA, John; HARTMAN, Stephen, Dicionrio de termos de negcios internacionais, Lisboa: Pltano, 2001.
CAPUL, Jean-Yves; GARNIER, Olivier, Dicionrio de economia e de cincias sociais, Lisboa: Pltano, 1998.
CHALIAND, Grard; RAGEAU, Jean-Pierre, Atlas stratgique: gopolitique des rapports de force dans le
monde: laprs-guerre froide, Paris: Complexe, 1994.
COTTA, Alain, Dicionrio de economia, Lisboa: Dom Quixote, 1991.
DUBY, Georges, Atlas historique, Paris: Larousse, 1992.
EVANS, Graham; NEWNHAM, Jeffrey, The dictionary of world politics: a reference guide to concepts, ideas
and institutions, Nova Iorque: Harvester Wheatsheaf, 1992.
__________, Dictionary of international relations, Londres: Penguin Books, 1998.
TIENNE, Jean; BLOESS, Franoise; et al., Dicionrio de sociologia, Lisboa: Pltano, 1998.
GLEDAN, Alain; BRMIND, Janine, Dicionrio econmico e social, Lisboa: Livros Horizonte, 1988.
__________, Dicionrio das teorias e dos mecanismos econmicos, Lisboa: Livros Horizonte, 1988.
KINDER, Hermann; HILGEMANN, Werner, The penguin atlas of world history, Londres: Penguin, 1995.
KRIDON, Michael; SEGAL, Ronald, Atlas des dsordres du monde, Paris: ditions Autrement, 1996.
KUNTH, Wolfgang (dir.), Atlas 2000: a nova cartografia do mundo, Lisboa: Crculo de Leitores, 1994.
LACOSTE, Yves, Dictionnaire de geopolitique des tats, Paris: Flammarion, 1995.
LOPES, Margarida Santos, Dicionrio do Islo, Lisboa: Noticias Editorial, 2002.
OWEN, Richard, Guide to world organisations. Their role & reach in the new world order, Londres: Times
Books, 1996.
POLIS. Enciclopdia verbo da sociedade e do Estado, Lisboa: Verbo, 1983-1987.
ROBERTSON, David, Dictionary of politics, Londres: Penguin Books, 1993.
TOUSCOZ, Jean, Atlas gostratgique: crises, tensions et convergences, 2. ed., Paris: Larousse, 1988.
FONTES E BIBLIOGRAFIA
FONTES E BIBLIOGRAFIA 216
TOWNSON, Duncan, The new penguin dictionary of modern history: 1789-1945, Londres: Penguin, 1994.
VASSE, Maurice; et al., Dictionnaire des relations internationals au 20.
e
sicle, Paris: Armand Colin, 2000.
WEIGALL, David, International relations. A concise companion, Londres: Arnold Publishers, 2002.
ZORGBIBE, Charles, Dicionrio de poltica internacional, Lisboa: Publicaes Dom Quixote, 1990.
Bibliografia
AGNIEL, Guy, Droit international public, Paris: Hachette, 1998.
ALBARELLO, Luc, Prticas e mtodos de investigao em cincias sociais, Lisboa: Gradiva, 1997.
__________, et al., Apprendre chercher, Paris, Bruxelas: De Boeck Universit, 1999.
ALMEIDA, Polbio, Do poder do pequeno Estado, Lisboa: ISCSP, 1990.
__________, Ensaios de geopoltica, Lisboa: ISCSP, 1994.
ALBERT, Mathias; BROCK, Lothar; WOLF, Klaus Dieter (ed.), Civilizing world politics: society and com-
munity beyond the state, Lanham: Rowman and Littlefield, 2000.
ALMEIDA, Polbio F. A. Valente de, Do poder do pequeno Estado: enquadramento geopoltico da hierar-
quia das potncias, Lisboa: Instituto Superior de Cincias Sociais e Polticas, 1990.
__________, Ensaios de geopoltica, Lisboa: Instituto Superior de Cincias Sociais e Polticas, 1994.
ALMOND, A. Gabriel; et al, Diez textos bsicos de Cincia Poltica, Barcelona: Ariel, 1992.
AMARAL, Diogo Freitas, A lei de defesa nacional e das foras armadas: textos, discursos e trabalhos pre-
paratrios, Coimbra: Coimbra Editora, 1983.
__________, Histria das ideias polticas, Coimbra: Almedina, 1999.
ANDERSON, Peter J., Poltica global do poder, justia e morte. Uma introduo s relaes internacio-
nais, Lisboa: Instituto Piaget, 1998.
ANDREFF, Wladimir, As multinacionais globais, Porto: Editora Civilizao, 2001.
ARBLASTER, Anthony, A democracia, Lisboa: Editorial Estampa, 1988.
ARCHER, Clive, International organizations, 2. ed. Londres: Routledge, 1993.
ARENAL, Celestino del, Introduccin a las relaciones internacionales, 3. ed., Madrid: Editorial Temas, 1994.
ARENDT, Hannah, La condition de lhomme moderne, Paris: Calmann-Levy, 1983.
__________, Quest-ce que la politique?, Paris: ditions du Seuil, 1995.
ARON, Raymond, Paix et guerre entre les nations, Paris: Calman-Levy, 1975.
__________, Penser la guerre: Clausewitz, Paris: Gallimard, 1976.
__________, As etapas do pensamento sociolgico, Lisboa: Dom Quixote, 1992.
ARSTEGUI, Jlio; BUCHRUCKER, Cristian; SABORIDO, Jorge, El mundo contemporneo: historia y pro-
blemas, Buenos Aires: Editorial Biblos, 2001.
ATTALI, Jacques, Dicionrio do sculo XXI, Lisboa: Editorial Notcias, 1999.
AVRIL, Pierre, Essais sur les partis politiques, Paris: Payot, 1990.
BADIA, Juan Fernando (coord.), Regimenes polticos actuales, 3. ed., Madrid: Tecnos, 1995.
BADIE, Bertrand; SMOUTS, Marie-Claude, O mundo em viragem. Sociologia da cena internacional, Lisboa:
Instituto Piaget, 1999.
__________, O Fim dos Territrios, Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
__________, Um mundo sem soberania. Os estados entre o artifcio e a responsabilidade, Lisboa: Instituto
Piaget, 2000.
BAIROCH, Paul, Le tiers-monde dans limpasse, Paris: Gallimard, 1992.
BAKER, Susan (ed.); et al., The politics of sustainable development: theory, policy and practice within the
European Union, Londres: Routledge, 1997.
BARSTON, R. P., Modern diplomacy, 2. ed., Londres: Longman, 1997.
BAUER, Alain; RAUFER, Xavier, A globalizao do terrorismo, Lisboa: Prefcio, 2003.
BAYLIS, John; SMITH, Steve (dir.), The globalization of world politics. An introduction to international
relations, Oxford: Oxford University Press, 1998.
BEAUD, Michel, Histria do capitalismo: de 1500 aos nossos dias, Lisboa: Teorema, 1981.
BECK, Ulrich, Qu es la globalizacin?, Barcelona: Paids, 1998.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 217
BELL, Daniel, Las contradiciones culturales del capitalismo, Madrid: Alianza, 1996.
__________, P. H. M., The origins of the second world war in Europe, Londres: Longman, 1993.
BLANGER, Michel, Instituies econmicas internacionais: a mundializao econmica e os seus limi-
tes, Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
BLY, Lucien, Les relations internationales en Europe, Paris: P.U.F., 1992.
BENNETT, A. Leroy, International organizations: principales and issues, 5. ed., Englewood Cliffs: Prentice-
Hall, 1991.
BENOIST, Alain de, O que a geopoltica, Lisboa: Edies do Templo, s/d.
BERGER Peter; LUCKMANN Thomas, A construo social da realidade, Petrpolis: Vozes, 1985.
BERGHAHN, V. R., Modern Germany: society, economy and politics in the twentieth century, 2. ed.,
Cambridge: Cambridge University, 1994.
BERNIER, Bernard, O pensamento econmico contemporneo, Lisboa: Instituto Piaget, 2001.
BERRIDGE, G. R., International politics: states, power and conflit since 1945, 2. ed., Nova Iorque: Harvester
Wheatsheaf, 1992.
BESSA, Antnio Marques, Para uma geopoltica do conflito na Europa do nosso tempo, Lisboa: I.S.C.S.P.,
1996.
__________, PINTO, Jaime Nogueira, Introduo poltica, Lisboa/So Paulo: Verbo, 2001.
BETTATI, Mario, Le droit des organizations internationales, Paris: P.U.F., 1987.
BIZAGUET, Armand, Le grand march europen, 4. ed., Paris: P.U.F., 1993.
BONIFACE, Pascal (dir.), Relations internationales, 12. ed., Paris: Dumond, 1995.
__________ (coord.), As lies do 11 de Setembro, Lisboa: Horizonte, 2002.
BOOTH, Ken; SMITH, Steve (ed.), International relations theory today, Pennsylvania: Pennsylvania State
University Press, 1995.
BOTTOMORE, T. B., Elites and society, Londres: Watts, 1964.
BOYER, Robert; DRACHE, Daniel, Estados contra mercados. Os limites da globalizao, Lisboa: Instituto
Piaget, 1997.
BRAILLARD, Philippe, Teoria das Relaes internacionais, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1990.
__________, DJALILI, Mohammad-Reza, Les relations internationales, 4. ed., Paris: P.U.F, 1994.
BRAUD, Philippe, Science politique, Paris: ditions du Seuil, 1997.
BRAUDEL, Fernand, Gramtica das civilizaes, Lisboa: Teorema, 1989.
__________ (direco de), A Europa, Lisboa: Terramar, 1996.
BRETON, Michel; FOLLIOT, Michel G., Ngociations internationales, Paris: Pedone, 1994.
__________, Roland, Gographie des civilizations, 2. ed., Paris: P.U.F., 1991.
BROWN, Chris, International relations theory: new normative approches, Londres: Harvester Weathsheaf,
1992.
BUCHANAN, James M., The limits of liberty: between anachy leviathan, Chicago: University of Chicago,
1975.
BURCHILL, Scott; DEVETAK, Richard; et al., Theories of international relations, Basingstoke: Palgrave,
2001.
BURDEAU, Georges, Ltat, Paris: Seuil, 1970.
BUZAN, Bany; WAEVER; et al., Security: a new framework for analysis, Londres: Linne Rienner Publishers, 1998.
CAETANO, Marcello, Manual de cincia poltica e direito constitucional, 6. ed., Coimbra: Almedina, 1996.
CAHILL, Kevin (ed.), Preventive diplomacy: stopping wars before they start, Nova Iorque: Routledge, 2000.
CAMPENHOUDT, Luc Van, Introduo anlise dos fenmenos sociais, Lisboa: Gradiva, 2003.
CAMPOS, Joo Mota de, Direito comunitrio, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1997.
__________ (coord.), Organizaes internacionais, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1999.
CANAS, Vitalino, Preliminares do estudo da cincia poltica, Macau: Publicaes o Direito, 1992.
CANCLINI, Nestor Garca, Culturas hbridas, Buenos Aires: Sudamerica, 1992.
CANOTILHO, J. Gomes, Direito constitucional e teoria da constituio, 3. ed., Coimbra: Almedina, 1999.
CAPELA, John J.; et al., Dicionrio de termos de negcios internacionais, Lisboa: Pltano, 2001.
CARLSNAES, Walter; RISSE, Thomas; SIMMONS, Beth, Handbook of international relations, Londres: SAGE,
2003.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 218
CAROL, Anne; GARRIGUES, Jean; IVERNEL, Martin, Dictionnaire dhistoire du XXe sicle, Paris: Hatier, 1993.
CARPENTIER, Jean, Instituitions internationales, 11. ed., Paris: Dalloz, 1993.
__________, LEBRUN, Franois (dir.), Histria da Europa, 2. ed., Lisboa: Estampa, 1996.
CARR, Fergus; CALLAN, Theresa, Managing conflict in the new Europe. The role of international insti-
tutions, Basingstoke: Palgrave, 2002.
__________, E. H., The twenty years crisis 1919-1939: an introduction to the study of international rela-
tions, Londres: Papermac, 1995.
CARREAU, Dominic, Droit international, 6. ed., Paris: Pedone, 1999.
CASTEL, Odile, Histoire des faits conomiques: les trois ges de lconomie mondiale, Paris: Sirey, 1998.
CASTELLS, Manuel, A sociedade em rede, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2002.
__________, O poder da identidade, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2003.
__________, O fim de milnio, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2004.
CLRIER, Pierre, Geopoltique et geostratgie, Paris: PUF, 1969.
CHAGNOLLAUD, Dominique, Science politique: lments de sociologie politique, 2
e
dition, Paris: Dalloz,
1999.
__________, Jean-Paul, Relations internationales contemporaines: un monde en perte de repres. Deuxime
dition revue et augmente, Paris: ditions LHarmattan, 1999.
CHALIAND, Grard, Les stratgies du terrorisme, Paris: Descle de Brouwer, 2002.
CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-Claude, Le mtier de sociologue: pralables pistmo-
logiques, Paris: Mouton, 1986.
CHANIAL, Philippe, Espaces publics, sciences sociales et dmocratie, in Revue Quaderni n. 18, 1992.
CHARILLON, Frdric, La politique trangre lpreuve du transnational, Paris: LHarmattan, 1999.
CHARLOT, Jean, Os partidos polticos, Lisboa: Parceria A. M. Pereira, 1974.
CHAZELLE, Jacques, La diplomatic, Paris: P.U.F, 1968.
CHESNAIS, Franois, A mundializao financeira. Gnese, custo e apostas, Lisboa: Instituto Piaget, 1998.
CHOMSKY, Noam, Nova Iorque 11 de Setembro, 2. ed., Lisboa: Caminho, 2001.
CICOUREL Aaron, Smantique gnrative et structure de linteraction sociale, in Revue communica-
tions, n. 20, 1973.
CLINTON, W. David, The two faces of national interest, Lousiana: Lousiana State University, 1994.
COELHO, Carlos Miguel; RODRIGUES, Antnio, O parlamento europeudepois de Nice, Lisboa: Flio edi-
es, 2001.
COHEN, Saul, Geography in a divided world, Londres: Methuen C., 1964.
COLARD, Daniel, Les relations internationales depuis 1945, 6
me
dition, Paris: Armand Colin, 1996.
__________, Les relations internationales: de 1945 nos jours, 8. ed., Paris: Dalloz, 1999.
COLLIARD, Claude-Albert, Institutions des relations internationales, 10. ed., Paris: Dalloz, 1995.
CORCUFF, Philippe, Les nouvelles sociologies, Paris: Nathan, 1995.
CORM, Georges, A nova desordem econmica mundial na origem dos fracassos do desenvolvimento, Lisboa:
Edies Instituto Piaget, 1996.
CORREIA, Pedro de Pezarat, Manual de geopoltica e geostratgia, Coimbra: Quarteto Editora, 2002.
COSTA, Francisco Seixas da, Diplomacia europeia. Instituies, alargamento e o futuro da Unio, Lisboa:
Dom Quixote, 2002.
COULTIER, Edwin M., Principales of politics and government, Chicago: Brown and Benchmark, 1997.
COURTOIS, Stphane, O livro do comunismo: crimes, terror e represso, 4. ed., Lisboa: Quetzal, 1999.
COUTO, Abel Cabral, Elementos de estratgia: apontamentos para um curso, Lisboa: Instituto de Altos
Estudos Militares, 1988.
CRAIG, Gordon A.; GEORGE, Alexander L., Force and statecraft: diplomatic of our time, 2. ed., Nova Iorque:
Oxford University Press, 1990.
CRAVINHO, Joo Gomes, Vises do mundo: as relaes internacionais e o mundo contemporneo, Lisboa:
Imprensa de Cincias Sociais, 2002.
CUNHA, J. da Silva, Histria breve das ideias polticas: das origens revoluo francesa, Porto: Lello &
Irmo, 1981.
DAHL, Robert A., Democracia, Lisboa: Temas e debates, 2000.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 219
DAVID, Marcel, La souverainet du peuple, Paris: P.U.F., 1996.
DEFARGES, Philippe Moreau, Relations internationales, Paris: Seuil, 1994.
__________, As relaes internacionais desde 1945, Lisboa: Gradiva, 1997.
__________, A mundializao. O fim das fronteiras, Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
__________, Introduo geopoltica, Lisboa: Gradiva, 2003.
DESCOMBES, Vincent, Les institutions du sens, Paris: Minuit, 1996.
DESGARDINS, Bruno; LEMAIRE, Jean-Paul, O novo ambiente internacional, Lisboa: Institutito Piaget, 1999.
DESHAIES, Bruno, Metodologia da investigao em cincias sociais, Lisboa: Piaget, 1992.
DEUTSCH, Karl, Poltica e governo, 2. edio, Braslia: Editora Universidade de Braslia, 1983.
__________, The analysis of international relations, Third edition, Nova Jersey: Prentice-Hall, 1988.
DEVIN, Guillaume, Sociologie des relations internationales, Paris: La Dcouverte, 2002.
DICKEN, Peter, Global Shift: reshaping the global economic map in the 21
st
century, Londres: Sage
Publications, 2003.
DINH, Nguyen Quoc; DAILLIER, Patrick; PELLET, Alain, Direito internacional pblico, Lisboa: Fundao
Calouste Gulbenkian, 1999.
DOISE, Willem; CLMENCE, Alain; LORENZI-CIOLDI, Fbio, Reprsentations sociales et analyses de don-
nes, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1992.
DOLLFUS, Olivier, La nouvelle carte du monde, Paris: P.U.F, 1995.
DORMOY, Daniel, Droit des organisations internationales, Paris: Dalloz, 1995.
DRAGO, Roland (dir.), Souverainet de ltat et interventions internationales, Paris: Dallon, 1996.
DREVET, Jean-Fronois, La nouvelle identit de lEurope, Paris: P.U.F., 1997.
DROZ, Jacques, Histoire diplomatique de 1648 1919, 3. ed., Paris: Dalloz, 1972.
__________, Bernard; ROWLEY, Anthony, Histria do Sculo XX, Lisboa: Dom Quixote, 1994.
DUNLEAVY, Patrick; OLEARY, Brendan, Theories of the state: the politics of liberal democracy, Londres:
Macmillan, 1987.
DUPQUIER, Jacques, A populao mundial no sculo XX, Lisboa: Instituto Piaget, 2002.
DURKHEIM, mile, A diviso do trabalho social, Lisboa: Presena, 1977.
__________, As regras do mtodo sociolgico, Lisboa: Presena, 1987.
DUROSELLE, Jean-Baptiste, Labime: 1939-1945, Paris: Impremerie Nationale, 1982.
__________, La dcadence: 1932-1939, 3. ed., Paris: Imprimerie Nationale, 1985.
__________, Tout empire prira: thorie des relations internationales, Paris: Armand Colin, 1992.
__________, A Europa de 1815 aos nossos dias, 4. ed., So Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1992.
__________, Histoire diplomatique de 1919 nos jours, 11. ed., Paris: Dalloz, 1993.
DUVERGER, Maurice, Les partis politiques, Paris: Armand Colin, 1976.
EINSENSTADT, S. N., A dinmica das civilizaes: tradio e modernidade, Lisboa: Cosmos, 1991.
ELIAS, Norbert, As transformaes do equilbrio ns-eu. In La socit des individus, Paris: Fayard, 1991.
__________, Qu'est-ce que la sociologie? Paris: d. de l'Aube, 1993.
ENGELHARD, Philippe, O homem mundial. Podero as sociedades humanas sobreviver? Lisboa: Instituto
Piaget, 1998.
ESPADA, Joo Carlos (coord.), Liberdade, virtude e interesse prprio, Mem Martins: Europa Amrica, 1997.
EWALD, Franois, Letat providence, Paris: Bernard Grasset, 1994.
FERNANDES, Antnio Jos, Relaes internacionais, Lisboa: Editorial Presena, 1991.
__________, A Unio Europeia de Maastricht, Lisboa: Editorial Presena, 1994.
FERNANDES, Antnio Teixeira, Os fenmenos polticos: sociologia do poder, 2. ed., Porto: Edies
Afrontamento, 1998.
FERRANDRY, Jean Luc, Le point sur la mondialisation, 3. ed., Paris: P.U.F, 1996.
FERREIRA, Eduardo Paz, Unio Econmica e Monetria: um guia de estudo, Lisboa: Quid Juris, 1999.
__________, Muniz, O ethos nacional no horizonte global, in Crtica marxista, n. 11, So Paulo: Bomtempo
Editorial, 2000.
FERRIER, Jean-Pierre, Les relations internationales, Paris: Gualino diteur, 1996.
FISHER, R.; URY, W., Getting to yes: negotiating agreement without giving in, Boston: Houghton-Mifflin,
1981.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 220
FONTANEL, Jacques, Organisations conomiques internationales, 2. ed., Paris: Masson, 1995.
FONTAINE, Andr, Histoire de la guerre froide, Paris: Fayard, 1967.
__________, Pascal, A Unio Europeia, Lisboa: Editorial Estampa, 1995.
__________, A construo europeia de 1945 aos nossos dias, Lisboa: Gradiva, 1998.
FORNEL Michel, Voir un vnement, in Raisons pratiques 2, Paris: EHESS, 1991.
FORTUNA, Carlos, Cidade, cultura e globalizao, Oeiras: Celta Editora, 1997.
FOSSAERT, Robert, O mundo no sculo XXI. Uma teoria dos sistemas mundiais, Lisboa: Institutito Piaget,
1996
FOWKES, Ben, The rise and fall of comunism in Eastern Europe, 2. ed., Houndmills: Macmillan, 1995.
FREIRE, Maria Raquel, Conflict and security in the former Soviet Union: the role of OSCE, Aldershot: Ashgate,
2003.
FREUND, Julien, Lessence du politique, Paris: Sirey, 1986.
FUKUYAMA, Francis, O fim da histria e o ltimo homem, Lisboa: Gradiva, 1992
__________, A grande ruptura, Lisboa: Quetzal ed, 2000.
FURET, Franois, O passado de uma iluso. Ensaio sobre a ideia comunista no sculo XX, Lisboa: Presena,
1996.
GALLOIS, Pierre, Geopolitique: Les voies de la puissance, Paris: Fondation des tudes de Dfense Nationale,
1990.
GARCA-PELAYO, Manuel, Las transformaciones del estado contemporneo, Madrid: Alianza, 1996.
GARFINKEL Harold; SACKS Harvey, On formal structures of practical actions, in Ethnomethodological
studies of work, R.K.P, 1986.
GAVALDA, Christian; et al., Rpertoire de droit international, Paris: Dalloz, 1992.
GHEBALI, Victor-Yves, La diplomatique de la dtente: la OSCE, dHelsinki Vienne (1973-1989), Bruxelas:
tablissements mile Bruylant, 1989.
GIDDENS, Anthony, The constitution of society, Cambridge: Polity Press, 1984.
__________, Novas regras do mtodo sociolgico, Lisboa: Gradiva, 1996.
__________, Sociologia, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1997.
__________, O mundo na era da globalizao, Lisboa: Presena, 2000.
GIL, Antnio Carlos, Mtodos e tcnicas de pesquisa social, 5. Edio, So Paulo: Editora Atlas, 1999.
GILBERT, Felix; LARGE, Davis Clay, The end of the european era 1890 to the present, 4. ed., Nova Iorque:
W. W. Norton & Company, 1991.
GILPIN, Robert, The political economy of international relations, Nova Jersey: Princeton University Press, 1987.
GIRARD, Alain; NEUSCHWANDER, Claude, Le liberalisme contre la dmocratie: le temps des citoyens, Paris:
Syros, 1997.
GIRAULT, Ren; FRANK, Robert; THOBIE, Jacques, La loi des gants: 1941-1964, Paris: Masson, 1993.
__________, Diplomatie europenne, Paris: Armand Colin, 1997.
GOFFMAN, Erving, La mise en scne de la vie quotidienne, Paris: Minuit, 1973.
GOLDSMITH, Edward, O desafio ecolgico, Lisboa: Ed. Piaget, 1995.
__________ (dir.); et. al., Le procs de la mondialisation, Paris: Fayard, 2001.
GOMES, Teresa Maria Resende Cierco, A influncia poltica e econmica da Alemanha na Europa, Lisboa:
Pedro Ferreira, 1997.
GMEZ, Jos Mara, Poltica e democracia em tempos de globalizao, Petrpolis: Vozes; CLACSO, 2000.
GOUNELLE, Max, Relations internationales, Paris: Dalloz, 1996.
GOYARD-FABRE, Simone, L tat, Paris: Armand Colin, 1999.
GRAWITZ, Madeleine (dir.), Trait de science politique, Paris: P.U.F., 1985.
__________, Mthodes des sciences sociales, 9e dition, Paris: ditions Prcis Dalloz, 1993.
GUEDES, Armando M. Marques, Direito do mar, Lisboa: I. D. N., 1989.
GUELLEC, Jean, Relations internationals, Paris: Ellipses, 1994.
GUILLARME, Bertrand, Rawls et lgalit dmocratique, Paris: P.U.F., 1999.
GUNTHER, Richard; DIAMANDOUROS, P. Nikiforos; PUHLE, Hans-Jrgen (ed.), The politics of democra-
tic consolidation: southern Europe in comparative perspective, Baltimore: The Johns Hopkins Univer-
sity, 1995.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 221
GURVITCH, Georges, Dialectique et sociologie, Paris: Flammarion, 1962.
__________, Vocao actual da sociologia, Lisboa: Edies Cosmos, 1979.
GUYENQUOC, Dihn; DAILLER, Patrick; PELLET, Alain, Droit international public, 6. ed., Paris, LGDJ, 1999.
HABERMAS, Jrgen, L'espace public, Paris: Payot, 1978.
__________, Thorie de lagir communicationnel, Paris: Fayard, 1987.
__________, L'espace public, 30 ans aprs, in Quaderni, n. 18, 1992.
__________, Sociologie et thorie du langage, Paris: Armand Colin, 1995.
__________, RAWLS, John, Dbat sur la justice politique, Paris: Les ditions du Cerf, 1997.
__________, La constelacin posnacional: ensayos polticos, Barcelona: Paids, 2000.
HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John, O federalista: o pensamento politico, Braslia: Univer-
sidade de Braslia, 1984.
HELD, David, Democracy and the global order, Cambridge: Polity Press, 1997.
__________, et al., Global transformations: politics, economics and culture, Cambridge: Polity, 1999.
__________, MCGREW, Anthony (eds.), The global transformations reader, Cambridge: Polity Press, 2001.
HEYWOOD, Andrew, Political ideas and concepts. An introduction, Londres: MacMillan, 1994.
__________, Politics, Londres: MacMillan, 1997.
HIGGINS, Rosalyn, Problems & process, international law and how we use it, Oxford: Clarendon Press,
1994.
HIX, Simon, The political system of the European Union, Basingstoke: Palgrave, 1999.
HOBSBAWM, E. J, A era do imprio: 1875-1914, Lisboa: Presena, 1987.
__________, Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality, 2. ed., Cambridge: Cambridge
University, 1993.
__________, O sculo XXI: reflexes sobre o futuro, Lisboa: Presena, 2000.
__________, A era dos extremos: breve histria do sculo XX, 1914-1991, Lisboa: Ed. Presena, 1998.
__________, A questo do nacionalismo: naes e nacionalismo desde 1780: programa, mito, realidade,
Lisboa: Terramar, 1998.
HOCKING, Brian; SMITH, Michael, World politics: an introduction to international, Nova Iorque: Harvester
Weatsheaf, 1990.
HOLSTI, K. J., International politics: A framework for analysis, Seventh edition, Nova Jersey: Prentice-
-Hall, 1995.
HOLTON, Robert J., Economia e sociedade, Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
HOSKING, Geoffrey, A history of the Soviet Union: 1917-1991, Londres: Fontana, 1992.
HUGHES, Barry B., International future: choices in the face of uncertainty, 3. ed., Oxford: Westview, 1999.
HUNTINGTON, Samuel P., O choque das civilizaes e a mudana na ordem mundial, Lisboa: Gradiva, 1999.
__________, et al., O debate sobre a tese de Samuel P. Huntington, Lisboa: Gradiva, 1999.
__________, et al., A inveno democrtica, Lisboa: Instituto de Cincias Sociais, 2000.
HUNTZINGER, Jacques, Introduo s relaes internacionais, PE edies, 1991.
HUTCHINSON, John; SMITH, Anthony D. (ed.), Nationalism: critical concepts in political science, Londres:
Routledge, 2000.
JACQUARD, Albert, A exploso demogrfica, Lisboa: Ed. Piaget, 1994.
JANUS, Anurio de relaes exteriores, Lisboa: Pblico; Universidade Autnoma de Lisboa, 1996, 2002.
JONES, E. L., O milagre europeu. Contexto, economia e geopoltica da histria da Europa e da sia, 2.
edio, Lisboa: Gradiva, 2002.
__________, Richard Wyn, Security, strategy and critical theory, Londres: Lynne Rienner Publishers, 1999.
JUAN, Salvador, Mthodes de recherche en sciences sociohumaines, Paris: P.U.F, 1999.
KAGAN, Donald, Sobre as origens da guerra e a preservao da paz, Lisboa: Temas da Actualidade, 1995.
KALDOR, Mary, New and old wars: organized violence in a global era, Cambridge: Polity Press, 1999.
KAMINSKY, Catherine; KRUK, Simon, Le nouvel ordre international, 2. ed., Paris: P.U.F., 1994.
KAPTEYN, J. G.; (et al.), International organization and integration: annotated basic documents and des-
criptive directory of international organizations and arrangements, The Hague: Martins Nijhoff, 1982.
KARASS, C. L., Give and take: the complete guide to negotiating strategies and tactics, Nova Iorque: Thomas
Y. Crowell, 1974.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 222
KATZENSTEIN, Peter (ed.), The culture of national security, Nova Iorque: Colombia University Press, 1996.
KEATING, Michael, The politics of modern Europe: the state and political authority in the major demo-
cracies, 2. ed., Cheltenham: Edward Elgar, 1999.
KEGLEY, Charles Jr.; WITTKOPF, World politics, trend and transformation, 5
th
ed., Nova Iorque: St. Martins
Press, 1995.
KENNEDY, Paul, Ascenso e queda das grandes potncias, Amadora: Europa-Amrica, 1998.
KHAVAND, Fereydou A., Le nouvel ordre commercial: du GATT lOMC, Paris: Nathan, 1995.
KISSINGER, Henry, Diplomacia, Lisboa: Gradiva, 1996.
KOSELLECK, Reinhart, Le futur pass, Paris: Ed. de l'EHESS, 1990.
KRUGMAN, Paul R., La mondialisation nest pas coupable, Paris: La Dcouverte, 2000.
LACOSTE, Yves, Questions de gopolitique: lislam, la mer, lAfrique, Paris: Le Livre Poche, 1988.
LANDES, David S., A riqueza e a pobreza das naes: Porque algumas so to ricas e outras to pobres,
4. ed., Campus, 1998.
LARA, Antnio de Sousa, Da histria das ideias polticas teoria das ideologias, 2. ed., Lisboa: Pedro Ferreira,
1995.
__________, Elementos de cincia poltica, 4. ed., Lisboa: Pedro Ferreira, 1995.
LASZLO, Ervin, O 3. milnio. O desafio e a viso, Lisboa: Instituto Piaget, 1999.
LEAVER, Richard; RICHARDSON, James L. (ed.), Charting the post-cold war order, Boulder: Westview, 1993.
LECHNER, Frank J.; BOLI, John, The globalization reader, Oxford: Blackwell, 2000.
LEFEBVRE, Maxime, Le jeu du droit et de la puissance: prcis de relations internationales, Paris: P.U.F., 2000.
LEITE, Jorge; et al., Direito social comunitrio: O direito de livre circulao dos trabalhadores comuni-
trios, Lisboa: Ed. Cosmos, 1998.
LEJEUNE, Dominique, Les causes de la premire guerre mondiale, Paris: Armand Colin, 1992.
LEMAIRE, Jean-Paul, Estratgias de internacionalizao, Lisboa: Instituto Piaget, 1999.
LESSAY, Franck, Souverainet et lgitimit chez Hobbes, Paris: P.U.F., 1988.
LEWIS, Bernard, A linguagem poltica do Islo, Lisboa: Colibri, 2001.
LINKLATER, Andrew, International relations. Critical concepts in political science, Londres: Routledge,
2001.
LOPES, J.J. Almeida, Tratados europeus explicados, Lisboa: VISLIS Editores, 1998.
LORCA, A. Siero, Hacia un modelo social de Estado, Oviedo: AML, 1996.
LUCE; RAIFFA, Games and decisions. Introduction and critical survey, Nova Iorque: Wiley, 1967.
LUSADA. Revista de relaes internacionais, Porto: Universidade Lusada, 2000-2004.
LUSSATO, Bruno, A terceira revoluo, Lisboa: Instituto Piaget, 2000.
LUTTWAK, Edward, Turbocapitalismo. Vencedores e vencidos na economia global, Lisboa: Temas e deba-
tes, 2000.
LYKKE, Erik (ed.), Achieving environmental goals: the concept and practice of performance review, Londres:
Belhaven, 1992.
MACWILLIAMS, Waine, The world since 1945. A history of international relations, Londres: Lynne Rienner, 1990.
MADDISON, Angus, The world economy in the 20th century, Paris: OCDE, 1989.
MAGALHES, Jos Calvet de, A diplomacia pura, 2. ed., Venda Nova: Bertrand, 1996.
MAGAUD, Charles, De la violence internationale: thorie gnrale de la violence, des forces productives
et du systme des Etats, Paris: Economica, 1988.
MAIRET, Grard, Le principe de souverainet: histories et fondements du pouvoir moderne, Paris: Gallimard,
1997.
MIZ, Ramn, A ideia de nacin, Vigo: Xerais de Galicia, 1997.
MALTEZ, Jos Adelino, Princpios de cincia poltica, introduo teoria poltica, Lisboa, ISCSP, 1996.
__________, Curso de relaes internacionais, S. Joo do Estoril: Principia, 2002.
MANDER, Jerry; GOLDSMITH, Edward, Economia global. Economia local. A controvrsia, Lisboa: Instituto
Piaget, 1997.
MARQUAND, David; NETTLER, Ronald L. (ed), Religion and democracy, Oxford: Blackwell, 2000.
MARTIN, Jean-Pierre, Histoire et analyse conomique. De la rvolution industrielle au systme de lco-
nomie monde, Paris: Ellipses, Edition Marketing, 1991.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 223
MARTINS, Manuel Gonalves, Relaes Internacionais: poltica internacional, 4. ed., Paris: Dalloz, 1988.
__________, Relaes e desafios internacionais na era da globalizao, Sintra: Pedro Ferreira, 2003.
MARX, Karl, Contribuio para a crtica da economia poltica, Lisboa: Estampa, 1977.
MATHIEX, Jean, La civilisation europenne. Dictionnaire cultural, historique et gographique, Paris: Bordas, 1994.
MATOS, Joel (dir.), Grande crnica do sculo XX, Loures: Oceano, 2001.
__________, Rui Pedro Paula de, As ONG (D) e a crise do Estado soberano: um estudo de cincia poltica
e relaes internacionais, Lisboa: Universidade de Lisboa, 2001.
MCWHINNEY, Edwaurd, Les nations unies et la formation du droit, Paris: Pedone; Unesco, 1986.
MEDEIROS, Eduardo Raposo, Economia internacional, Lisboa: ISCSP, 1994.
__________, Blocos regionais de integrao econmica no mundo, Lisboa: ISCSP, 1998.
MELLN, Juan Antn; et al., Ideologas y movimientos politicos contemporaneous, Madrid: Tecnos, 1998.
MERLE, Marcel, La politique trangre, Paris: P.U.F., 1984.
__________, Forces et enjeux dans les relations internationales, 2. ed., Paris: Economica, 1985.
__________, Les acteurs dans les relations internationales, Paris: Economica, 1986.
__________, Sociologia de las relaciones internacionales, Madrid: Alianza, 1988.
MERTON, Robert, Social theory and social structure, Glencoe: Free Press, 1949.
MICHAUD, Yves (dir.), Quest-ce que la socit? Paris: ditions Odile Jacob, 2000.
__________, Quest-ce que la culture? Paris: ditions Odile Jacob, 2001.
MICHEL, Henri, La seconde guerre mondiale, 8. ed., Paris: P.U.F., 1972.
MICHELS, Robert, Les partis politiques, Paris: Flammarion, 1971.
MILLER, Lynn H., Global order: values and power in international politics, 3. ed., Oxford: Westview, 1994.
MILLS, Charles Wright, Les causes de la troisime guerre mondiale, Paris: Calmann-Lvy, 1970.
__________, A elite do poder, Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.
__________, John Stuart, Sobre la libertat, Madrid: Alianza, 2001.
MILWARD, Alan S., The european rescue of the nation-state, Londres: Routledge, 1994.
MILZA, Pierre, Les relations internationales de 1973 nos jours, Paris: Hachette, 1996.
__________, As relaes internacionais de 1918 a 1939, Lisboa: Edies 70, 1998.
__________, As relaes internacionais de 1871 a 1914, Lisboa: Edies 70, 2002.
MINC, Alain, O triunfo da mundializao, Lisboa: Instituto Piaget, 1999.
MINOGUE, Kenneth, Poltica, o essencial, Lisboa: Gradiva, 1996.
MOLINO, J., L'vnement: de la sociologie la smiologie, in L'vnement. Actes du colloque du Centre
Mridional d'Histoire Sociale, Aix-en-Provence: Publications de l'Universit de Provence, 1986.
MONTBRIAL, Thierry; JACQUET, Pierre (dir.), RAMSS, Rapport annuel mondial sur le systme cono-
mique et les strategies, Paris: DUNOD, 1997-2003.
MOREIRA, Adriano, Cincia poltica, 5. Reimp., Coimbra: Almedina, 1997.
__________, Estudos da conjuntura internacional, Porto: Dom Quixote, 1999.
__________, Teoria das relaes internacionais, 4. ed., Coimbra: Almedina, 2002.
MORGENTHAU, Hans, Politics among nations. The struggle for power and peace, 6. ed., Nova Iorque:
McGraw-Hill, 1997.
MORIN, Edgar, Pensar a Europa, Lisboa: Europa-Amrica, 1987.
__________, BOCCHI, Gianluca; CERUTI, Mauro, Os problemas do fim de sculo, 3. ed., Lisboa: Notcias, 1991.
__________, As grandes questes do nosso tempo, 6. ed., Lisboa: Notcias, 1999.
MOUGEL, F. C.; et al., Histoire des relations internationales (1815-1997), 5. ed., Paris: P.U.F, 1997.
MURTEIRA, Mrio, Economia mundial, Lisboa: Difuso Cultural, 1995.
NAES UNIDAS, Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento. Relatrio do desenvolvimento
humano, Lisboa: Trinova, 1999.
NAR, Sami; MORIN, Edgar, Uma poltica de civilizao, Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
NEEDLER, Martin C., Identity, interest and ideology: an introduction to politics, Westport: Praeger, 1996.
NER, Jacques, Histria contempornea, 3. ed., Rio de Janeiro: Bertrand, 1988.
NICOLSON, Harold, Diplomacy, Washington: Institute for the Study of Diplomacy, 1988.
NINCIC, Miroslav; LEPGOLD, Joseph (ed.), Being useful: policy relevance and international relations theory,
Michigan: The University of Michigan, 2003.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 224
NONJON, Alain, Comprendre leconomie mondiale, Paris: Ellipses, 1995.
NORA, Pierre, Le retour de l'vnement. In GOFF, Jacques Le; NORA, Pierre (dir.), Faire de l'histoire, Paris:
Gallimard, 1974.
NORRIS, Robert S.; BURROWS, Andrew S.; FIELDHOUSE, Richard W., Nuclear weapons databook, Boulder:
Westview, 1994.
NOUSHI, Mark, O sculo XX, Lisboa: Ed. Piaget, 1995.
__________, Em busca da Europa. Construo europeia e legitimidade nacional, Lisboa: Instituto Piaget,
1996.
__________, Bilan de la seconde guerre mondiale: laprs-guerre: 1945-1950, Paris: Seuil, 1996.
NUGENT, Neille, The government and politics of the European Union, Basingstoke: Palgrave, 2003.
NUNES, Adrito Sedas, Histria dos factos e das doutrinas sociais: da formao histrica do capitalismo
ao marxismo, Lisboa: Presena, 1992.
OFFE, Claus, Il tunnel: lEuropa dellest dopo il comunismo, Roma: Donzelli, 1993.
OFFERL, Michel, Les partis politiques, 3. ed., Paris: PUF, 1997.
OLSON, William Clinton; LEE, James R., The theory and practice of the international relations, Englewood
Cliffs: Prentice-Hall, 1994.
OMEARA, Patrick; et al., Globalization and the challenges of a new century, Bloomington: Indiana University
Press, 2000.
ORTIZ, Fernando, Contrapunteo cubano del tabaco y el azucar, Havana: Editorial de cincias sociais, 1991.
OWEN, Richard, The times: Guide to world organisations. Their Role & Reach in the New World Order,
Londres: Times Books, 1996.
OZER, Atila, Ltat, Paris: Flammarion, 1998.
PACTEAU, S.; et al., Histoire des relations internationals (1815-1993), 4. ed., Paris: P.U.F, 1993.
PALOMBARA, Joseph, A poltica no interior das naes, Braslia: Editora Universidade de Braslia, 1982.
PARETO, Vilfredo, Circulao das elites, In CRUZ, M. Braga da (org.), Teorias sociolgicas. Os fundado-
res e os clssicos, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1989, vol. 1.
__________, Trait de sociologie gnrale, Genebra: Droz, 1968.
PARK, W.; REES, Wyn (eds.), Rethinking security in post cold war Europe, Londres: Longman, 1998.
PARMENTIER, Guillaume, Le retour de lhistoire: stratgie et relations internationales pendant et aprs
de la guerre froide, Bruxelas: Complexe, 1993.
PARSONS, Talcott, The social system, Nova Iorque: The Free Press; 1951.
PASQUINO, Gianfranco, La classe politica, Bologna: il mulino, 1999.
__________, Curso de cincia poltica, Cascais: Principia, 2002.
PAULET, Jean-Pierre, La mondialisation, Paris: Armand Colin, 1998.
PEARSON, Frederic; ROCHESTER, J. Martin, Relaciones internacionales. Situacion global en el siglo XXI,
Bogota: McGraw-Hill, 2000.
PELLISTRANDI, Benot, As relaes internacionais de 1800 a 1871, Lisboa: Edies 70, 2002.
PEREIRA, Andr Gonalves; QUADROS, Fausto, Manual de direito internacional pblico, 3. ed., Coimbra:
Almedina, 1993.
PINTO, Jos Madureira, Propostas para o ensino das cincias sociais, 2. ed., Porto: Edies Afrontamento, 1997.
PIRES, Francisco Lucas, O que Europa? Lisboa: Difuso cultural, 1993.
__________, Introduo cincia poltica, Porto: Universidade Catlica Portuguesa, 1998.
__________, Francisco Videira, Sociologia poltica: teoria sociolgica do Estado, Porto: Lello & Irmo, 1977.
POPPER, Karl R., The open society and its enemies, Londres: Routledge, 1996.
__________, All life is problem solving, Londres: Routledge, 1999.
PORTO, Manuel Carlos Lopes, Teoria da integrao e polticas comunitrias, Coimbra: Almedina, 1997.
PRLOT, Marcel; LESCUYER, Georges, Histria das ideias polticas, Lisboa: Presena, 1997.
PRUITT, D. G., Negotiation behaviour, Nova Iorque: Academic Press, 1981.
PUTNAM, R. D, The comparative study of political elites, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1976.
QUELLEC, Jean, Relations internationales. Naissance du troisime millnaire, Paris: Ed. Marketing, 1994.
QUR, Louis, Mise en place dun ordre et mise en ordre des places: linvitation comme vnement con-
versationnel, in Lexique 5, 1987.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 225
__________, Le tournant descriptif en sociologie, in Current sociology, vol. 40, n 1, Sping,, 1992.
RAANAN, Uri (ed.), State and nation in multi-ethic societies: the breakup of multinational states, Manchester:
Manchester University, 1991.
RADCLIFFE-BROWN, Structure and function in primitive society, Londres: Oxford University Press, 1942.
RADOS, Milan, Quem matou a Joguslvia? Porto: Campo das Letras, 1999.
__________, A poltica externa da Unio Europeia, Lisboa: O Esprito das Leis Editora, 2003.
RAIFFA, H., The art & science of negotiation, Cambridge: The Harvard University Press, 1982.
RAMONET, Ignacio, Guerras do sculo XXI, novos medos, novos ameaas, Porto: Campo das Letras, 2003.
RAWLS, John, O liberalismo poltico, Lisboa: Presena, 1997.
__________, A lei dos povos, Coimbra: Quarteto, 2000.
REDFIELD, Robert; LINTON, Ralph; HERSKOVITS, Melville Jean, Memorandum for the study of accul-
turation, in American anthropologist, t. 38, n. 1, 1936.
RMOND, Ren, Introduo histria do nosso tempo: o antigo regime aos nossos dias, Lisboa: Gradiva,
1994.
RENGGER, N. J., International relations, political theory and the problem of order: beyond international
relations theory? Londres: Routledge, 2000.
RENOUVIN, Pierre; DUROSELLE, Jean-Baptiste, Introduction lhistoire des relations internationales, 4.
ed., Paris: Armand Colin, 1991.
__________, La premire guerre mondiale, 8. ed., Paris: P. U. F., 1993.
__________ (dir.), Histoire des relations internationales, Paris: Hachette, 1994.
REVEL, Jean-Franois, A obsesso antiamericana, 2. edio, Lisboa: Bertrand Editora, 2003.
REYNOLDS, P.A., An introduction to international relations, 3
rd
ed., Londres: Longman, 1994.
RIBEIRO, Manuel de Almeida, A Organizao das Naes Unidas, Coimbra: Almedina, 1998.
RICHARD, Michel, Les doctrines du pouvoir politique: du totalitarisme la dmocratie, Lyon: Cronique
Sociale, 1986.
RICHARDSON, Jeremy (ed.), European Union: power and policy-making, Londres: Routledge, 1996.
RIVOIRE, Jean, Lconomie mondiale depuis 1945, 6. ed., Paris: P.U.F, 1992.
ROBERTSON, Roland, Globalizao: teoria social e cultura global, Petrpolis: Vozes, 2000.
RODINSON, Maxine, De Pitgoras a Lenine: activismos ideolgicos, Lisboa: Instituto Piaget, 1993.
ROGEIRO, Nuno, Poltica, Lisboa: Difuso Cultural, 1993.
__________, O que poltica, 3. ed., Coimbra: Quimera, 2002.
ROLDN BARBERO, Javier, La C.E.E. y los convenios de Lom: el stabex, Granada: Universidad de Granada;
Junta Andalucia, 1990.
ROSAMONDS, Ben, Theories of european integration, Basingstoke: Palgrave, 2000.
ROSENAU, James N., The study of global interdependency: essays on the transnationalization of world
affairs, Londres: Frances Printer, 1980.
__________, Along the domestic-foreign frontier: exploring governance in a turbulent world, Cambridge:
Cambridge University, 1997.
__________, DURFEE, Mary, Thinking theory throughly: coherent approaches to an incoherent world, 2.
ed., Oxford: Westview, 2000.
RUBY, Christian, Introduction la philosophie politique, Paris: La Dcouverte, 1996.
S, Lus, A crise das fronteiras: Estado, administrao pblica e Unio Europeia, Lisboa: Cosmos, 1997.
SAINSAULIEU, Renaud, Sociologie de l'organisation et de l'entreprise, Presses de la FNSP, 1988.
SALMON, Jean-Marc, Un monde grande vitesse: globalisation: mode demploi, Paris: Seuil, 2000.
SAMPEDRO, Jos Lus, El mercado y la globalizacin, Madrid: Ediciones Destino, 2002.
SAMUELSON / NORDHAUS, Economia, Lisboa: McGrawHill, 1991.
SANDE, Paulo, O sistema poltico na Unio Europeia, Cascais: Principia, 2000.
SANTOS, J. Loureiro dos, Incurses no domnio da estratgia, Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian,
1983.
SCARTEZZINI, Ricardo; ROSA, Paolo, Le relazioni internazionali, Roma: NIS, 1994.
SCHELLENBERG, James, Conflict resolution: theory, research and practice, Nova Iorque: State University
of Nova Iorque Press, 1996.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 226
SEARA, Fernando Reboredo; BASTOS, Fernando Loureiro; CORREIA, Jos de Matos, Organizaes inter-
nacionais: documentais fundamentais, Lisboa: SPB, 1996.
SHEMEIL, Yves, La science politique, Paris: Armand Colin, 1994.
SCHIRM, Stefan A., Globalization and the New Regionalism. Global Markets, Domestic Politics and Regional
Cooperation, Cambridge: Polity, 2002.
SCHOLTE, Jean Aart, Globalization. A critical introduction, Basingstoke: Palgrave, 2000.
SCHULZE, Hagen, Estado e nao na histria da Europa, Lisboa: Editorial Presena, 1997.
SHULZINGER, Robert D., American diplomacy in the twentieth century, Nova Iorque: Oxford University,
1994.
SCHTZ, Alfred, Le chercheur et le quotidien, Paris: Mridiens Klincksieck, 1987.
SEILER, Daniel-Louis, Les partis politiques, Paris: A. Colin, 1993.
SENARCLENS, Pierre de, La politique internationale, Paris: Armand Colin, 1992.
SENNETT, Richard, Les tyrannies de lintimit, Paris: Seuil, 1979.
SILVA, Augusto Santos; PINTO, Jos Madureira, Metodologia das cincias sociais, Porto: Edies Afron-
tamento, 1986.
SMITH, Anthony D., Identidade nacional, Lisboa: Gradiva, 1997.
SMOUTS, Marie-Claude, Les nouvelles relations internationals. Pratiques et theories, Paris: Presses de
Sciences Po, 1998.
SNYDER, Craig A.; BASINGSTOKE, Contemporary security and strategy, Londres: Macmillan Press, 1999.
SOJA, Edward W., Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory, Londres: Verso,
1998.
SOPPELSA, Jacques; BATTESTI, Michle; ROMER, Jean-Christophe, Lexique de gopolitique, Paris: Dalloz, 1988.
SOROS, George, A crise do capitalismo global, Lisboa: Crculo de Leitores, 1999.
SOULIER, Grard, A Europa. Histria, civilizao, instituies, Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
SOUSA, Fernando de, Portugal e a Unio Europeia, in Revista Brasileira de Poltica Internacional, ano
43., n. 2, Braslia: 2000.
__________, Portugal e o mundo contemporneo. Desafios e oportunidades na Nova Ordem Internacional,
in Boletim da Academia Internacional de Cultura Portuguesa, n. 28, Lisboa: Academia Internacional
de Cultura Portuguesa, 2001.
__________, Portugal, Brasil e a Unio Europeia, in Estudos Estratgicos, n. 2, Rio de Janeiro: Centro
de Estudos Estratgicos da Escola Superior de Guerra, 2002.
SOUSA, Marcelo Rebelo de, Cincia poltica: contedos e mtodos, Coimbra: Coimbra Editora, 1989.
SPECTOR, Cline, Le pouvoir, Paris: Flammarion, 1997.
SPENCER, Herbert, First principles, Londres: Williams & Norgate, 1862.
__________, Principles of sociology, Londres: Macmillan, 1969.
SPILLMANN, Kurt R.; WENGER, Andreas (ed.), Towards the 21st century: trends in post-cold war: inter-
national security policy, Bern: Peter Lang, 1999.
STIGLITZ, Joseph E., Globalizao: a grande desiluso, Lisboa: Terramar, 2002.
SUR, Serge, Relations internationales, Paris: Montchrestien, 1995.
TAMAMES, Ramn, Un nuevo order mundial: la senda crtica de la razn y el gobierno de la humanidad,
Madrid: Espasa-Calpe, 1991.
TASSIN, tienne, Espace commun ou espace public? L'antagonisme de la communaut et de la publi-
cit, in Herms n. 10, CNRS, 1992.
TAYLOR, Charles, Multiculturalisme. Diffrence et dmocratie, Paris: Aubier, 1994.
TEIXEIRA, Nuno Severiano; RODRIGUES, Jos Cervantes; NUNES, Isabel Ferreira (coord.), O interesse nacio-
nal e a globalizao, Lisboa: Cosmos; Instituto da Defesa Nacional, 2000.
THUAL, Franois, Mmento de geopolitique, Paris: Dunod, 1993.
TOCQUEVILLE, Alexis de, Da democracia na Amrica, Cascais: Principia, 2001.
TOFFLER, Alvin, Choque do futuro, Lisboa: Livros do Brasil, 1970.
__________, Os novos poderes = powershift.Lisboa: Livros do Brasil, 1991.
TOUCHARD, Jean (dir.), Histria das ideias polticas, Mem Martins: Europa-Amrica, 1991.
TOURAINE, Alain, Production de la socit, Paris: Seuil, 1973.
FONTES E BIBLIOGRAFIA 227
__________, Le retour de lacteur: essai de sociologie, Paris: Fayard, 1984.
__________, O que a democracia, Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
TUCHMANN, Making News. A study in the construction of reality, Nova Iorque: The Free Press, 1978.
TZU, Sun, A arte da guerra, 2. ed., Mem Martins: Europa-Amrica, 1993.
URWIN, Dereck W., Western Europe since 1945: a political history, 4. ed., Londres: Longman, 1993.
VASSE, Maurice, As relaes internacionais desde 1945, Lisboa: Lisboa edies 70, 1997.
VALLADO, Alfredo G. A., O sculo XXI ser americano, Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
VALLAUD, Pierre, Le XXe sicle. Dictionnaire dhistoire culturelle, Paris: Bordas, 1995.
VASCONCELOS-SOUSA, Jos, Negociao, Lisboa: Difuso Cultural, 1996.
VRON, Eliseo, Construire l'evnement, Paris: Minuit, 1981.
__________, Jacques, Population et dveloppement, 2. ed., Paris: P.U.F, 1996.
VICENS VIVES, J., Tratado general de geopoltica: el factor geografico y el proceso historico, 5. ed.,
Barcelona: Vicens-Vives, 1981.
VIOTTI, Paul; KAUPPI, Mark, International relations theory: realism, pluralism, globalism, 2.
nd
ed., Nova
Iorque: MacMillan Publisshing Company, 1993.
WALLERSTEIN, Immanuel, Geopolitics and geoculture: essays on the changing world-system, Cambridge:
Cambridge University, 1994.
__________, O capitalismo histrico: seguido de a civilizao capitalista, Vila Nova de Gaia: Estratgias
Criativas, 1998.
__________, Lutopistique ou les choix politiques du XXIe sicle, La Tour dAigues: LAube, 2000.
__________, Aps o liberalismo. Em busca da reconstruo do mundo, Lisboa: editora Vozes, 2002.
WALTZ, Kenneth N., Teoria das relaes internacionais, Lisboa: Gradiva, 2002.
WALZER, Michael, Sphres de justice: une defense du pluralisme et de lgalit, Paris: Seuil, 1997.
WAPNER, Paul; RUIZ, Edwin J. (ed.), Principled world politics: the challenge of normative international
relations, Lanham: Rowman and Littlefield, 2000.
WATERS, Malcolm, Globalizao, Oeiras: Celta editora, 1999.
WATZLAWICK, Paul (d.), Linvention de la ralit. Contribution au constructivisme, Paris: Seuil, 1988.
WEBER, Max, A tica protestante e o esprito do capitalismo, Lisboa: Presena, 1920.
__________, Essais sur la thorie de la science, Paris: Plon, 1965.
__________, Fundamentos da sociologia, Porto: Rs, 1983.
__________, conomie et socit, Paris: Pocket, 1995.
WIEVIORKA, Michel, A democracia prova. Nacionalismo, populismo e etnicidade, Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
__________ (dir.), Une socit fragmente? Le multiculturalisme en dbat, Paris: La Dcouverte, 1997.
WIGHT, Martin; (ed.) WIGHT, Gabriele; PORTER, Bryan, International theory: the three traditions, Leicester:
Leicester University, 1991.
WOLFE, H. James; COULOUMBIS, A. Theodore, Introduction to international relations, 4
th
ed., Nova Jersey:
1990.
ZORGBIBE, Charles, Gopolitique contemporaine: les zones daffrontement, Paris: P. U. F., 1986.
__________, Les relations internationales, Paris: P. U. F., 1989.
__________, Laprs-guerre froide dans le monde, Paris: P. U. F., 1993.
__________, Les organisations internationales, 4. ed., Paris: P. U. F., 1997.
ABM Tratado sobre Msseis Anti-Balsticos
ACNUR Alto Comissariado das Naes Unidas para os Refugiados
ACP Pases da frica, Carabas e Pacfico
AEA Agncia Europeia do Ambiente
AEC Associao de Estados das Carabas
AESA Agncia Europeia para a Segurana da Aviao
AESM Agncia Europeia de Segurana Martima
AFTA Zona de Comrcio Livre da ASEAN
AID Associao Internacional para o Desenvolvimento
AIEA Agncia Internacional da Energia Atmica
ALADI Associao Latino-Americana de Integrao
ALCA rea de Livre Comrcio das Amricas
AMF Acordo Multifibras
AMGI Agncia Multilateral de Garantia dos Investimentos
ANZCERTA Acordo Comercial de Aproximao Econmica Austrlia-Nova Zelndia
APEC Cooperao Econmica sia-Pacfico
ASEAN Associao das Naes do Sudeste Asitico
AUE Acto nico Europeu
BAD Banco Asitico de Desenvolvimento
BAfD Banco Africano de Desenvolvimento
BCE Banco Central Europeu
BCEAO Banco Central dos Estados da frica Ocidental
BEAC Banco de Desenvolvimento dos Estados da frica Central
BEI Banco Europeu de Investimentos
BENELUX Blgica, Luxemburgo e Pases Baixos
BERD Banco Europeu de Reconstruo e Desenvolvimento
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
BID Banco Islmico de Desenvolvimento
BIRD Banco Internacional para a Reconstruo e Desenvolvimento
BIS Banco de Pagamentos Internacionais
BM Banco Mundial
CARICOM Mercado Comum das Carabas
CAO Comunidade de frica Oriental
CCAN Conselho de Cooperao do Atlntico Norte
CDI Comisso de Direito Internacional
CEAO Comunidade Econmica da frica Ocidental
CECA Comunidade Econmica do Carvo e do Ao
CE Comunidade Europeia
CEEA Comunidade Europeia de Energia Atmica
SIGLAS E ACRNIMOS EM LNGUA PORTUGUESA
SIGLAS E ACRNIMOS EM LNGUA PORTUGUESA 230
CED Comunidade Europeia de Defesa
CEDEAO Comunidade Econmica das Estados de frica Ocidental
CEDEFOP Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formao Profissional
CEE Comunidade Econmica Europeia
CEEAC Comunidade Econmica dos Estados de frica Central
CED Comunidade Europeia de Defesa
CEDH Conveno Europeia de Proteco dos Direitos do Homem
CEFTA Acordo de Comrcio Livre da Europa Central
CEI Comunidade de Estados Independentes
CEMAC Comunidade Econmica e Monetria da frica Central
CEMB Conselho dos Estados do Mar Bltico
CEMN Organizao de Cooperao Econmica do Mar Negro
CEPGL Comunidade Econmica dos Pases dos Grandes Lagos
CFE Tratado sobre Foras Convencionais na Europa
CIA Central Intelligence Agency
CICV Comit Internacional da Cruz Vermelha
CIG Conferncia Intergovernamental
CIRDI Centro Internacional para a Resoluo de Diferendos Relativos a Investimentos
CMI Confederao Mundial do Trabalho
CNUCED Conferncia das Naes Unidas para o Comrcio e Desenvolvimento
CPE Cooperao Poltica Europeia
CPLP Comunidade de Pases de Lngua Portuguesa
COI Comisso do Oceano ndico
COMESA Mercado Comum da frica Oriental e Austral
CSCE Conferncia sobre Segurana e Cooperao na Europa
CSUE Centro de Satlites da Unio Europeia
DIT Diviso Internacional do Trabalho
EAR Agncia Europeia de Reconstruo
ECO Organizao de Cooperao Econmica
EEE Espao Econmico Europeu
EFTA Associao Europeia de Comrcio Livre
EFSA Autoridade Europeia para a Segurana dos Alimentos
ETA Euskadi Ta Askatasuna (Ptria Basca e Liberdade)
EUA Estados Unidos da Amrica
EUROFOUND Fundao Europeia para a Melhoria das Condies de Vida e de Trabalho
Eurojust Organismo Europeu para o Reforo da Cooperao Judiciria
Europol Servio Europeu de Polcia
FAO Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e a Agricultura
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
FEF Fundao Europeia para a Formao
FEOGA Fundo Europeu de Orientao e Garantia Agrcola
FIDA Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrcola
FIS Frente Islmica de Salvao
FLN Frente de Libertao Nacional (Arglia)
FMI Fundo Monetrio Internacional
FNUAP Fundo das Naes Unidas para a Populao
FSE Fundo Social Europeu
GATT Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comrcio
GCC Conselho de Cooperao do Golfo
GIA Grupo Islmico Armado
G7 Grupo dos Sete Pases Mais Industrializados
G8 Grupo dos Oito Pases Mais Industrializados
SIGLAS E ACRNIMOS EM LNGUA PORTUGUESA 231
G10 Grupo dos Dez
G24 Grupo dos Vinte e Quatro
G77 Grupo dos Setenta e Sete
GUUAM Gergia, Ucrnia, Usbequisto, Azerbaijo e Moldvia
IDB Banco Islmico de Desenvolvimento
IESD Identidade Europeia de Segurana e Defesa
I&D Investigao e Desenvolvimento
IDE Iniciativa de Defesa Estratgica
IDE Investimento Directo Estrangeiro
IES Instituto de Estudos de Segurana da Unio Europeia
IME Instituto Monetrio Europeu
IHMI Instituto de Harmonizao no Mercado Interno
INF Tratado sobre Foras Nucleares Intermdias
IOR-ARC Associao para a Cooperao Regional dos Pases Ribeirinhos do Oceano ndico
IRA Exrcito Republicano Irlands
LEA Liga dos Estados rabes
MCCA Mercado Comum do Centro Americano
MERCOSUL Mercado Comum do Sul
NAFTA Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte
NBQ Nuclear, Biolgico e Qumico (Armamento)
NEPAD Nova Parceria para o Desenvolvimento de frica
NPI Novos Pases Industrializados
NOEI Nova Ordem Econmica Internacional
OCDE Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmico
OCE Organizao de Cooperao Econmica
OCI Organizao da Conferncia Islmica
OCX Organizao de Cooperao de Xangai
ODECA Organizao de Estados Centro-Americanos
OEA Organizao dos Estados Americanos
OEDT Observatrio Europeu da Droga e da Toxicodependncia
OERX Observatrio Europeu do Racismo e da Xenofobia
OIG Organizao Intergovernamental
OIT Organizao Internacional do Trabalho
OLP Organizao de Libertao da Palestina
OMC Organizao Mundial de Comrcio
OMS Organizao Mundial de Sade
ONG Organizao No Governamental
ONU Organizao das Naes Unidas
ONUDI Organizao das Naes Unidas para o Desenvolvimento Industrial
OPEP Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo
OSCE Organizao para a Segurana e Cooperao na Europa
OTAN Organizao do Tratado do Atlntico Norte
OUA Organizao de Unidade Africana
PAC Poltica Agrcola Comum
PALOP Pases Africanos de Lngua Oficial Portuguesa
PAM Programa Alimentar Mundial
PE Parlamento Europeu
PEC Pacto de Estabilidade e Crescimento
PECO Pases da Europa Central e Oriental
PED Pases Em Desenvolvimento
PEDIP Programa Especfico de Desenvolvimento da Indstria Portuguesa
PESC Poltica Externa e de Segurana Comum
SIGLAS E ACRNIMOS EM LNGUA PORTUGUESA 232
PESD Poltica Europeia de Segurana e Defesa
PIB Produto Interno Bruto
PMA Pas Menos Avanado
PME Pequena e Mdia Empresa
PNB Produto Nacional Bruto
PNUD Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento
PpP Parceria para a Paz
PVD Pases em Vias de Desenvolvimento
SAARC Associao de Cooperao Regional da sia do Sul
SADC Comunidade para o Desenvolvimento da frica Austral
SAI Sistema Andino de Integrao
SALT Acordos de Limitao de Armas Estratgicas
SDN Sociedade das Naes
SFI Sociedade Financeira Internacional
SICA Sistema de Integrao Centro-Americano
SME Sistema Monetrio Europeu
SMI Sistema Monetrio Internacional
SO Sistema Operativo
SPG Sistema de Preferncias Generalizadas
START Tratado sobre a Reduo dos Arsenais Estratgicos Nucleares
TICP Tribunal Internacional Criminal Permanente
TIJ Tribunal Internacional de Justia
TNP Tratado de No Proliferao Nuclear
TPI Tribunal Penal Internacional
UA Unio Africana
UE Unio Europeia
UEM Unio Econmica e Monetria
UEMOA Unio Econmica e Monetria da frica Ocidental
UEO Unio da Europa Ocidental
UMA Unio rabe do Magrebe
UNESCO Organizao das Naes Unidas para a Educao, Cincia e Cultura
UNICEF Fundo das Naes Unidas para a Infncia
UO Unio Ocidental
URSS Unio das Repblicas Socialistas Soviticas
ZEE Zona Econmica Exclusiva
ABM Anti-Ballistic Missile Treaty
ACE Allied Command Europe
ACLANT Allied Command Atlantic
AIA ASEAN Investment Area
AFTA ASEAN Free Trade Area
AIC Advanced Industrialized Country
AICO ASEAN Cooperation
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
AMRAAM Advanced Medium-Range Anti-Aircraft Missile
ANC African National Congress
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
APT Asia-Pacific Telecommunity
ARF ASEAN Regional Forum
ASEAN Association of South East Asian Nations
BIS Bank for International Settlements
BSE Bovine Spongiform Encephalopathy
BWC Biological Weapons Convention
BWS Bretton Woods System
CAFOD Catholic Fund for Overseas Development
CARICOM Caribean Common Market
CEMN Black Sea Economic Cooperation
CENTO Central Treaty Organization
CEPT Conference of European Postal and Telecommunications Administrations
CFCs Chlorofluorocarbons
CFE Conventional Forces in Europe Treaty
CITEL The Inter-American Telecommunications Commission
CITES Convention on International Trade in Endangered
CGG Commission on Global Government
CJTF's Combined Joint Task Forces
CSBM's Confidence and Security Building Measures
CUSRPG Canada-US Regional Planning Group
COMECON Council for Mutual Economic Assistance
COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa
CTBT Comprehensive Test Ban Treaty
DIB Defence Industrial Base
DOD Department of Defense (US)
ECOWAS Economic Community of West African States
ECHR European Commission on Human Rights
EEC European Economic Community
SIGLAS E ACRNIMOS EM LNGUA INGLESA
SIGLAS E ACRNIMOS EM LNGUA INGLESA 234
EFTA European Free Trade Association
EMS European Monetary System
ERM European Exchange Rate Mechanism
EU European Union
EUROCORPS European Multilateral Force
EUROFOR European Operational Rapid Force
EUROMARFOR European Maritime Force
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations
FAWEU Forces Answerable to the Western European Union
FBI Federal Bureau of Investigation
FDI Foreign Direct Investment
FIDA International Fund for Agricultural Development
FNUAP United Nations Population Fund
FRG Federal Republic of Germany
FSX US-Japanese Advanced Fighter
GATS General Agreement on Trade and Services
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GCC Gulf Cooperation Council
GCD General and Complete Disarmament
GDP Gross Domestic Product
GDR German Democratic Republic
GNP Gross National Product
GPS Global Positioning Satellite (Systems)
G5 Group of Five
G7/G8 Group of Seven/Eight (Leading Industrial Nations)
G10 Group of Ten
HTML Hyper Text Markup Language
HTTP Hyper Text Transfer Protocol
IAEA International Atomic Energy Agency
IBM International Business Machines
IBRD International Bank for Reconstruction and Development
ICAO International Civil Aviation Organization
IBERLANT Iberian Atlantic Area
ICC International Criminal Court
ICJ International Court of Justice
ICTU International Confederation of Trade Unions
IDA International Development Agency
IFC International Finance Corporation
IFPI International Federation of Phonographic Industries
IGO Intergovernmental organization
ILO International Labour Organization
IMCO International Maritime Consultancy Organization
IMF International Monetary Fund
INF (Treaty) Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
INGO International Non-Governmental Organization
INTELSAT International Telecommunications Satellite Organisation
IPCC International Panel on Climate Change
IRA Irish Republican Army
IRBM Intermediate Range Ballistic Missile
ISDN International Services Digital Network
ISP Internet Service Provider
ITU International Telecommunication Union
SIGLAS E ACRNIMOS EM LNGUA INGLESA 235
JOPP Joint-Venture PHARE Programme
LAIA Latin America Integration Association
LAN Local Area Network
LIFFE London International Financial Futures Exchange
M&A Mergers and Acquisitions
MCCA Central American Common Market
MERCOSUL Southern Common Market (Latin America)
MFN Most Favoured Nation
MIRV Multiple independently targeted re-entry vehicles
MNC Multinational Corporation
MNE Multinational Enterprise
MTCR Missile Technology Control Regime
MTR Military-technological revolution
NACC North Atlantic Council for Cooperation
NAFTA North American Free Trade Agreement
NATO North Atlantic Treaty Organization
NEPAD New Partnership for Africas Development
NIE Newly Industrializing Economy(ies)
NICs New Industrializated Countries
NGO Non-governmental organization
NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
NSG Nuclear Suppliers Group
NWFZ Nuclear weapon-free zone
OAS Organization of American States
OAU Organization of African Unity
OCE Economic Cooperation Organisation
OCI Organization of the Islamic Conference
OCX Shangai Cooperation Organization
ODA Official Development Assistance
ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
ONUSAL United Nations Observer Mission in El Salvador
OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries
OS Operating System
OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe
OTA US Congress Office of Technology Assessment
OTC Over the Counter
PATU Pan African Telecommunications Union
PFP Partnership for Peace
PHARE Poland and Hungary Assistance to the Restructuring of the Economy
PNUD United Nations Development Programme
PTT Post, Telegraph and Telephone Administrations
R&D Research and Development
RCC Regional Commonwealth for Communications
REACT Rapid Expert Assistance and Co-operation Teams
SACEUR Supreme Allied Commander Europe
SACLANT Supreme Allied Commander Atlantic
SALT Strategic Arms Limitation Talks
SAM Surface-to-Air Missile
SEATO South East Asia Treaty Organization
SDI Strategic Defence Initiative
SIGLAS E ACRNIMOS EM LNGUA INGLESA 236
SEA Single European Act
SIACS States in Advanced Capitalist Societies
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
SMEs Small and Medium-Sized Enterprises
SOPEMI Systme d'Observation Permanente des Migrations (Continuous Reporting System on Migration)
SOS Save our Soul
START Strategic Arms Reduction Talks
SU Soviet Union
SWAT Special Weapon Armed Team
SWIFT Standardized World Interbank and Financial Transactions
TACIS Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States Programme
TRIMS Trade Related Investment Measures
TRIPS Trade in Intellectual Property Rights
UAE United Arab Emirates
UK United Kingdom
UN United Nations
UNAMIC United Nations Advance Mission in Cambodia
UNCD United Nations Conference on Disarmament
UNCHR United Nations Commission on Human Rights
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNCTC United Nations Center for the Study of Transnational Corporations
UNDP United Nations Development Programme
UNEP United Nations Environment Programme
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
UNFPA United Nations Fund for Population Activities
UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission
UNHCR United Nations High Commission for Refugees
UNICEF United Nations Children's Fund
UNIDO United Nations Industrial Development
UNOG United Nations Office at Geneva
UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone
UNOSOM United Nations Operation in Somalia
UNPROFOR United Nations Protection Force (former Yugoslavia)
UNTAG United Nations Transition Assistance Group (Namibia and Angola)
UPU Universal Postal Union
US United States
WCED World Commission on Environment
WCF World Citizen Foundation
WEAG Western European Armaments Group
WEU Western European Union
WFP World Food Programme
WHO World Health Organization
WMO World Meteorological Organization
WRI World Resources Institute
WTO World Trade Organisation
WWW World Wide Web
Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Absteno construtiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ABM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Aco comum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Aceitao das convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Acervo comunitrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Acesso s convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Acontecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Acrdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Acordo Comercial de Aproximao Econmica Austrlia Nova Zelndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Acordo de Comrcio Livre da Europa Central (Acordo de Visegrado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Acordo de Comrcio Livre Norte Americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Acordo em forma simplificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comrcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Acordos de Helsnquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Acordo internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Acordos de Limitao de Armas Estratgicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Acto/Acta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Acto formal de confirmao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Actores das Relaes Internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Actos concertados no convencionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Actos jurdicos unilaterais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Adeso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Adido diplomtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Adopo dos textos convencionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Agncia Internacional da Energia Atmica (AIEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Agncia Multilateral para a Garantia dos Investimentos (AMGI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Agenda 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Agente diplomtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Agrment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Agresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
gua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ajuda ao desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ajuda humanitria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Aliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Alterao fundamental das circunstncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alto Comissariado das Naes Unidas para os Direitos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Alto Comissariado das Naes Unidas para os Refugiados (ACNUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Amnistia Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NDICE
NDICE 238
Anlise sistmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anarquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anexao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Anomia internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Anticolonialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Antropologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aparelho poltico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Apartheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aplicabilidade directa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aplicabilidade imediata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aplicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Arbitragem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
rea de Livre Comrcio das Amricas (ALCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Armas convencionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Armas de destruio macia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Armistcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Arquitectura europeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Asilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Assinatura de convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Assinatura ad referendum de convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Assinatura definitiva de convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Assinatura diferida de convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Assinatura sob reserva de ratificao, aceitao ou aprovao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Assistncia humanitria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Associao de Cooperao Regional da sia do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Associao para a Cooperao Regional dos Pases Ribeirinhos do Oceano ndico . . . . . . . . . . . . . . . 20
Associao de Estados das Carabas (AEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Associao Europeia de Comrcio Livre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Associao Latino-Americana de Integrao (ALADI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Associao Internacional para o Desenvolvimento (AID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Associao das Naes do Sudeste Asitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Autenticao de convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Autocracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Autodeterminao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Autoridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Autoritarismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Balana de poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Balcanizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Banco Africano de Desenvolvimento (BAfO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Banco Asitico de Desenvolvimento (BAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Banco Central Europeu (BCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Banco Europeu de Investimentos (BEI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Banco Europeu de Reconstruo e Desenvolvimento (BERD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Banco Islmico de Desenvolvimento (BID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Banco Mundial (Grupo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Banco Mundial para a Reconstruo e Desenvolvimento (BIRD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Behaviorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Beligerante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bem comum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
NDICE 239
Benelux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bilateralismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Binrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bipolaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bits per second (BPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Blitzkrieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bloco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bloqueio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Boa-f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Boicote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bons ofcios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bretton Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Browser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Burocracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Capitalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Carcter nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Carisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Carta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Carta dos Direitos Fundamentais da Unio Europeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Central processing unit (CPU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Centro Internacional para a Resoluo de Diferendos Relativos a Investimentos (CIRDI) . . . . . . . . . 32
Cessao da vigncia das convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Chat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Chefe de misso ad interim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Chefe de misso diplomtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Chefe de posto consular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Choque das civilizaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Choques petrolferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ciberespao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Cidadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cidadania da Unio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cidade global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cincia Poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cincias Sociais e Humanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Cincias Sociais e Humanas e Cincias da Natureza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Civilizao (princpios de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Civilizao (zonas de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Classe poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clusula colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clusula federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clusula da nao mais favorecida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Clusula de recepo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Clusula de sujeio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Clusula de transformao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Clusula rebus sic stantibus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Clusulas finais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Clube de Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Coaco econmica e poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Coaco do Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Coaco do representante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
NDICE 240
Codificao do Direito Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Coeficiente de correlao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Coeso econmica e social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Colonialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Colonialismo interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Comrcio electrnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Comrcio internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Comisso do Oceano ndico (COI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Commonwealth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Compromisso arbitral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Comunicao poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Comunidade de frica Oriental (CAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Comunidade Andina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Comunidade para o Desenvolvimento da frica Austral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Comunidade Econmica da frica Ocidental (CEAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Comunidade Econmica dos Estados de frica Ocidental (CEDEAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Comunidade Econmica dos Estados de frica Central (CEEAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Comunidade Econmica Europeia (CEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Comunidade Econmica e Monetria da frica Central (CEMAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Comunidade Econmica dos Pases dos Grandes Lagos (CEPGL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Comunidade de Estados Independentes (CEI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Comunidade Europeia do Carvo e do Ao (CECA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Comunidade Europeia de Energia Atmica (CEEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Comunidade do Pacfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Comunidade dos Pases de Lngua Portuguesa (CPLP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Comunidade de segurana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Comunismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Comunitarizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Concerto europeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Conciliao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Confederao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conferncia das Naes Unidas para o Comrcio e Desenvolvimento (CNUCED) . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conferncia sobre a Segurana e Cooperao na Europa (CSCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conflito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Conflitos entre normas internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Conflitos entre normas nacionais e internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Congresso de Viena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Conhecimento comum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Conjuntura econmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Conjuntura poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Conselho de Cooperao do Golfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Conselho dos Estados do Mar Bltico (CEMB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Conselho da Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Conselho Europeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Conselho de Ministros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Conselho Nrdico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Conservadorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Constituio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Contramedidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Controlo de armamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Conveno Europeia de Proteco dos Direitos do Homem (CEDH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Conveno internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
NDICE 241
Convenes abertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Convenes fechadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Convenes semi-abertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Convenes sucessivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Cooperao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Cooperao Econmica sia-Pacfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Cooperao Poltica Europeia (CPE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Correio electrnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Correio diplomtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Correlao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Corrida ao armamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Corrupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Cortina de ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Costume internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Costume internacional geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Costume internacional sbio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Costume internacional selvagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Crescimento econmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Crise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Crise econmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Critrios de convergncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Darwinismo social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Deciso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Declarao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Declarao de compatibilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Declarao interpretativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Declarao de poltica geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Declarao Universal dos Direitos do Homem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Defesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Democracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Democracia liberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Democracia participativa ou directa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Democracia popular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Democracia representativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Democracia semidirecta ou semi-representativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Democracia totalitria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Demografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Denncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Depositrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Desanuviamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Desarmamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Descolagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Descolonizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Desenvolvimento do Direito Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Desmilitarizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Destruio Mtua Assegurada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Dtente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Digitalizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Dilema de segurana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Diplomacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Diplomacia do dlar ou Imperialismo do dlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Diplomacia preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
NDICE 242
Direita/Esquerda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Direito comunitrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Direito Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Direito Internacional Privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Direito Internacional Pblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Direitos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Direitos polticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Direitos sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Dissuaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ditadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Diviso do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Divisibilidade das convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Dolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Doutrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Doutrina Brejnev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Doutrina Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Doutrina domin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Doutrina Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Doutrina Nixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Doutrina Truman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Dualismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Dupla ou mltipla acreditao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ecopoltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Efeito directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Elite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Elitismo democrtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Embaixada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Embargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Emenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Emoticon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Enclave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Entrada em vigor das convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Epirocracias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Equidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Erro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Escola Inglesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Escola Tradicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Espao Econmico Europeu (EEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Espao pblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Estado (soberano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Estado acreditador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Estado acreditante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Estado antecessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Estado confederado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Estado confederal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Estado exguo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Estado federado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Estado federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Estado limtrofe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Estado-nao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Estado neutral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
NDICE 243
Estado neutralizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Estado protector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Estado protegido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estado providncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estado receptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estado sem nao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estado semi-soberano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estado sucessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estado suserano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estado tampo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estado vassalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estagflao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Estratgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Estrutura econmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Estruturalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Eurocorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Exequatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Exrcito permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Expanso econmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Factores das Relaes Internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Federao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Feminismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Fluidez dos fenmenos geogrficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Fontes de Direito Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Foras produtivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Fordismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Frum do Pacfico Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Francofonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Fronteira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Funcionrio consular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Fundamentalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Fundamentalismo islmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrcola (FIDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Fundo Monetrio Internacional (FMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Fundo das Naes Unidas para a Infncia (UNICEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Fundo das Naes Unidas para a Populao (FNUAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Gaullismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Geoestratgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Geografia poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Geopoltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Geopoltica (mtodos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Gergia, Ucrnia, Usbequisto, Azerbaijo e Moldvia (GUUAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Gesto de conflito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Glasnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Global (empresa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Globalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Globalizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Golpe de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Governao mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Governo militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Governo mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Greenpeace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Grupo dos Dez (G-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
NDICE 244
Grupo minoritrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Grupo dos Oito (G-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Grupo dos Quinze (G-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Grupo do Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Grupo dos 77 (G-77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Grupo dos 20 (G-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Grupo dos 24 (G-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Grupos de interesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Guarda-chuva nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Guerra fria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Guerrilha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Heartland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Hegemonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
High Politics/Low politics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Hiptese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ialta (Conferncia de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Idealismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ideologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Igreja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ilha mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Imagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Imperialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Imposio da paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Impossibilidade superveniente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Imunidade jurisdicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Independncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Inflao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Informtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Iniciativa para as Amricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Iniciativa de Defesa Estratgica (IDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Inqurito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Instalaes consulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Institucionalismo liberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Instituio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Insurrecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Integrao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Interdependncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Interesse nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
International Business Machines (IBM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Internet Service Provider (ISP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Interveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Interveno humanitria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Investigao em Cincias Sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Inviolabilidade diplomtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Islamismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Isolacionismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Ius belli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ius cogens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ius legationis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ius tractuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Jurisprudncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
NDICE 245
Jusnaturalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Legislatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Legtima defesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Lex Mercatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Libanizao dos conflitos contemporneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Liga dos Estados rabes (LEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Linkage theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Lbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Lucro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Mala consular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Mala diplomtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Malthusianismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Manuteno da paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Maquiavelismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Marxismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Materialismo histrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Mediao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Mediterrneo mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Megalpolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Meios de produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Melting Pot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Membros do pessoal diplomtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Memorando de entendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Mercado Comum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Mercado Comum da frica Oriental e Austral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mercado Comum das Carabas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mercado Comum do Centro Americano (MCCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mercado Comum do Sul (Mercosul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mtodos nas Cincias Sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Mtodo cientfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Mtodos das Relaes Internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Microcomputador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Micro-Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Migraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Misso diplomtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Modelo comunicacional (Karl Deutsh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Modelos de anlise da poltica externa dos Estados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Modernizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Modificao das convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Modus vivendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Monarquia constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Monismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Movimento de libertao nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Movimento dos no-alinhados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Multiculturalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Multilateralismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Multimdia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Multipolaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Multinacional (empresa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Mundializao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Nao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
NDICE 246
Nacional-socialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Nacionalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Nacionalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
NATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Negociao (princpios da) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Negociao das convenes internacionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Negociao diplomtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Negociao internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Negcio internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Neofuncionalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Neo-imperialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Neoliberalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Neo-realismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Neutralismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Normativismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Norte/sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Notificao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Nova Ordem Econmica Internacional (NOEI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Nova Parceria para o Desenvolvimento de frica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Nulidade das convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Objeco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Objectividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Objectivismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Oligarquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
On-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Ordem internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Ordem mundial de informao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Organizao da Conferncia Islmica (OCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Organizao de Cooperao Econmica (OCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Organizao da Cooperao Econmica do Mar Negro (OCEMN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Organizao de Cooperao de Xangai (OCX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Organizao dos Estados Americanos (OEA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Organizao internacional governamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Organizao Internacional do Trabalho (OIT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Organizao Mundial do Comrcio (OMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Organizao Mundial de Sade (OMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Organizao das Naes Unidas (ONU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e a Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura (UNESCO) . . . . . . . . . . . . . 133
Organizao no governamental (ONG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Organizao para a Segurana e Cooperao na Europa (OSCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Organizao do Tratado da sia do Sudoeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Organizao do Tratado do Atlntico Norte (OTAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Ostpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Pacifismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pacta sunt servanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pacto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pacto de Estabilidade para a Europa do Sudeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pacto de no-agresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Pacto de Varsvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
NDICE 247
Pases de frica, Carabas e Pacfico (ACP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Pases da periferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Pases da semiperiferia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Pases em vias de desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Palavra-senha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Paradigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Parecer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Parlamentarismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Partido poltico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Ptria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Patriotismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Perestroika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Persona non grata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Personal computer (PC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Personalidade internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Pilares da Unio Europeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Pivot geogrfico da histria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Plenipotencirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Plenos poderes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Pluralismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Pobreza absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Poder poltico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Polemologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Poltica externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Poltica internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Populao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Populao e Relaes Internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ps-modernismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Posto consular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Povo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Prembulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Presidencialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Primado do Direito Internacional sobre o Direito Interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Primeiro mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Princpio das competncias implcitas das organizaes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Princpio da especialidade das organizaes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Princpio da relatividade dos tratados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Princpios gerais de direito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Privilgios e imunidades diplomticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Problemtica do trabalho cientfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Produtividade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Produto interno bruto (PIB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Produto nacional bruto (PNB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Programa JOPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Programa MEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Programa PHARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Programa TACIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Progresso tcnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Proliferao (armamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
NDICE 248
Promessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Proteccionismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Protectorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Protesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Protocolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Protocolo de comunicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Quase-tratado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Racionalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Racionalizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Racismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Ratificao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Ratificao imperfeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Realismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Reciprocidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Recomendao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Reconhecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Referendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Refugiado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Regime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Regime poltico e sistema poltico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Regionalizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Registo e publicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Regulao pacfica de conflitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Relaes Internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Relaes Internacionais e Cincia Poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Relaes Internacionais e Direito Internacional Pblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Relaes Internacionais e Economia Poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Relaes Internacionais e Histria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Relaes Internacionais e Histria Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Relaes Internacionais e Poltica Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Religio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Renncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Represlias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Representao comum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Resoluo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Resoluo de conflitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Resoluo pacfica de conflitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Responsabilidade internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Resposta flexvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Retorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Reviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Revoluo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Rimland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Riqueza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rubrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
SALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Santa Aliana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Secesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Schengen (Acordo e Conveno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Secularizao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
NDICE 249
Segundo mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Segurana colectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Segurana internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Seminrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Semipresidencialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Sentena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Servios de informao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Sesso legislativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Shatterbelts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Sistema eleitoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Sistema financeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Sistema de governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Sistema de Integrao Centro-Americano (SICA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Sistema internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Sistema monetrio europeu (SME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Sistema monetrio internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Sistema operativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Sistema de partidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Stio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Soberania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Socialismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Sociedade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Sociedade Financeira Internacional (SFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Sociedade de informao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Sociedade mundial/Comunidade mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Sociedade das Naes (SDN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Sociedades plurais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Sociedade ps-industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Sociologia das Relaes Internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Sociologismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
START (Acordos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Subdesenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Subsidiariedade (Unio Europeia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Subveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Sucesso de Estados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Sujeito de Direito Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Supranacionalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Talassocracias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Taylorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Tcnicas de investigao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Tcnicas e instrumentos das Relaes Internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Tecnologias de informao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Teocracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Teoria constitutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Teoria crtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Teoria da dependncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Teoria emprica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Teoria da estabilidade hegemnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Teoria funcionalista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Teoria da interdependncia complexa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Teoria dos jogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
NDICE 250
Teoria da paz democrtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Teoria do perturbador continental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Teoria das Relaes Internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Teoria do Sistema-Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Teorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Teorias construtivistas (construtivismo social) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Teorias da integrao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Teorias normativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Teorias pluralistas de democracia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Terceiro mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Totalitarismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Transculturao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Transio demogrfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Tratado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Tratado sobre Foras Convencionais na Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Tratado sobre Foras Nucleares Intermdias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Tratado geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Tratado sobre Msseis Anti-Balsticos (ABM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Tratado multilateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Tratado restrito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Tratado solene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Tratado-constituio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Tratado-contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Tratado-lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Tringulos de crescimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Tribunal Penal Internacional (TPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Trilateralismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Tripolaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Troca de instrumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Troca de notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Ultimato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Unanimidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
UNESCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Unio aduaneira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Unio Africana (UA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Unio rabe do Magrebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Unio econmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Unio Econmica e Monetria da frica Ocidental (UEMOA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Unio Econmica e Monetria (UEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Unio da Europa Ocidental (UEO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Unio Europeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Unio monetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Unilateralismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Unipolaridade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Username . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Uti possidetis iuris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Validade dos actos jurdicos unilaterais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Validade das convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Varivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Vaticano (Estado da cidade do) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Vesteflia/Sistema Vestefaliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Veto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Videoconferncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
NDICE 251
Violao substancial das convenes internacionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Vrus Informtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Voluntarismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Wireless (LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
World Wide Web (WWW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Xenofobia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Zona de comrcio livre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Zona Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Curricula dos Colaboradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Fontes e Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Siglas e Acrnimos em Lngua Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Siglas e Acrnimos em Lngua Inglesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Você também pode gostar
- 4-As Razões Escrita de Defesa-ProntoDocumento1 página4-As Razões Escrita de Defesa-ProntoVídeo Aulas PmmgAinda não há avaliações
- O Futuro Do Poder - Ingles - En.ptDocumento151 páginasO Futuro Do Poder - Ingles - En.ptAnne Vicente Vicente67% (6)
- Azul da cor da paz?: Perspectivas e debates sobre as operações de paz da ONUNo EverandAzul da cor da paz?: Perspectivas e debates sobre as operações de paz da ONUAinda não há avaliações
- A Corrente ProgressistaDocumento9 páginasA Corrente ProgressistaCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- A Ética Da PsicanáliseDocumento208 páginasA Ética Da PsicanáliseAna Cristina VendraminAinda não há avaliações
- BENEVIDES - A Cidadania AtivaDocumento105 páginasBENEVIDES - A Cidadania AtivaYrallyps MotaAinda não há avaliações
- Metodologia Científica para Relações InternacionaisDocumento37 páginasMetodologia Científica para Relações InternacionaisLaerte Apolinário JúniorAinda não há avaliações
- Diplomacia Henry Kissinger PDFDocumento17 páginasDiplomacia Henry Kissinger PDFroalegianiAinda não há avaliações
- Fichamento - Diplomacia, Henry Kissinger (Cap 9)Documento2 páginasFichamento - Diplomacia, Henry Kissinger (Cap 9)Renata LannesAinda não há avaliações
- Migracoes Sul Sul PDFDocumento976 páginasMigracoes Sul Sul PDFjoaquinAinda não há avaliações
- Introducao As Relacoes Internacionais Temas Atores PDFDocumento4 páginasIntroducao As Relacoes Internacionais Temas Atores PDFViviane FerreiraAinda não há avaliações
- Teste Formativo Efolio GlobalDocumento3 páginasTeste Formativo Efolio GlobalAlex QuenderaAinda não há avaliações
- Operações de manutenção de paz das Nações Unidas: Reflexões e debatesNo EverandOperações de manutenção de paz das Nações Unidas: Reflexões e debatesAinda não há avaliações
- Exame de PsicologiaDocumento12 páginasExame de PsicologiaCastigo Chicava67% (3)
- A África e o Compromisso para o Desenvolvimento Com A Agenda 2063Documento16 páginasA África e o Compromisso para o Desenvolvimento Com A Agenda 2063Suzana ChenAinda não há avaliações
- Teoria Das Relações InternacionaisDocumento11 páginasTeoria Das Relações InternacionaisLAURA100% (1)
- Nye e As Teorias de Conflitos InternacionaisDocumento5 páginasNye e As Teorias de Conflitos InternacionaisRicardo Martins100% (1)
- Hedley Bull A Sociedade Anarquica PDFDocumento390 páginasHedley Bull A Sociedade Anarquica PDFdeizelopesmelo100% (1)
- GILPIN ResenhaDocumento4 páginasGILPIN Resenhavive_rio100% (2)
- WALTZ Mitos NuclearesDocumento2 páginasWALTZ Mitos Nuclearesvive_rioAinda não há avaliações
- Morgenthau ResenhaDocumento4 páginasMorgenthau Resenhavive_rioAinda não há avaliações
- Curso Relações Internacionais - Teoria e HistóriaDocumento5 páginasCurso Relações Internacionais - Teoria e HistóriaRui Pereira da SilvaAinda não há avaliações
- ARON, Raymond. Paz e Guerra Entre As NaçõesDocumento932 páginasARON, Raymond. Paz e Guerra Entre As NaçõesVictor Carneiro Corrêa VieiraAinda não há avaliações
- Resumo Teoria Das Relações InternacionaisDocumento6 páginasResumo Teoria Das Relações InternacionaisJulia RibeiroAinda não há avaliações
- Fichamento Teoria Das Ri KeohaneDocumento2 páginasFichamento Teoria Das Ri KeohaneGabriel Guimarães100% (1)
- Teoria Das Relacoes Internacionais de WaltzDocumento5 páginasTeoria Das Relacoes Internacionais de WaltzLaura AmaralAinda não há avaliações
- Resumos - A Democracia Na AméricaDocumento17 páginasResumos - A Democracia Na AméricaDaniel PiresAinda não há avaliações
- A Construção Europeia de 1945 Aos Nossos Dias - Pascal FontaineDocumento45 páginasA Construção Europeia de 1945 Aos Nossos Dias - Pascal FontaineAndreia Byda100% (1)
- TRI - Kenneth WaltzDocumento26 páginasTRI - Kenneth WaltzJeovanaReisAinda não há avaliações
- Sistema Financeiro InternacionalDocumento28 páginasSistema Financeiro InternacionalYandra Rodrigues60% (5)
- Artigo Sobre A Primeira Guerra MundialDocumento22 páginasArtigo Sobre A Primeira Guerra Mundialasas326Ainda não há avaliações
- Resumo - WallersteinDocumento2 páginasResumo - WallersteinFelipeAinda não há avaliações
- CARVALHO, José Murilo De. Forças Armadas e Política No Brasil. ResenhaDocumento7 páginasCARVALHO, José Murilo De. Forças Armadas e Política No Brasil. ResenhaWagner Vinicius AmorimAinda não há avaliações
- Sistema Financeiro Internacional Bretton WoodsDocumento9 páginasSistema Financeiro Internacional Bretton WoodsLaila SantosAinda não há avaliações
- A Sociologia Economica by Philippe SteinerDocumento141 páginasA Sociologia Economica by Philippe SteinerSociedade Sem HinoAinda não há avaliações
- Anarquia Wendt PDFDocumento54 páginasAnarquia Wendt PDFVanessa BarretoAinda não há avaliações
- Surgimento Da China Como Potência MundialDocumento209 páginasSurgimento Da China Como Potência MundialPa Loma B. SantosAinda não há avaliações
- Pi - Resumos Grupo 2009-2010Documento165 páginasPi - Resumos Grupo 2009-2010paulakansasAinda não há avaliações
- Trabalho Final Realismo SegurancaDocumento10 páginasTrabalho Final Realismo SegurancaGiresse Lima PedroAinda não há avaliações
- Tese de Doutoramento Manuela TavaresVFDocumento636 páginasTese de Doutoramento Manuela TavaresVFIsabelleMarieAinda não há avaliações
- Matriz 1º Teste: Sociologia, Objecto e MetodologiasDocumento2 páginasMatriz 1º Teste: Sociologia, Objecto e MetodologiasCarlosLPires0% (1)
- Negócios Internacionais. Perspectivas Brasileiras by Ariane RoderDocumento302 páginasNegócios Internacionais. Perspectivas Brasileiras by Ariane RoderLaizaHofmannAinda não há avaliações
- Resenha de Teorias Realistas Das Relações InternacionaisDocumento3 páginasResenha de Teorias Realistas Das Relações InternacionaisFelipe EstreAinda não há avaliações
- Globalização e Segurança InternacionalDocumento33 páginasGlobalização e Segurança InternacionalRicardo Palma100% (1)
- Gulag Sovietico - Uma Analise Historica Fora Do Mito - J. Manoel - 19Documento19 páginasGulag Sovietico - Uma Analise Historica Fora Do Mito - J. Manoel - 19hello100% (1)
- O Fim Do Sistema Internacional Da GuerraDocumento14 páginasO Fim Do Sistema Internacional Da GuerradiogofcpAinda não há avaliações
- Maldita Guerra PDFDocumento5 páginasMaldita Guerra PDFrobles90Ainda não há avaliações
- Liberdade Negativa e Positiva PDFDocumento4 páginasLiberdade Negativa e Positiva PDFJeziel Mendes GreffAinda não há avaliações
- O Papel Das Organizações InternacionaisDocumento9 páginasO Papel Das Organizações Internacionaisfs96100% (1)
- A Teoria Da Dependência - Uma Contribuição Aos Estudos de Relações Internacionais PDFDocumento31 páginasA Teoria Da Dependência - Uma Contribuição Aos Estudos de Relações Internacionais PDFFernandoa AzevedoAinda não há avaliações
- Resenha Novas GeopoliticasDocumento3 páginasResenha Novas Geopoliticasvamello100% (1)
- O Abc Da Integração Europeia: Das Origens Aos Desafios ContemporâneosNo EverandO Abc Da Integração Europeia: Das Origens Aos Desafios ContemporâneosAinda não há avaliações
- Argentina e o Brasil Frente aos Estados Unidos (2003 – 2015) : Entre a Autonomia e a SubordinaçãoNo EverandArgentina e o Brasil Frente aos Estados Unidos (2003 – 2015) : Entre a Autonomia e a SubordinaçãoAinda não há avaliações
- Paradiplomacia Subnacional: Da Teoria À EmpiriaNo EverandParadiplomacia Subnacional: Da Teoria À EmpiriaAinda não há avaliações
- Institucionalismo, desenvolvimentismo e a economia brasileiraNo EverandInstitucionalismo, desenvolvimentismo e a economia brasileiraAinda não há avaliações
- CPT e MST: e a (in)justiça agrária? experiências de luta da CPT e do MSTNo EverandCPT e MST: e a (in)justiça agrária? experiências de luta da CPT e do MSTAinda não há avaliações
- A inserção das economias emergentes e a distribuição de poder no cenário político internacionalNo EverandA inserção das economias emergentes e a distribuição de poder no cenário político internacionalAinda não há avaliações
- Livros Brancos de Defesa: Realidade ou Ficção?No EverandLivros Brancos de Defesa: Realidade ou Ficção?Ainda não há avaliações
- Contracorrente: Ensaios de teoria, análise e crítica políticaNo EverandContracorrente: Ensaios de teoria, análise e crítica políticaAinda não há avaliações
- Impactos da Iniciativa Chinesa Cinturão e Rota no Brasil: estará o país preparado para as oportunidades e desafios da Nova Rota da Seda?No EverandImpactos da Iniciativa Chinesa Cinturão e Rota no Brasil: estará o país preparado para as oportunidades e desafios da Nova Rota da Seda?Ainda não há avaliações
- UrbanismoDocumento1 páginaUrbanismoCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- Programa de ActividadesDocumento1 páginaPrograma de ActividadesCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- A Gênese Do Urbanismo ModernoDocumento3 páginasA Gênese Do Urbanismo ModernoCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- Sistemas EleitoraisDocumento20 páginasSistemas EleitoraisCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Globalizacao PDFDocumento10 páginasTrabalho Sobre Globalizacao PDFCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- Manual AGE-2015-2018Documento225 páginasManual AGE-2015-2018Castigo Chicava100% (2)
- Power Point de Ciência Política - Prof AdrianaDocumento47 páginasPower Point de Ciência Política - Prof AdrianaCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- Calendario e Mapa de Controle de Exames Finais - 2019 PDFDocumento4 páginasCalendario e Mapa de Controle de Exames Finais - 2019 PDFCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- Etica ProfissionalDocumento35 páginasEtica ProfissionalCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- Etica ProfissionalDocumento35 páginasEtica ProfissionalCastigo ChicavaAinda não há avaliações
- Ajustes Valor Presente e Valor JustoDocumento15 páginasAjustes Valor Presente e Valor JustoJosé Rone Rocha oliveiraAinda não há avaliações
- Trabalho Leo CorrigidoDocumento6 páginasTrabalho Leo CorrigidoPedro LimaAinda não há avaliações
- Crase - ExerciciosDocumento4 páginasCrase - ExerciciosTatiana A. SeveroAinda não há avaliações
- De D. Afonso IV A D. FernandoDocumento55 páginasDe D. Afonso IV A D. FernandoEdgar Dias100% (1)
- Artigo Etica e Direitos Humanos AHLERT AlvoriDocumento9 páginasArtigo Etica e Direitos Humanos AHLERT AlvoriCamila GasparinAinda não há avaliações
- Atividade FinalDocumento3 páginasAtividade FinalGuilhermeAinda não há avaliações
- Biovida - SPABCDocumento2 páginasBiovida - SPABCKeilaAinda não há avaliações
- Código Alimentar ArgentinoDocumento6 páginasCódigo Alimentar Argentinovivian sousaAinda não há avaliações
- Modelo - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALDocumento2 páginasModelo - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIALRibeiroo RibeeirooAinda não há avaliações
- Atividade - 8º PeríodoDocumento4 páginasAtividade - 8º PeríodoBárbaraAndradeAinda não há avaliações
- Marcos Ferreira de Andrade - Elites Regionais e A Formação Do Estado Imperial Brasileiro PDFDocumento415 páginasMarcos Ferreira de Andrade - Elites Regionais e A Formação Do Estado Imperial Brasileiro PDFEder Jurandir CarneiroAinda não há avaliações
- Apostila Organizada (Slaides e Textos)Documento72 páginasApostila Organizada (Slaides e Textos)jobsaxAinda não há avaliações
- MIT 163101 - Procedimentos Execução Obras - Versão 15102019Documento60 páginasMIT 163101 - Procedimentos Execução Obras - Versão 15102019Nirlando OliveiraAinda não há avaliações
- Corpo Social em Qualquer Função Administrativa. para o Mesmo Autor, Estes PrincípiosDocumento5 páginasCorpo Social em Qualquer Função Administrativa. para o Mesmo Autor, Estes PrincípiosSamuel MatsinheAinda não há avaliações
- Ética CristãDocumento30 páginasÉtica CristãAlexandre Rocha PlacidoAinda não há avaliações
- 1.1. Conceito de Meio Ambiente.: I Unidade: 1. O Meio Ambiente Sob A Perspectiva JurídicaDocumento4 páginas1.1. Conceito de Meio Ambiente.: I Unidade: 1. O Meio Ambiente Sob A Perspectiva JurídicaLeticia HobiAinda não há avaliações
- Gabarito Prova MangaratibaDocumento17 páginasGabarito Prova MangaratibaPaulo FeitosaAinda não há avaliações
- As Ruas No Processo de Disputa Da Memória Coletiva A Nomeação eDocumento24 páginasAs Ruas No Processo de Disputa Da Memória Coletiva A Nomeação eJulia SchwendtnerAinda não há avaliações
- Lei Sobre O Trabalhador Avulso: Federações e SindicatosDocumento27 páginasLei Sobre O Trabalhador Avulso: Federações e SindicatosEmanuelly AlvesAinda não há avaliações
- 01 Cap I e II - Introdução Aos Mercados FinanceirosDocumento26 páginas01 Cap I e II - Introdução Aos Mercados Financeirosduarte_carreiraAinda não há avaliações
- Contrato Social - Tudo SobreDocumento3 páginasContrato Social - Tudo SobreErivaldo SantosAinda não há avaliações
- Cap.4 - A Filtragem Racial Na Seleção Polocial de SuspeitosDocumento250 páginasCap.4 - A Filtragem Racial Na Seleção Polocial de SuspeitosluticopeAinda não há avaliações
- Resumo Concurso Caixa 2024 3Documento1 páginaResumo Concurso Caixa 2024 3joycebernardes2010Ainda não há avaliações
- Relação de Servidores Com VantagensDocumento36 páginasRelação de Servidores Com VantagensIvo de CastroAinda não há avaliações
- Arbitragem No Brasil MonografiaDocumento38 páginasArbitragem No Brasil MonografiaRicardo Nielsen MondeloAinda não há avaliações
- Resumo de Direito de Ética e Deontologia ProfissionalDocumento6 páginasResumo de Direito de Ética e Deontologia ProfissionalCrisóstomo TchipaAinda não há avaliações