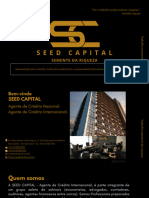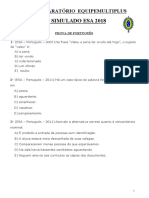Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pós-Fordismo Ou Neofordismo? Ensaio e Reflexões Sobre A Realidade No Mundo Do Trabalho.
Pós-Fordismo Ou Neofordismo? Ensaio e Reflexões Sobre A Realidade No Mundo Do Trabalho.
Enviado por
raphaelpjordaoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pós-Fordismo Ou Neofordismo? Ensaio e Reflexões Sobre A Realidade No Mundo Do Trabalho.
Pós-Fordismo Ou Neofordismo? Ensaio e Reflexões Sobre A Realidade No Mundo Do Trabalho.
Enviado por
raphaelpjordaoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
Ps-fordismo ou neofordismo? Ensaio e reflexes sobre a realidade
no mundo do trabalho.
Linderson Pedro da Silva Filho (Faculdade Maurcio de Nassau) Linderson pedro@uol.com.br
Resumo:No mundo em geral, e principalmente a partir da dcada de 1970, as pessoas
apregoam o declnio do modo fordista de produo e a sua substituio pelo chamado
ps-fordismo, que prega uma ruptura radical com aquele sistema atravs de novos
mtodos de produo e mudanas nas relaes entre os trabalhadores e patres. Outras
correntes defendem que no houve uma ruptura do modo fordista, mas uma adaptao
s novas demandas sociais, polticas e econmicas desta poca, que foi denominada de
neofordismo. Destacando-se trs argumentos para a existncia desta concepo: a
idealizao do fordismo no Japo, o forte controle existente at hoje nas organizaes e
a constatao da existncia do fordismo na nossa poca.
Conclui-se que o estudo sobre o fordismo, inclusive aquele que existe ainda
hoje, no findou ainda, quanto mais sobre o suposto paradigma do ps-fordismo. A
percepo que fordismo, neofordismo e ps-fordismo so modelos que andam juntos e
no se separaro por muito tempo.
Palavras-chave: Fordismo; Ps-fordismo; Neofordismo
1.Introduo
H uma discusso pulsante sobre o mercado de trabalho no mundo e suas
metamorfoses, principalmente as transformaes socorridas nos ltimos trinta anos.
Estas transformaes esto alterando as relaes entre trabalhadores e patres e o
mundo em geral, principalmente aps a assuno do suposto paradigma do psfordismo, que veio opor-se ao paradigma vigente do modo fordista de gesto e
produo. Sero discutidas algumas teorias muito importantes relacionadas ao mundo
do trabalho e se houve ou no o declnio do modo fordista de produo. A prxima
seo abordar a sistemtica do fordismo e suas implicaes; na subseqente, haver o
debate sobre o ps-fordismo e as suas inovaes no mundo do trabalho; posteriormente,
haver a discusso sobre o significado do termo neofordismo e por ltimo, ser proposta
a concluso do trabalho.
2.Fordismo
O fordismo, idealizado por Henry Ford, surgiu como uma reao
sistemtica de produo de veculos existentes no comeo do sculo XX. No modo de
produo antigo, o ritmo de trabalho e a qualidade deste dependiam muito da habilidade
dos arteses que eram verdadeiros artistas da arte mecnica.
A sistemtica do fordismo muito simples, mas extremamente inteligente,
utilizando fortemente na produo prticas tayloristas. Conforme Larangeira (1997),
constitui-se num modo de produo baseado em inovaes tcnicas e organizacionais
que se articulam, tendo em vista a produo em massa, no caso da Ford o modelo de
veculo chamado T, onde h a radical separao entre a concepo e a execuo do
trabalho fabril. Para colocar em prtica o seu modelo, Ford elaborou trs princpios
bsicos sobre a gesto da produo (TENRIO, 2000):
Princpio da intensificao: consiste em diminuir o tempo de
produo com o emprego imediato dos equipamentos e da matriaprima, visando a rpida colocao do produto no mercado;
Princpio da economicidade: consiste em reduzir ao mximo o
volume de estoque da matria-prima;
1
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
Princpio da produtividade: consiste em aumentar a capacidade de
produo do homem no mesmo perodo atravs da especializao e
da linha de montagem.
O processo de execuo deste modelo industrial fundamenta-se na linha de
montagem e esta acoplada a uma esteira rolante, que dita o ritmo da produo e permite
aos operrios realizarem as operaes, que so muito simplificadas, de modo veloz e
com a tcnica mais apropriada, segundo especialistas, para cada etapa da produo. Os
trabalhadores eram submetidos a um cumprimento rigoroso das normas fabris, a uma
rgida disciplina e punies exemplares. O objetivo era combater e minimizar o
desperdcio de tempo e dinheiro ao mximo atravs da padronizao de peas e
substituio dos artfices por operrios especializados, visando um menor custo e
reduo do tempo de montagem do produto, levando em conta o objetivo de Ford, que
era uma produo mais barata e acessvel s vrias classes sociais da poca. A idia era
acelerar o consumo em massa para obteno de ganhos em escala. Alm de promover
uma inverso no modo de produo de veculos, mudando a forma de produzir e o perfil
do operariado, Ford desenvolveu para estes uma nova forma de tratamento, instituindo o
horrio de oito horas dirias, o salrio de cinco dlares por dia e o chamado
compromisso fordista, que ofertava sociedade da poca uma grande massa de
benefcios sociais, entre outras inovaes. O objetivo era motivar os operrios,
desqualificados ou com qualificaes reduzidas, a realizarem da melhor forma o seu
trabalho, deixando de lado as insatisfaes vindas de um trabalho que foi descrito como
montono, insalubre e extremamente repetitivo, onde sua participao e sua capacidade
criativa eram tolhidas ao mximo. Diferentemente da execuo, a concepo tinha um
pessoal extremamente qualificado, isolado da montagem (LARANGEIRA, 1997), tendo
o objetivo de aumentar a produo, reduzir os custos e manter o maquinrio trabalhando
na sua capacidade mxima.
A influncia do sistema fordista no se deu apenas nos aspectos relacionados
produo e gesto, esta se deu em vrios aspectos da sociedade, no apenas a
americana, onde as necessidades do sistema fabril sobrepuseram-se s individuais, pois
o modelo abalou equilbrios j consolidados, modificou estruturas, instituies,
comportamentos e formas de mediao de conflitos (REVELLI, 2003).
3. Ps fordismo
H uma opinio diversa e significativa que prope que uma nova fase do
sistema capitalista comeou a emergir a partir dos anos de 1970, muitos rtulos foram
criados, mas o termo ps-fordismo parece ser o mais apropriado e aceito (FIEDMAN,
2002). Esta nova fase, o ps-fordismo, foi tambm conhecida por alguns autores como
Toyotismo ou modelo japons de gesto. Como expoentes do ps-fordismo, pode-se
citar: o modelo italiano,o volvosmo e o toyotismo ou modelo japons de gesto.
O modelo italiano foi desenvolvido a partir da dcada de 1970,
conferindo um grande dinamismo e desenvolvimento economia italiana,
principalmente na Regio centro-norte do pas. Neste modelo, a produo com
caractersticas fordistas foi relegada a um segundo plano, sendo adotado um novo
sistema de produo. Segundo So (1997), as caractersticas deste modelo so:
Estruturas de pequenas empresas industriais com no mais do que 15
trabalhadores;
Produtos sofisticados e diferenciados;
Processos de trabalho e relaes flexveis;
Alta capacidade de inovao;
Tecnologia microeletrnica;
Homogeneidade cultural;
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
Consenso poltico nas comunidades sedes.
Nesta regio italiana, a centro-norte, os complexos industriais cederam a vez
para os distritos industriais mais diversificados e flexveis, formados
preponderantemente por pequenas e mdias empresas. A fabricao dos produtos era
dividida por regies, favorecendo a cooperao entre as empresas e praticamente
eliminando a concorrncia, permitindo-lhes responder com rapidez as mudanas no
consumo (SENNETTO, 1999).
O Estado italiano, de acordo com (2001), auxiliou tanto as pequenas quanto
as grandes empresas, desempenhando um papel positivo, ajudando essas organizaes
italianas a inovarem juntas, em vez de se engalfinharem em batalhas de vida ou morte
(SENNETTO, 1999). As pequenas organizaes, todas aquelas com menos de 15
empregados, foram ajudadas atravs de subsdios financeiros, assistncia fiscal e
possibilidade de flexibilizar a legislao trabalhista. As grandes empresas, tendo a Fiat
como exemplo, tiveram proteo de mercado e subsdios.
Os trabalhadores passaram a ser mais qualificados e multifuncionais,
possibilitando a diminuio e mudana da superviso e do controle do trabalho, onde o
controle foi transferido para estes (BARROS, 2001). De acordo com So (1999), h uma
averso hierarquia e ao trabalho em equipe como caracterstica da cultura dos
italianos, isso refletiria tambm na efetiva quebra ou diminuio da autoridade e do
controle, que supera a diferenciao, presente no fordismo, entre concepo e execuo,
entretanto, importante salientar que uma das caractersticas bsicas do processo de
flexibilizao seria quebrada: o trabalho sistemtico em equipe.
O volvosmo ou modelo sueco inserido como uma experincia com
menores contornos, pois o modelo foi aplicado apenas numa empresa sueca. Larangeira
(1997, p.285) resume o modelo deste modo:
... constitui-se numa srie de inovaes quanto organizao do
trabalho, implementadas com o objetivo de desafiar os princpios
fordistas e tayloristas, bem como consistirem-se em alternativa ao
modelo japons.
O modelo no seu comeo foi bastante interessante para a massa dos
trabalhadores, sendo considerado revolucionrio, preocupando-se com a adequao das
tcnicas s necessidades dos trabalhadores e no o contrrio. Havia um constante
investimento nas melhorias das condies de trabalho, tornando-o o mais agradvel
possvel, existindo a crena que isto elevaria naturalmente a produtividade (BARROS,
2001). Estas inovaes no foram aplicadas apenas na produo, foram levadas a toda a
fbrica.
A sistemtica de produo da volvo consistia em abandonar a linha de
montagem e introduzir um esquema baseado em pequenas equipes de no mximo dez
trabalhadores, mulheres e homens, responsveis pela montagem total do produto, que
neste caso fica praticamente imvel na plataforma de montagem, plataforma esta que
substitui a esteira rolante da linha de produo fordista (LOJKINE, 1995). O objetivo
que o operrio use da melhor forma a sua experincia e os seus conhecimentos. Todas
as tarefas necessrias produo so de responsabilidade das equipes. Estas so
chamadas ilhas de trabalhadores, tendo os recursos eletrnicos e automatizados um
papel tambm de destaque. Aqui a idia aumentar tanto quanto possvel o ciclo de
trabalho, de forma que a atividade exija cada vez mais o uso de conhecimentos e
experincia do trabalhador. Gorz (1990, p.29) critica tenazmente o modelo da seguinte
forma:
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
Os operrios podem sentir-se responsveis pela qualidade da
montagem, mas nem a qualidade dos elementos e dos grupos, nem a
concepo dos veculos, nem a deciso de produzir automveis
dependem deles. Por conseguinte, o produto final de seu trabalho lhes
segue sendo em grande parte alheio, como tambm se apresenta
alheio aos trabalhadores que controlam a produo robotizada de
motores, caixas de cmbio, suportes etc... Ainda quando ascessam a
um alto grau de autonomia, de soberania sobre o trabalho,
permanecem alienados porque no possuem a possibilidade de
controlar, de estabelecer e de autodeterminar os objetivos de suas
atividades. Seguem a servio de objetivos que no puderam eleger e
dos quais, na maioria dos casos, nem sequer tm conhecimento.
Aps um perodo de baixa produtividade e diminuio dos lucros, houve
correes de rumo que aproximaram o modelo das tradicionais prticas fordistas,
podendo ser citadas as seguintes: eliminao de tempos ociosos, maior controle da
superviso e prticas convencionais de deciso.
O modelo Japons , dentre os modelos que caracterizam o suposto modelo
do ps-fordismo, aquele que teve a maior repercusso no mundo acadmico e de gesto,
inclusive muitos consideram esta expresso como sinnimo de ps-fordismo. Sua
gnese foi desenvolvida a partir das instalaes da fbrica da Toyota, vindo da a outra
denominao pelo qual o modelo conhecido: Toyotismo. Alves (2000, p.32) faz um
interessante e esclarecedor comentrio acerca deste:
Consideramos toyotismo o que pode ser tomado como a mais radical
e interessante experincia de organizao social da produo de
mercadorias, sob a era da mundializao do capital. Ela adequada,
por um lado, s necessidades da acumulao de capital na poca da
crise de superproduo, e, por outro, ajusta-se nova base tcnica da
produo capitalista, sendo capaz de desenvolver suas plenas
potencialidades de flexibilidade e de manipulao da subjetividade
operria.
O toyotismo, como novo modo de organizao do trabalho, foi desenvolvido
anos aps a derrota no Japo na segunda guerra, devido a dois motivos (GOUNET,
1999): o primeiro era relativo sobrevivncia da prpria indstria japonesa, que no
seria prea para a alta produtividade das indstrias americanas, sob pena de
desaparecerem. O segundo motivo a necessidade da aplicao da sistemtica fordista
no Japo, entretanto, com caractersticas prprias da sociedade japonesa. Ohno (1989
apud GOUNET, 1999, p.25) descreve muito bem esta situao, a partir das palavras do
presidente da Toyota, Kiichiro Toyoda:
Quanto ao mtodo produtivo, tiraremos partido da experincia norteamericana da produo em srie. Mas no o copiaremos. Vamos
lanar mo de nosso potencial de pesquisa e criatividade para
conceber um mtodo produtivo adaptado a situao do nosso pas.
O Japo sabia da necessidade de aplicar o fordismo no seu territrio para a
sua sobrevivncia social e econmica, entretanto, o mesmo optou por uma forma
hbrida, eliminando alguns traos do fordismo, que se pode chamar de puro, adaptandoa ao seu modo de pensar e agir. Gounet (1999) explicita esses motivos:
O nvel de vida dos japoneses, principalmente no ps-guerra, no era
o mesmo dos americanos, sendo as possibilidades de consumo muito
reduzidas;
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
Os japoneses preferiam carros diferentes daqueles produzidos pelos
americanos. A demanda exigia carros pequenos e econmicos;
A demanda, conforme a prpria sociedade japonesa, muito
segmentada, obrigando a produo de mais modelos e em
quantidades menores;
O fordismo necessita de espao e infra-estrutura poderosa, algo que o
arquiplago no tem.
A partir do entendimento dessas contingncias por parte do governo e dos
empresrios, houve a implantao do novo sistema de produo na Toyota com a
finalidade de inserir-se no mercado internacional. O governo japons apoiou a
iniciativa, estando preocupado com as altas taxas de desemprego e a recuperao do
pas, que estava em runas devido Segunda Grande Guerra (BARROS, 2001). As
autoridades declaram a industria automobilstica prioridade, apoiando a indstria
nacional e lanando algumas medidas protecionistas, podendo-se citar o fechamento do
mercado para as importaes, a limitao de investimentos externos e o
desenvolvimento da infra-estrutura do pas.
O modelo japons possui algumas caractersticas importantes, estas podem
ser resumidas da seguinte forma:
A produo puxada pela demanda e o crescimento desta pelo fluxo
de vendas;
Como o espao geogrfico japons muito limitado, a organizao
tem que combater todo o desperdcio, sendo assim o trabalho fabril
decomposto em quatro operaes bsicas e com operacionalizao
perfeita: transporte, produo, estocagem e controle de qualidade;
Introduo de novos mtodos de organizao fabril;
Terceirizao;
Flexibilizao trabalhista;
Utilizao macia do kanban e do Just-in-time.
Atravs da entrada do modelo em larga escala, houve tambm uma
modificao da relao entre o capital, a gerncia e os operrios, podendo ser descrita
como uma parceria entre as partes envolvidas, diferente do que ocorria na sistemtica
fordista. O empregado levado a se sentir como se estivesse em famlia, com um grau
bastante elevado de compromisso e de exigncia por parte da organizao. A empresa
oferece em troca benefcios materiais e/ou simblicos como emprego vitalcio,
revalorizao do saber operrio, ganhos de produtividade, entre outros (SO, 1997). O
trabalhador passa necessariamente a ser multiqualificado, polivalente e multifuncional,
no tendo mais um entendimento mope da produo, mas uma viso sistmica da
mesma. Esta viso necessria para julgar, discernir, intervir, resolver problemas e
propor solues que surgem na produo e na organizao (HIRATA, 1994). Uma das
grandes caractersticas desse modelo o trabalho em equipe, onde segundo Barros
(2001) o toyotismo inovou, atravs da introduo dos CCQ (Crculos de controle de
qualidade). Esta sistemtica tratou de envolver os trabalhadores, distribuindo no s as
tarefas, como tambm as responsabilidades, sendo estas direcionadas s equipes de
trabalho, no ao indivduo.
Os modelos citados anteriormente surgiram devido ao declnio acentuado
como modo de produo do fordismo em todo o mundo. Este declnio tem algumas
causas, entre as principais destacam-se o surgimento da concorrncia japonesa, com sua
nova concepo de gesto e produo, o no atendimento dos interesses do capitalismo,
que teve uma grande queda de competitividade, culminando com um grande declnio
dos lucros. Houve tambm uma transformao da mentalidade dos consumidores, que
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
estavam exigindo produtos diferenciados de acordo com a demanda dos diferentes
segmentos scio-culturais (CATTANI, 1997).
O suposto paradigma do ps-fordismo influenciou no s a produo, mas,
tambm como no fordismo, a sociedade em geral, onde Bonanno (1999, p.32) diz que:
Novos padres de diferenciao sociocultural e tambm a
homogeneizao sociocultural so estimulados pelo ps-fordismo
global rompendo com a estrutura de acumulao do ps-guerra e com
os novos padres distintos de estruturas e processos socioculturais...
gera uma crise de representao cultural, destri as teorias e as
polticas da modernizao, apresenta diversos desafios para a cincia,
para a tecnologia e para outras prticas culturais, alem de gerar novas
teorias culturais sobre o fim da histria e da modernidade, dos
significados sem referncias, de novos modos de representao e de
poltica cultural.
Tenrio (2001, p.163) caracterizou deste modo o novo modelo de gesto:
O sistema ps-fordista de produo se caracteriza, sobretudo, pela sua
flexibilidade. (...) os mercados so cada vez mais volveis
imprevisveis. (...) A empresa individual, portanto, pe nfase na
flexibilidade, na sua capacidade de reagir a, e de procurar mudanas
de mercado. A flexibilidade se manifesta de vrias formas: em termos
tecnolgicos; na organizao da produo e das estruturas
institucionais; no uso cada vez maior da subempreitada; na
colaborao entre produtores complementares. flexibilizao na
produo corresponde a uma flexibilizao dos mercados de trabalho,
das qualificaes e das prticas laborais.
Da afirmao acima, podemos destacar tanto como caracterizao prpria
do modelo, quanto diferenciao em relao ao paradigma anterior, duas importantes
concepes implcitas: o uso da informtica em larga escala e o novo desenho das
relaes trabalhistas.
O uso da informtica cada dia mais crescente nas organizaes e nas
residncias, o modelo em discusso se utiliza e muito, tanto na execuo quanto na
produo, destas inovaes tecnolgicas. Segundo Katz (1995), o objetivo desta
crescente utilizao a economia de insumos materiais e humanos, aumentando o
controle do processo de trabalho, eliminando, ao mximo, possveis falhas na cadeia de
produo, conseqentemente, h menores custos e maiores lucros.
A maior conseqncia da assuno do paradigma ps-fordista foi a
transformao das relaes de trabalho em todo o mundo, onde esto sendo exigidas
novas qualificaes ou, conforme alguns autores, competncias para os operrios. Estes
agora precisam ser polivalentes e multifuncionais, com uma viso mais ampla do
processo, onde precisam estar preparados para no s operacionalizarem a mquina,
mas tambm mant-la, consert-la e mud-la. O objetivo disto atender, num tempo
muito reduzido e com o mnimo custo, as demandas de uma nova produo. O novo
emprego de tempo parcial, raramente fazendo parte da organizao principal, a
tendncia ser terceirizado, sublocado ou temporrio, conforme Harvey (1992 apud
ALVES, 2000, p.79):
A atual tendncia dos mercados de trabalho reduzir o nmero de
trabalhadores centrais e empregar cada vez mais uma fora de
trabalho que entra facilmente e demitida sem custos quando as
coisas ficam ruins.
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
Os trabalhadores comeam a ter novas atribuies e responsabilidades, j
que novos desafios so oferecidos aos mesmos, pois a empresa concede teoricamente
maior satisfao pessoal, mais participao, entretanto, de maneira indireta, exige
diminuio de custos, mais rentabilidade e maior compromisso com a organizao.
Harvey (1992 apud ALVES, 2000, p.78) apropriadamente diz:
Gozando de maior segurana no emprego, boas perspectivas de
promoo e reciclagem, e de uma penso, um seguro e outras
vantagens indiretas relativamente generosas, esse grupo deve atender
expectativa de ser adaptvel, flexvel e, se necessrio,
geograficamente mvel.
Algumas crticas so feitas a este paradigma. Uma destas crticas sobre
alguns novos relacionamentos trabalhistas, que so bem prejudiciais aos trabalhadores,
fato este comentado por Pastore (1994, p.12):
O quadro mundial de desemprego espantoso. Pases prsperos e
possuidores de economias modernas e mo-de-obra qualificadas no
tm como empregar a sua gente, em especial, a juventude. A
sociedade ps-capitalista tornou-se capaz de produzir muito, com
pouca mo-de-obra. As novas tecnologias permitem melhorar a
qualidade de diferenciar os produtos com pequena participao de
trabalhadores de baixa qualificao. O futuro aponta para um mundo
que busca produtividade com pouco trabalho. Ser o mundo da
hegemonia do conhecimento e no do trabalho comum.
Derivando da e do prprio processo do ps-fordismo os ndices alarmantes
de desemprego, a ausncia de ganhos salariais, o enfraquecimento dos sindicatos, a no
distino entre trabalho e lar. Tornando-se cada vez mais recorrente as discriminaes
de sexo, idade, cor e etnia. Onde os jovens, os trabalhadores mais velhos, aqueles de
pouca qualificao e as mulheres esto praticamente excludos do mercado de trabalho
(ALENCAR & ALMEIDA, 2001).
4 Neofordismo
Uma grande crtica sobre o verdadeiro sentido do ps-fordismo a dvida
que paira se existe uma ruptura do modelo fordista ou apenas uma continuidade,
somente com novas roupagens. Acredita-se que possa haver a combinao do fordismo
com as novas tecnologias e os emergentes processos de trabalho (HARVEY, 1992). Tal
abordagem tende a denominar este modelo supostamente flexvel de neofordismo. Este
termo caracteriza um grande debate acadmico sobre o verdadeiro sentido das
mudanas a partir da dcada de 1970. Muitos acreditam que h realmente uma ascenso
de um novo paradigma, outros discordam com certa veemncia. Destacam-se como
argumentos de uma concepo neofordista a idealizao do fordismo no Japo, o forte
controle existente at hoje nas organizaes e a constatao que o fordismo existe at
hoje em vrias empresas modernas.
O fordismo no Japo, conforme visto anteriormente, foi introduzido no seu
arquiplago com caractersticas prprias a sua sociedade e respeitando as suas
limitaes de espao e consumo. Entretanto, a produo, apesar de ser diferenciada e
flexvel, continuou em massa e os rendimentos em vrios setores da sua indstria
continuam a ser em escala. O sistema fabril do ps-guerra se ergueu no Japo recriando
formas primitivas do taylorismo norte-americano (KATZ, 1995). A produo de
equipamentos eletro-eletrnicos desovada ao redor do mundo, sendo estes produzidos
atravs das esteiras rolantes. Existindo um trabalho fragmentado e extremamente
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
simplificado, podendo ser feito por sofisticados robs ou limitados trabalhadores. A to
propagada melhoria do trabalho e das relaes nas firmas japonesas rebatida por Lynn
(1983 apud KATZ, 1995, p.34), quando o mesmo comenta sobre aquilo que alguns
trabalhadores chamam de inferno Toyota:
Sob a aparncia do consenso voluntrio e do paternalismo patronal
protetor, Sature descreve a coero permanente a que est submetida
fora de trabalho, o que desencadeia o Karoshi ou morte por
overdose de trabalho. Meio milhar de trabalhadores morre ao ano em
conseqncia das jornadas de trabalho de 15/16 horas, da ausncia de
frias, das agoniantes viagens de horas aos centros fabris e da
existncia diria em habitaes minsculas.
Wood (1991) comenta que as caractersticas do modelo japons so mais
bem analisadas no mbito do neofordismo, j que aquele sistema depende de uma
padronizao muito consistente, abolio dos estoques intermedirios e a centralizao
do controle, tentando superar algumas fragilidades permanentes do fordismo e avanar
em relao a elas. Krafcik (1988 apud ALVES, 2000) nos diz que muitos dos princpios
de Ford, destacando-se o da intensificao e o da economicidade, em suas formas mais
puras so ainda vlidos e formam a prpria base do Toyota Production System, que para
o mesmo um fordismo original com sotaque japons. A representao disto uma
evoluo do fordismo, no como forma de controle societrio, mas como modelo de
gesto.
A temtica do controle, exaustivamente estudada na teoria administrativa,
um fator que alimenta ainda mais os argumentos dos defensores do neofordismo Para
este estudo no haver um aprofundamento maior do tema. Para estes, no houve uma
diminuio do nvel daquele, principalmente na produo, muito pelo contrrio, houve
uma intensificao. O que ocorreu foi uma evoluo do modo de controle, que
associado a novas tcnicas administrativas, tornou-se algo menos aparente nas
organizaes.
O modo de controle fordista era bem explcito atravs de superviso cerrada,
onde esta exercia sua autoridade atravs de ordens e vigilncia expressas, alicerado
tambm nas normas, regulamentos, hierarquia e critrios de seleo. Esta superviso,
com raras excees, era m e odiada, que ao dilogo preferiam a autoridade, ao
conselho escolhiam a punio, dividindo os subordinados entre apaniguados e
preteridos (TRATENBERG, 1989).
Carvalho (1998, p.62) nos diz que:
O controle do tipo fordista, assentado no acordo entre empresrio e
empregado, mediante um contrato de trabalho que assegura uma
remunerao deste ltimo, tende a ser substitudo, segundo
Courpasson (1997), por novas formas de dominao que privilegiam
o controle dos comportamentos individuais, do compromisso e da
lealdade com a organizao.
Pode-se afirmar que houve uma mudana, at mesmo uma evoluo, das
formas de controle, passando as mesmas a serem mais subjetivas e menos percebidas
pela massa laboral. Deve-se citar a tecnologia, com a introduo das inovaes da
informtica, e os processos baseados em aumento da auto-estima e de premiaes
simblicas como exemplos significativos de uma tcnica de manipulao da mo-deobra, que em troca oferece a organizao um considervel aumento da produo e
conseqentemente do lucro (TRATENBERG, 1989). Essas tcnicas que visam
favorecer o investimento no trabalho so explicitamente enunciadas e conscientemente
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
elaboradas, com base em estudos cientficos, gerais ou aplicados a uma dada empresa
em particular (BOURDIEU, 2001).
importante destacar que, alm do nvel de no ter diminudo, as formas de
controle no so estticas, a tendncia atual, de acordo com Carvalho (1998), enfatizar
a importncia do conhecimento, da percia e da igualdade de oportunidades no emprego
num contexto de concorrncia predatria entre as pessoas.
Apesar de ser dito por alguns que o fordismo algo praticamente extinto na
nossa sociedade, h uma grande quantidade de empresas que se utilizam dos princpios
fordistas. Estas empresas empregam concomitantemente alguns princpios da
especializao flexvel e sua linguagem, onde paradoxalmente estes reorganizadores
ps-fordistas falam o mesmo que os gestores do gerenciamento cientfico: controlar
tempos mortos, reduzir trabalhos indiretos e diminuir estoques (KATZ, 1995).
Annunziato (1999 apud ANTUNES 2002) diz que a economia americana dominada
pelo fordismo at hoje, medida que esta tem um processo de trabalho taylorizado,
penetrando no interior das organizaes de trabalhadores, tanto nos sindicatos como nos
partidos polticos. Friedland (1994) afirma tambm que apesar de haver em
determinados segmentos um retorno produo no massificada, este fenmeno
restrito apenas a uma camada abastada da populao, que tem desejos e capacidade,
principalmente monetria, de consumir estes produtos diferenciados. A grande maioria
da populao est restrita a consumir produtos baratos, estandirzados e produzidos em
massa. Devendo-se deixar claro que o fordismo no inflexvel, evoluindo como
modelo que ainda sobrevive, podendo ser citado a permanncia e o desenvolvimento de
grandes corporaes, a continuidade da produo em escala, conforme citado
anteriormente, e a necessidade da aproximao do espao privado e da fbrica
(BARROS, 2001). Segundo Clarke (1991 Apud BARROS, 2001, p.294):
No existe o fim do fordismo, a teoria da especializao flexvel no
explica satisfatoriamente a permanncia e a sobrevivncia de grandes
corporaes fordistas. O que existe na realidade uma flexibilizao
dos princpios fordianos, de modo a promover atravs do
desenvolvimento da automao e da organizao do trabalho
flexveis, a harmonia social e os meios necessrios para desqualificar
a fora de trabalho, intensificar as atividades de cho-de-fbrica e
desorganizar os trabalhadores, tanto fora quanto dentro do sindicato.
Afastando-se um pouco da indstria automobilstica, j que o fordismo no
se aplicou somente a ela, mas a praticamente a todos os setores da indstria, pode-se
utilizar como exemplo as cadeias de fast-food. Todas estas cadeias tm, conforme Ritzer
(1996), as seguintes caractersticas:
Homogeneidade dos produtos;
Rigidez das tecnologias;
Rotinas padronizadas de trabalho;
A desqualificao dos funcionrios de produo;
Homogeneizao da mo-de-obra;
O consumo em massa.
Pode-se perceber que essas caractersticas encontradas nesses ramos de
negcios, to comuns nas nossas vidas, so fordistas ou baseadas implicitamente no
fordismo. Tendo tambm a pretenso de controle social atravs de seus princpios
mecanicistas e racionais.
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
5.Concluso
No mundo em geral, as pessoas apregoam o declnio do modo fordista de
produo e a assuno, atravs de uma ruptura, de uma nova configurao denominada
ps-fordismo, cujos principais expoentes so o modelo italiano, o volvosmo e o
Toyotismo. Esta configurao prega, ao contrrio do fordismo, uma nova relao entre
patres e empregados, cujas caractersticas bsicas so a instituio de um
relacionamento mais democrtico, uma forma de trabalho mais agradvel, priorizando o
trabalho em equipe e reduo do nvel de controle, onde as opinies do chamado cho
de fbrica so respeitadas e consentidas. Entretanto, o que se percebe que estas
caractersticas no so aplicadas no seu todo ou parcialmente. A humanizao da fbrica
interessante at quando os lucros continuam a crescer, exemplifica-se isto com a
discusso sobre o volvosmo, experincia restrita a uma organizao sueca, que retornou
aos padres fordistas aps um perodo de lucros baixos.
Outra corrente defende que no existe a assuno de um novo paradigma,
apenas uma adaptao do modelo fordista aos novos tempos, havendo uma adaptao
deste s novas tecnologias, processos de trabalho, exigncias dos consumidores e
formas mais modernas de gesto. Este modo pode estar vindo de maneira transmorfa,
adaptando o modelo vigente para as novas demandas sociais, polticas e econmicas
desta era, ou seja, adaptando o fordismo a uma nova era social, poltica e econmica.
Sendo esse processo chamado de neofordismo. Destacando-se trs argumentos para a
existncia desta concepo: a idealizao do fordismo no Japo, o forte controle
existente at hoje nas organizaes e a constatao da existncia do fordismo na nossa
poca.
O debate se existe um ps-fordismo ou o neofordismo est muito longe de
acabar. H uma grande discusso entre estudiosos que defendem os lados opostos, cada
um com argumentos robustos e criativos. Deve-se lembrar que a unanimidade que o
fordismo como originalmente criado, no incio do sculo passado, no tem como
sobreviver na era atual. Tem-se que deixar claro que esta percepo do fim do fordismo
ou continuao do mesmo atravs de novas roupagens algo muito recente, derivando
da dcada de 1970. O estudo sobre o fordismo, inclusive aquele que existe ainda hoje,
no findou ainda, quanto mais sobre o suposto paradigma do ps-fordismo. A percepo
que fordismo, neofordismo e ps-fordismo so modelos que andam juntos e no se
separaro por muito tempo, influenciando o mundo do tabalho.
6 - Referncias bibliogrficas
ALENCAR, Mnica Maria Torres de & ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de.
Transformaes estruturais e desemprego no capitalismo contemporneo. In:
SERRA, Rose (org). Trabalho e reproduo: enfoques e abordagens.So Paulo, Cortez.
Rio de Janeiro, PETRES-FSS/ UERJ, 2001.
ALVES, Giovanni. O novo (e precrio) mundo do trabalho reestruturao
produtiva e crise do sindicalismo. So Paulo, Boitempo Editorial, 2000.
ANNUNZIATO, Frank. Il fordismo nella critica di Gramsci e nella realtta
statunitense contempornea.Roma, Critica Marxista n6, 1999.
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? ensaio sobre as metamorfoses e a
centralidade do mundo do trabalho. So Paulo, Cortez editora, 2002.
10
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
BARROS, Lcio Alves. Metamorfoses do Fordismo ou Modelos Ps-fordistas.
TEORIA & SOCIEDADE (Revista dos departamentos de Cincia Poltica e de
Sociologia & Antropologia UFMG) Belo Horizonte, n.7, 2001.
BONANNO, Alessandro. A globalizao da economia e da sociedade: Fordismo e
ps-fordismo no setor agroalimentar. In: CAVALCANTI, Josefa Salete Barbosa
(Org.) Globalizao, Trabalho, Meio Ambiente - Mudanas socioeconmicas em
regies frutcolas para exportao. Recife, Editora universitria da UFPE, 1999.
CATTANI, Antnio David. Capital Humano. In: CATTANI, Antnio David (Org).
Trabalho e tecnologia: Dicionrio Crtico. Porto Alegre, Vozes, 1997.
CARVALHO, Cristina Amlia. Poder, conflito e controle nas organizaes
modernas. Macei, Edufal, 1998.
CLARKE, Simon. Crise do fordismo ou crise da socialdemocracia? Lua nova,
Revista de cultura e poltica. Set, 1991.
CORIAT, Benjamin. EL taller y el robot: ensayos sobre el fordismo y a produccin
en masa en la era de la electrnica. Madri, Siglo Veintiuno, 1992.
FIEDMAN, Andrew L. Microregulation and post-Fordism: Critique and
development of regulation theory. New Political Economy. 5: 59-76, 2002.
GOUNET, Thomas. Fordismo e Toyotismo na civilizao da automvel.So Paulo,
Boitempo Editorial, 1999.
GORZ, Andr. O futuro da classe operria. Revista internacional, Quinzena. So
Paulo, n 101, 1990.
HARVEY, David. A condio ps-moderna. So Paulo, Editora Loyola, 1992.
HIRATA, Helena. Da polarizao das qualificaes ao modelo da competncia. In
Ferreti, Celso et all (org). Novas tecnologias, trabalho e educao. Petrpolis, Vozes,
1994.
KATZ, Cludio. Novas Tecnologias. Crtica da atual reestruturao produtiva.
Cludio Katz, Rui Braga, Osvaldo Ceggiola. So Paulo, Xam, 1995.
KRAFICK, J. F. Triumph of the lean production system. Sloan Management Review,
1988.
LARANGEIRA, Snia M. G. Fordismo e Ps-fordismo. In: CATTANI, Antnio David
(Org). Trabalho e tecnologia: Dicionrio Crtico. Porto Alegre, Vozes, 1997.
LIPIETZ, Alain. Choisir laudace une alternative pour l XXIeme siecle. La
Dcouverte, Paris, 1989.
LOJKINE, Jean. A revoluo informacional. So Paulo, Cortez, 1995.
LYNN, Barrier. Notes em Marge de Celles de Jean Lojkine. Paris, Sociologie du
Travail,
11
XII SIMPEP Bauru, SP,Brasil, 6 a 8 de novembro de 2006
1983.
OHNO, Taiichi. Lesprit Toyota. Masson, Paris, 1989.
PAMPLONA, Joo Batista. Erguendo-se pelos prprios cabelos auto-emprego e
reestruturao produtiva no Brasil. So Paulo, Germinal, 2001.
PASTORE, Jos. Flexibilizao dos mercados de trabalho e contratao coletiva.
So Paulo, LTR, 1994.
PASTORE, Jos & VALLE SILVA, Nelson. Mobilidade Social no Brasil. So Paulo,
Makron Books, 2000.
PIGNON, Dominique & QUERZOLA, Jean. Ditadura e democracia na produo. In:
GORZ, Andr. Crtica da diviso do trabalho. So Paulo, Martins Fontes, 2001.
PRADO, Luiz Carlos Delorme. Globalizao: Notas sobre um conceito controverso.
Disponvel em < http://redem.buap.mx/word/2001luis.doc.> Acesso em: 01 fev de 2003.
REVELLI, Marco. Oito hipteses sobre o ps-fordismo. Disponvel em < www.
Geocities. com / autonomiabvr/tdoss.html. > Acesso em: 17 mar de 2003.
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: mtodos e tcnicas. So Paulo, Atlas,
1999.
RITZER, George. La Mcdonalizacin de la sociedad Un anlisis de la
racionalizacin en la vida cotidiana. Madri, Ariel, 1996.
SENNETTO, Richard. A corroso do carter: as conseqncias pessoais do trabalho
no novo capitalismo. Rio de Janeiro, Record, 1999.
SO, Guilherme Gaspar de Freitas Xavier. Especializao Flexvel. In: CATTANI,
Antnio David (Org). Trabalho e tecnologia: Dicionrio Crtico. Porto Alegre,
Vozes, 1997.
TENRIO, Fernando Guilherme. Flexibilizao organizacional, mito ou realidade?
Rio de Janeiro, Editora FGV, 2000.
TRATENBERG, Maurcio. Administrao, poder e ideologia. So Paulo, Cortez,
1989.
WOOD, Stephen. O modelo Japons em debate: Ps-fordismo ou japonizao do
fordismo. Revista brasileira de cincias sociais, ano 6, out de 1991.
12
Você também pode gostar
- Resenha Descritiva Do Artigo "Fordismo, Toyotismo e Volvismo: Os Caminhos Da Indústria em Busca Do Tempo Perdido".Documento2 páginasResenha Descritiva Do Artigo "Fordismo, Toyotismo e Volvismo: Os Caminhos Da Indústria em Busca Do Tempo Perdido".Lucas Silva100% (1)
- SANTOMÉ, Iurjo Torres Globalização e InterdisciplinaridadeDocumento16 páginasSANTOMÉ, Iurjo Torres Globalização e InterdisciplinaridadeRenato Cardoso100% (2)
- Resumo de HPA AP2 Aula 6 À 10Documento11 páginasResumo de HPA AP2 Aula 6 À 10R I C K100% (1)
- Resumo Fordismo, Toyotismo e VolvismoDocumento2 páginasResumo Fordismo, Toyotismo e VolvismoJack MassalaiAinda não há avaliações
- TOYOTISMODocumento9 páginasTOYOTISMOIda Elisabete TridicoAinda não há avaliações
- Fordismo e ToyotismoDocumento7 páginasFordismo e ToyotismoPaulo Silva DjiAinda não há avaliações
- FordismoDocumento11 páginasFordismoTiago RodriguesAinda não há avaliações
- Toyotismo Fordismo TaylorismoDocumento4 páginasToyotismo Fordismo TaylorismoamandaunesparAinda não há avaliações
- Resumo Do Trabalho em GrupoTaylorismo, Fordismo e ToyotismoDocumento3 páginasResumo Do Trabalho em GrupoTaylorismo, Fordismo e ToyotismoItélioMuchisseAinda não há avaliações
- 2º Semestre - 3 Aula #Sociologia#ToyotismoDocumento33 páginas2º Semestre - 3 Aula #Sociologia#ToyotismoJoãoAinda não há avaliações
- Fordismo, Toyotismo, Taylorismo e Volvismo PDFDocumento12 páginasFordismo, Toyotismo, Taylorismo e Volvismo PDFluizAinda não há avaliações
- Fordismo, Toyotismo e VolvismoDocumento13 páginasFordismo, Toyotismo e VolvismoKesia Maia100% (1)
- TDE 1 - Volvismo, Fordismo, Etc (Versão Pronta)Documento3 páginasTDE 1 - Volvismo, Fordismo, Etc (Versão Pronta)Pedro SchmidtAinda não há avaliações
- Unidade 2 - Fundamentos e Métodos Do Treinamento de ForçaDocumento59 páginasUnidade 2 - Fundamentos e Métodos Do Treinamento de ForçaWalber Oliveira RodriguesAinda não há avaliações
- Aula 2 - Gestão Da ProduçãoDocumento5 páginasAula 2 - Gestão Da ProduçãoJoilson PinhoAinda não há avaliações
- Abordagem Clássica e o FordismoDocumento13 páginasAbordagem Clássica e o Fordismocatarinamonteiro270Ainda não há avaliações
- Adap Ii - Subjetividade e Modos de Produção No Trabalho - Bruno de JesusDocumento14 páginasAdap Ii - Subjetividade e Modos de Produção No Trabalho - Bruno de Jesuspsibruno10Ainda não há avaliações
- Saúde Mental e TrabalhoDocumento5 páginasSaúde Mental e TrabalhoLília BoellAinda não há avaliações
- Professor: Conteúdo:: Apoena Amorim Aula 02-Sistemas de Gestão Da Produção 16.08.2018Documento31 páginasProfessor: Conteúdo:: Apoena Amorim Aula 02-Sistemas de Gestão Da Produção 16.08.2018Dorilene OliveiraAinda não há avaliações
- Sociologia: Professora Rita de CássiaDocumento15 páginasSociologia: Professora Rita de CássiaRita de CássiaAinda não há avaliações
- FORDISMODocumento8 páginasFORDISMOAngela Dos Santos AraújoAinda não há avaliações
- CienciasHumanas EM Semana27Documento3 páginasCienciasHumanas EM Semana27Ariadiny SilvaAinda não há avaliações
- Semanavensinomedio 3 AseriesociologiaDocumento5 páginasSemanavensinomedio 3 AseriesociologiaEvelhyn FreitasAinda não há avaliações
- Mudanças Na Organização Do Trabalho 1Documento9 páginasMudanças Na Organização Do Trabalho 1Neiller MágnoAinda não há avaliações
- Cap. II e III - PRECARIZAÇÃO DO TRABALHODocumento21 páginasCap. II e III - PRECARIZAÇÃO DO TRABALHORafaela MonteiroAinda não há avaliações
- Reestruturação ProdutivaDocumento4 páginasReestruturação ProdutivaAndriele AmorimAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento2 páginasResenhaJúlia BarbosaAinda não há avaliações
- Taylorismo - FordismoDocumento13 páginasTaylorismo - FordismocamillereginaAinda não há avaliações
- Trabalho e Sociedade - Parte 2Documento25 páginasTrabalho e Sociedade - Parte 2Clara HordonhoAinda não há avaliações
- Aula 04 - Principais Mudancas, Tendencias e Desafios Do Mundo Do TrabalhoDocumento5 páginasAula 04 - Principais Mudancas, Tendencias e Desafios Do Mundo Do TrabalhoJônatas LizardoAinda não há avaliações
- SJSXXI - TFT - Mundo Do Trabalho e EducaçãoDocumento46 páginasSJSXXI - TFT - Mundo Do Trabalho e Educaçãolara.lea.silva15Ainda não há avaliações
- Fordismo: Origem: Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento6 páginasFordismo: Origem: Wikipédia, A Enciclopédia LivreLucas MatosAinda não há avaliações
- Trabalho - Taylorismo e FordismoDocumento3 páginasTrabalho - Taylorismo e FordismoPablo Batista100% (1)
- Capítulo 6 - O Pós-Fordismo - A Reestruturação Produtiva e As OrganizaçõesDocumento11 páginasCapítulo 6 - O Pós-Fordismo - A Reestruturação Produtiva e As OrganizaçõesDanilo MedeirosAinda não há avaliações
- Texto Complementar: Tópicos de Ciências Humanas Adriano 1° A, B, CDocumento7 páginasTexto Complementar: Tópicos de Ciências Humanas Adriano 1° A, B, CarthurhenriqueflausinomarinsAinda não há avaliações
- Fordismo ToyotismoDocumento2 páginasFordismo ToyotismogeonoiaAinda não há avaliações
- Sociologia Semana 15 A 29 SetDocumento4 páginasSociologia Semana 15 A 29 SetBeatriz FernandesAinda não há avaliações
- Do Taylorismo-Fordismo À Acumulação Flexível ToyotistaDocumento11 páginasDo Taylorismo-Fordismo À Acumulação Flexível ToyotistaDorivaldo N P NunesAinda não há avaliações
- Do Fordismo À Acumulação FlexívelDocumento11 páginasDo Fordismo À Acumulação FlexívelLarissa OliveiraAinda não há avaliações
- Sistemas de Produção1Documento9 páginasSistemas de Produção1Greice AneAinda não há avaliações
- Evolução Produtiva e Uberização 2022Documento35 páginasEvolução Produtiva e Uberização 2022yiyexok588Ainda não há avaliações
- Estudo Dirigido TgaDocumento5 páginasEstudo Dirigido TgaLivia LucasAinda não há avaliações
- Aula 01 - Administração Da Produção - 2021Documento19 páginasAula 01 - Administração Da Produção - 2021Gabriela DillAinda não há avaliações
- A Organização Dos Processos de ProduçãoDocumento3 páginasA Organização Dos Processos de ProduçãovmsrioAinda não há avaliações
- Fordismo e ToyotismoDocumento31 páginasFordismo e ToyotismoLuana NobreAinda não há avaliações
- GLOBALIZAÇÃO e INTERDISCIPLINARIDADE Por SANTOMÉDocumento11 páginasGLOBALIZAÇÃO e INTERDISCIPLINARIDADE Por SANTOMÉZenilda Silva100% (1)
- Sociologia: Professora Rita de CássiaDocumento7 páginasSociologia: Professora Rita de CássiaRita de CássiaAinda não há avaliações
- Fordismo É Um Sistema de ProduçãoDocumento2 páginasFordismo É Um Sistema de ProduçãoGladyson PereirsAinda não há avaliações
- ToyotismoDocumento16 páginasToyotismoHenrique Alves de OliveiraAinda não há avaliações
- Como Evoluímos Da Revolução Industrial para o Lean Na SaúdeDocumento9 páginasComo Evoluímos Da Revolução Industrial para o Lean Na SaúdeSantosSixxAinda não há avaliações
- O Fordismo, Sua Crise e o Caso BrasileiroDocumento34 páginasO Fordismo, Sua Crise e o Caso BrasileiroFabricio LealAinda não há avaliações
- 4 Semana de Atividades - Enzo GB - 2º MSI ADocumento3 páginas4 Semana de Atividades - Enzo GB - 2º MSI AEnzo BaptistaAinda não há avaliações
- O Que É TrabalhoDocumento4 páginasO Que É TrabalhoRenata LeãoAinda não há avaliações
- 14 74 1 PBDocumento5 páginas14 74 1 PBIngrid Maria TenórioAinda não há avaliações
- Resenha Taylor e FordDocumento3 páginasResenha Taylor e FordLuciano FlorenzanoAinda não há avaliações
- NST-geografia-Fordismo e o Surgimento Do KeynesianismoDocumento6 páginasNST-geografia-Fordismo e o Surgimento Do KeynesianismoGustavoAinda não há avaliações
- Organizacao Do Trabalho No Seculo XX Taylorismo Fordismo Toyotismo 2 SerieDocumento15 páginasOrganizacao Do Trabalho No Seculo XX Taylorismo Fordismo Toyotismo 2 SerieJoão Mono sledgeAinda não há avaliações
- O Papel da Articulação entre a Política Industrial e o Regime Macroeconômico no Processo de Desenvolvimento: o Caso Brasileiro no período 2003 - 2014No EverandO Papel da Articulação entre a Política Industrial e o Regime Macroeconômico no Processo de Desenvolvimento: o Caso Brasileiro no período 2003 - 2014Ainda não há avaliações
- Estudo da implementação de ferramentas da Indústria 4.0: E seus impactos em face aos conceitos LeanNo EverandEstudo da implementação de ferramentas da Indústria 4.0: E seus impactos em face aos conceitos LeanAinda não há avaliações
- FR 2023 11 9 FR23 222422Documento1 páginaFR 2023 11 9 FR23 222422magnofragretudeAinda não há avaliações
- Socialismo & LiberalismoDocumento9 páginasSocialismo & LiberalismoEmily AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Extrato Combinado 2023009Documento6 páginasExtrato Combinado 2023009cristianosousadossantos2012Ainda não há avaliações
- Este CNPJ Está Com Status de 'Inadimplente No Mercado Ou PossuiDocumento9 páginasEste CNPJ Está Com Status de 'Inadimplente No Mercado Ou PossuiJorge LimaAinda não há avaliações
- Aula Prática 2016 2º S GCDocumento2 páginasAula Prática 2016 2º S GCTodwe Na Murrada100% (1)
- Lavra Por Frente Longa WordDocumento20 páginasLavra Por Frente Longa Wordsheila eva100% (1)
- Dacte-111745282425-2023 01 30 11 01 32Documento1 páginaDacte-111745282425-2023 01 30 11 01 32douglasjds.1605Ainda não há avaliações
- Seed Capital Apresentação 520 741 8Documento20 páginasSeed Capital Apresentação 520 741 8Caio AlfaiaAinda não há avaliações
- O Papel Dos Serviços Na EconomiaDocumento13 páginasO Papel Dos Serviços Na EconomiaFabricia Carla Morais100% (1)
- Credito DocumentarioDocumento6 páginasCredito DocumentarioEduardo Martins100% (1)
- Exercícios Complementares - Formação Das Monarquias Nacionais e MercantilismoDocumento2 páginasExercícios Complementares - Formação Das Monarquias Nacionais e MercantilismoBruno YounesAinda não há avaliações
- Bem Estar SocialDocumento23 páginasBem Estar SocialVanna CabralAinda não há avaliações
- Ejs Hoteis e Turismo (Makai) - 1525Documento1 páginaEjs Hoteis e Turismo (Makai) - 1525Sergio GussartAinda não há avaliações
- ABNT Exemplo de ProjetoDocumento16 páginasABNT Exemplo de ProjetoLeonardo Silvio SarmentoAinda não há avaliações
- Lei 7.102Documento6 páginasLei 7.102grasiellequeirozAinda não há avaliações
- Livro Versão Final Isailton Reis - Amazon 1Documento92 páginasLivro Versão Final Isailton Reis - Amazon 1ISailton ReisAinda não há avaliações
- Notification Draft 2018 568 E ESDocumento110 páginasNotification Draft 2018 568 E ESRicardo FigueiraAinda não há avaliações
- Simulado Esa 13 07 2018 PDFDocumento11 páginasSimulado Esa 13 07 2018 PDFRobson UfrjAinda não há avaliações
- Apresentação Soluções Ecopontes 2023Documento28 páginasApresentação Soluções Ecopontes 2023Ricardo Mendes DA SilvaAinda não há avaliações
- Atualizações No Código Da Estrada em PortugalDocumento6 páginasAtualizações No Código Da Estrada em PortugalRodrigues FernandoAinda não há avaliações
- Manual Master DrogariaDocumento33 páginasManual Master DrogariaMaik Gustavo LorenzattoAinda não há avaliações
- AC Simulado Prova Mensal 1Documento1 páginaAC Simulado Prova Mensal 1MarcosDaCostaSarraAinda não há avaliações
- Folheto Mais AlimentosDocumento12 páginasFolheto Mais AlimentosVitorMelloAinda não há avaliações
- Sinalsul 2017Documento56 páginasSinalsul 2017Aloisio RibeiroAinda não há avaliações
- Otakismo 1.0 - Textos OriginaisDocumento222 páginasOtakismo 1.0 - Textos OriginaisElrik de Melniboné100% (1)
- GEODiversidades 9.º Ano - 1.º TesteDocumento5 páginasGEODiversidades 9.º Ano - 1.º TesteRicardo Gouveia50% (2)
- (1998) CICCONE, Roberto - Surplus (Versão Traduzida)Documento5 páginas(1998) CICCONE, Roberto - Surplus (Versão Traduzida)Bianca AlegriaAinda não há avaliações
- Guiné BissauDocumento11 páginasGuiné BissauCarlos FreireAinda não há avaliações
- Éc4Yt!!!'I ?diifwe G!Ê: Nome: Maria Eucimara Garcia de Souza #Cartão: 6364 7872Documento1 páginaÉc4Yt!!!'I ?diifwe G!Ê: Nome: Maria Eucimara Garcia de Souza #Cartão: 6364 7872Maria MarimsAinda não há avaliações
- Planejamento Orcamento e Sustentabilidade Fiscal CAP2Documento378 páginasPlanejamento Orcamento e Sustentabilidade Fiscal CAP2Henry Pohlmann BrumAinda não há avaliações