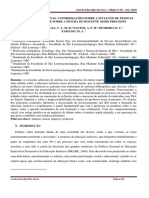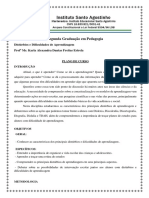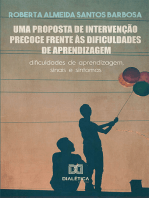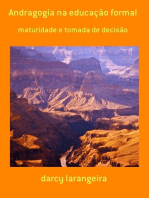Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Deficiencia Itelectual
Deficiencia Itelectual
Enviado por
Solange SilvaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Deficiencia Itelectual
Deficiencia Itelectual
Enviado por
Solange SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A INFNCIA E A DEFICINCIA INTELECTUAL: ALGUMAS REFLEXES
Josiane Eugnio Pereira UNESC1
PROSUP/CAPES
Resumo: O presente artigo aborda o problema acerca das infncias e educao de pessoas com deficincia
intelectual. Esse artigo um recorte do projeto de pesquisa de mestrado intitulado: Infncia e educao da pessoa
com deficincia intelectual: Um olhar a partir das suas memrias. Como documentao emprica utiliza-se da
entrevista de pessoa com tal deficincia, como forma de motivao para as reflexes, pois o estudo baseia-se
principalmente em reviso de literatura pertinente aos temas: infncia, deficincia intelectual e processo de
incluso escolar. Percebe-se que na infncia da entrevistada a mesma fora tolhida do convvio social e acesso ao
conhecimento. Atualmente a Lei que garante o acesso escola aos educandos com deficincia, caminha a passos
lentos e a realidade excludente dos educandrios continua promovendo, selecionando e classificando os bons e
os maus alunos, valendo-se de mtodos comparativos que no oferecem subsdios promoo humana. A escola
inclusiva dentro dos parmetros da Incluso precisa antes de tudo, respeitar a individualidade de cada aluno, sem
comparao com os demais.
Palavras-chave: Deficincia Intelectual - Infncia Educao - Incluso
INTRODUO
Este artigo parte de um estudo em andamento para Dissertao de Mestrado em
Educao, intitulado: Infncia e educao da pessoa com deficincia: Um olhar a partir das
suas memrias. Cujo objetivo central apresentar visibilidade s memrias dos sujeitos com
deficincia intelectual acerca da sua infncia e de sua educao escolar. A referida pesquisa
visa contar a histria das infncias de alguns sujeitos a partir de seu ponto de vista. Para o
presente artigo, foi utilizada apenas uma entrevista, pois a pesquisa ainda no foi concluda.
Com o intuito de investigar como as infncias e a educao se apresentam s
pessoas com deficincia intelectual, utilizo como metodologia de pesquisa a Histria Oral,
pois essa metodologia permite ouvir quais experincias foram mais significativas na infncia.
Meihy ao tratar dessa metodologia apresenta que:
A histria oral um recurso moderno usado para a elaborao de documentos,
arquivamentos e estudos referentes experincia social de pessoas e de grupos. Ela
1
Aluna do Programa de Ps Graduao Mestrado em Educao, da Universidade do Extremo Sul Catarinense.
Orientanda da professora Dr. Marli de Oliveira Costa. Linha de Pesquisa: Educao, linguagem e Memria.
Membro do Grupo de Pesquisa Histria e Memria da Educao (GRUPEHME). Bolsista do Programa de
Suporte Ps-Graduao de Instituies de Ensino Particulares (PROSUP/CAPES).
sempre uma histria do tempo presente e tambm reconhecida como histria
viva. (MEIHY, 2005, p.17)
Alm da entrevista, o artigo apresenta a reviso bibliogrfica sobre infncia e
deficincia intelectual, realizando uma discusso sobre a incluso de educandos com
deficincia.
Lidar com a educao e incluso das crianas com deficincias na sala de aula
um desafio que exige postura crtica e responsvel de todos educadores, afinal, nos coloca
frente a frente com uma realidade social que ao longo da histria foi excluda, humilhada e
discriminada pela sociedade. Existem diferentes tipos de deficincias, entre elas: visual, fsica,
auditiva, sem falar nas altas habilidades e sndromes das mais variadas. No entanto, esse
artigo, apresenta uma discusso a respeito da infncia da pessoa com deficincia intelectual
ou mental, como era anteriormente denominada.
Para conceituar o termo deficincia intelectual, apresento o documento publicado
pelo Governo do Estado de Santa Catarina, que em sua Poltica de Educao Especial, em
consonncia com o Ministrio da Educao (MEC/SEESP), considera:
A deficincia mental como comprometimento cognitivo relacionado ao intelecto
terico (capacidade para utilizao das formas lgicas de pensamento conceitual),
que pode tambm se manifestar no intelecto pratico (capacidade para resolver
problemas de ordem prtica de modo racional), que ocorre no perodo de
desenvolvimento, ou seja, at os 18 anos de idade. (SANTA CATARINA, 2006,
p.23)
Assim, a deficincia intelectual um quadro psicopatolgico que se refere, de
maneira especial, s funes cognitivas. O que caracteriza a deficincia intelectual so
defasagens e alteraes nas estruturas mentais para o conhecimento. No entanto, ainda de
acordo com o documento acima apresentado, o fato de a criana ter uma deficincia
intelectual no diz respeito ao modo como sua estruturao subjetiva est se processando, o
que remete a possibilidade desta criana se constituir como um sujeito possuidor de desejos,
vontades e sonhos. Porm, o que determina as diferentes estruturas so as experincias e
formas de relaes que a mesma estabelece, a partir do lugar que ocupa em sua cultura de
origem.
Dentre estas experincias, vale destacar a importncia da escola e da famlia, que
organizam os primeiros laos da criana com a sociedade. Segundo Paulon (2007, p.19) no
Documento Subsidirio Poltica de Incluso existem, cada vez mais, evidncias de que
muitas crianas classificadas como deficientes mentais no o seriam, caso recebessem, em
tempo hbil, um atendimento adequado s suas necessidades educacionais especiais.
Para compreendermos a infncia da pessoa com deficincia intelectual, se faz
necessrio perceber as diferentes concepes de infncia ao longo da histria.
A deficincia intelectual: Conceito e implicaes
A Deficincia intelectual (DI) ou Deficincia mental (DM) como era
anteriormente designada, caracterizada como uma incapacidade de limitaes significativas,
tanto no funcionamento intelectual quando no comportamento adaptativo e se origina
principalmente antes dos dezoito anos de idade. Segundo o Documento Subsidirio Poltica
Nacional de Incluso: Deficincia Mental a incapacidade caracterizada por limitaes
significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo
expresso em habilidades conceituais, sociais e prticas (PAULON, 2007, p.13). Entre as
causas mais comuns deste transtorno esto os fatores de ordem gentica, as complicaes
durante o perodo da gestao, parto ou ps-natais.
Aps longos debates em prol da mudana do termo e do nome, a deficincia
mental passou a ser designada de deficincia intelectual. Sassaki (2003) registra que a
Psicologia, a Medicina e a Neurocincia abriram as fronteiras do conhecimento sobre o
fenmeno do dficit cognitivo, possibilitando que profissionais e os familiares mais bem
informados passassem a recomendar a adoo do termo deficincia intelectual, entendendo
que o dficit cognitivo no est na mente como um todo e sim numa parte dela, o intelecto. O
mesmo autor assinala que o termo antigo era propenso ao abuso, e induzia a uma
interpretao errnea e at mesmo um insulto, para as pessoas com deficincia e seus
familiares. Assim, segundo o autor o termo Deficincia mental precisa ser eliminado das salas
de aula, dos consultrios mdicos, dos registros de caso, e eventualmente, do vocabulrio do
povo nas ruas.
No entanto, segundo (PAULON, 2007) desde o ano de 1983, alguns acrscimos
relevantes foram realizados em frente a essa definio. A partir dessa data, a Deficincia
Intelectual passa a ser interpretada como um estado de funcionamento. Assim, deixa de ser
uma expresso individual do indivduo e passa a ser uma interao deste individuo com
limitaes com o meio e o contexto em que est inserido.
Por outro lado, segundo OMS CID.10 (1995), a classificao da OMS CID.10
(Organizao Mundial da Sade), baseada ainda no critrio quantitativo. Por essa
classificao, a gravidade da deficincia intelectual ou mental est relacionada s
nomenclaturas: Profundo, Severo, Moderado, Leve. Nesse intuito, de acordo com a OMS, em
sua denominao desde 1976, as pessoas com deficincia so classificadas como portadoras
de Deficincia Mental leve, moderada, severa e profunda.
Essa classificao por graus de deficincia deixava claro que as pessoas no so
afetadas da mesma maneira. Contudo, nos dias atuais tende-se a no enquadrar previamente as
pessoas com deficincia intelectual em uma categoria baseada em generalizaes ou
comparaes, mas sim considerando a pessoa de acordo com as relaes estabelecidas
socialmente, por exemplo, seu convvio familiar, os estmulos recebidos, etc. Assim, percebese que a deficincia pode at mesmo ser mais agravada ou menos agravada, dependendo da
qualidade das relaes sociais do sujeito. Compreende-se que, dentro dessa definio, h um
cuidado dos sistemas de apoio responsveis por auxiliarem as pessoas com deficincia
intelectual.
Neste ponto, cabe analisar algumas questes relativas funo estruturante que a
escola e a famlia precisam exercer com essa criana, ou seja, na constatao de uma
necessidade educacional especial de um sujeito, em funo de uma deficincia intelectual, a
famlia e a escola precisam oferecer subsdios e oportunidades sociais para que ela se
desenvolva, a partir de valores como respeito, aceitao e admirao.
Durante muito tempo, as crianas com deficincia, as que frequentavam a escola,
deveriam ser educadas em salas separadas, pois as crianas consideradas normais precisavam
aproveitar melhor das instrues que lhes eram proporcionadas. Tais afirmaes vm de
encontro afirmao de Magalhes
Os anormais completos ficariam sob os cuidados mdicos, diretamente, e se
necessrio, auxiliados pelo pedagogo sob a responsabilidade do mdico. Os
incompletos, alm do mdico, sob a responsabilidade do neurologista e do pedagogo
preparado para tal: o mdico, combatendo os defeitos orgnicos e o pedagogo as
taras mentais, at que as crianas pudessem voltar s classes normais. Sempre o
papel preponderante seria o do mdico (apud JANNUZZI, 2004, p.48).
A defesa desta educao foi feita em nome da Ordem e Progresso, princpios
que regiam o pas naquela poca. Estes princpios foram criados em precauo dos
desajustados e criminosos que poderiam surgir. No entanto, pode-se observar que estes
estigmas so produtos das relaes sociais, definidos por uma sociedade ou grupo social ao
qual a pessoa pertence que determina o que normal e o que diferente.
Na atualidade, no modelo de educao inclusiva que prope mudanas na forma
de atendimento a todas as crianas - no s aquela com deficincia - vm caminhando a
passos lentos. Montoan (2007) observa que, na contemporaneidade as escolas valem-se de
mtodos desiguais, classificatrios e competitivos promovendo os alunos bons, apesar do
discurso de respeito s diferenas e especificidades de cada educando. No entanto, entende-se
que uma proposta educativa ou teraputica dirigida a uma criana com deficincia intelectual
poder ser determinante do seu destino. Assim, como a experincia relacional que o sujeito
encontra ao longo da vida, permite-lhes ressignificar sua estruturao.
Nesse sentido, esse estudo traz uma reflexo sobre os caminhos percorridos pelas
crianas diagnosticadas como deficientes intelectuais. Identificando nas lembranas de uma
pessoa com tal deficincia suas experincias diante da sociedade excludente arquitetada e
planejada para os ditos normais
A Infncia, suas concepes e a experincia com a deficincia intelectual
Inicialmente se faz necessrio revisitar os conceitos de infncia para
contextualizar as memrias coletadas a partir dos depoimentos da entrevistada.
O conceito de infncia recebeu vrias significaes no decorrer dos momentos da
histria. Por isso, no podemos generalizar afirmando que toda a sociedade percebe a criana
e a infncia da mesma forma, pois tal premissa nem sempre foi compreendida da mesma
maneira e, por diversos perodos, se discutiu qual era o tempo da infncia e quem era a
criana.
Infncia em latim in-fans, que significa sem linguagem. No interior da tradio
metafsica ocidental, no ter linguagem significa no ter pensamento, no ter
conhecimento, no ter racionalidade. Neste sentido a criana focalizada como um
ser menor, como algum a ser adestrado, a ser moralizado, a ser educado. Algum,
que na concepo de Santo Agostinho pecaminoso pecado da unio dos pais e
que em si mesmo deve ser considerado pecaminoso pelos seus desejos libidinosos,
pois para Santo Agostinho, a racionalidade, como um dom divino, no pertence
criana (GALZERANI, 2002, p. 57).
Como nos apresenta Galzerani, alm de no gozar de um papel na sociedade, a
criana era vista como menor, incompleta, como algum a ser adestrada, apresentando uma
equivalncia irracionalidade. Assim, alm de no ser vista nem ser valorizada, a criana
tambm no possua um espao prprio para ela, ou seja, tinha que conviver nos ambientes
dos adultos, onde trabalhavam, participava da vida pblica e testemunhavam os processos
naturais da vida, como nascimento, doenas e morte.
Esse conceito j foi superado na sociedade contempornea, que vm se
conscientizando e buscando o reconhecimento da infncia enquanto categoria social. Portanto,
na Modernidade que infncia recebe a conotao predominante nos dias atuais. Concordase com os estudos de Sarmento (2004, p.33), sobre a afirmao de que a criana sempre
existiu, o que no existia era a infncia enquanto categoria social de estatuto prprio.
Embora a deficincia intelectual seja um quadro psicopatolgico conhecido desde
a antiguidade, sendo possvel, sua identificao na infncia, com certeza as crianas tolhidas
por essa deficincia, viveram esse perodo de suas existncias, sofrendo discriminao e
preconceitos. Essa patologia por ser encontrada em vrios graus, desde os mais leves,
passando pelos moderados, at os mais graves, tornou-se mais evidente com as exigncias
intelectuais da escola. Ou seja, com a ida da criana com deficincia intelectual para as
instituies escolares, tal deficincia tornou-se mais explcita.
Tornou-se mais evidente, pois o que caracteriza a deficincia intelectual so
defasagens e alteraes nas estruturas mentais para o conhecimento. Desta forma, as crianas
com baixa produo de conhecimento, dificuldade de aprendizagem e um baixo nvel
intelectual passaram a ser alvos de testes de inteligncias, os chamados testes de QI2, que
surgiram na China no Sculo V d.C., mas s se tornaram instrumentos clnicos, padronizados
para aplicao e interpretao, no sculo XX mais precisamente em 1904 com os trabalhos de
Alfred Binet e Theodore Simon e publicados pela primeira vez em 1905. Esses testes
relacionavam a idade cronolgica e o desempenho em testes destinados a outras faixas etrias.
Desta forma, se uma criana com 10 anos de idade obtivesse o mesmo desempenho que a
mdia das crianas de 08 anos, significaria que ela possua um nvel mental de 08 anos, desta
maneira, era possvel medir o atraso ou o adiantamento intelectual das crianas. Com o passar
dos anos, os testes de QI (Quociente de Inteligncia) foram mudando, se adaptando e se
aperfeioando, visto que algumas clnicas continuam aplicando-o em seus pacientes.
O teste de QI um resultado avaliado em decorrncia dos contedos que um
indivduo produz em um determinado momento e no diz respeito funo cognitiva em si
prpria.
2
Disponvel em < http://www.sigmasociety.com/artigos/introducao_qi.pdf > acesso em 10 de Fev. de 2012.
O conceito de QI apontado como o mais adequado ao diagnostico de deficincia
mental. Sabemos que o QI amplamente aceito nos meios acadmicos quanto na
prtica profissional. No entanto, no se pode continuar confundindo processo de
cognio ou inteligncia com o QI: o primeiro diz respeito s funes cognitivas
propriamente ditas; o segundo um produto das mesmas (PAULON, 2007, p.13).
No entanto, sabe-se que esse tipo de testagem acaba rotulando como deficiente
mental ou intelectual uma variedade de alunos. Embora o QI compare a desempenho de um
indivduo a de uma determinada populao, ele poder servir apenas para constatar uma
defasagem e no como parmetro de classificao.
Muito antes de se pensar numa escola inclusiva, onde se precisa respeitar a
individualidade de cada aluno, sem comparao com os demais, muitas crianas foram
impedidas de frequentarem a escola, por diversos motivos, entre eles o de no produzir
conhecimento suficiente. Muitas famlias que tinham crianas com deficincia intelectual em
idade escolar preferiam manter seus filhos em suas residncias por medo que algo ruim lhes
acontecesse, como preconceito e discriminao. Desta maneira, no os matriculava na escola
de ensino regular, nem na escola de ensino especial, conhecida como APAES3 Associao
de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Para visualizar esse contexto, trago duas situaes: A primeira trata da lembrana
de Egnea Monteiro Matias4, 55 anos de idade, residente no municpio de Maracaj/SC,
aposentada, vive sob os cuidados da irm mais velha. A segunda situao traz o depoimento
da irm da entrevistada, que relata os cuidados e as angustias que perpetuavam nos
sentimentos familiares para com sua irm deficiente quando criana.
Egnea nasceu prematura de sete meses, e sua deficincia intelectual est
relacionada com a doena da rubola contrada por sua me durante a gestao. Teve srias
complicaes e problemas de sade no decorrer da infncia e no desenrolar de sua vida,
apresentando uma sade frgil requerendo cuidados. No frequentou a escola quando criana,
mas apesar de suas limitaes fsicas e mentais, e sua dificuldade em concretizar e elaborar
seu pensamento rememora sua infncia e fala do cuidado que sua me tinha para com ela, de
maneira singela e emocionada no depoimento
A Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) surgiu no Rio de Janeiro em 1954, chegando a Santa
Catarina um ano depois, quando foi instalada em Brusque a segunda APAE do Brasil. Hoje so 196 instituies
em todo o Estado, que juntas atendem mais de 17 mil alunos, promovendo e defendendo os direitos de cidadania
e a incluso social das pessoas com deficincia (SANTA CATARINA,2006).
4
Egnea Monteiro Matias, entrevista concedida Josiane Eugnio Pereira, Maracaj, 04/03/2012.
Eu era pequenininha do tamanho de uma garrafa, mas a me no podia me cuidar
[pausa]. A tia Rita, acho que tu no conhecia, parente do Toninho da D.Idelvina e
a vov da tia Rita, ela era bem velhinha e cuidava de ns. Minha me no podia
cuidar. A me no tinha coragem pra cuidar, de colocar fralda. Eu era to pequena,
do tamanho de uma boneca [risos...]. Eu era do tamanho assim [mostra com as
mos]. Eu lembro de tudo. Eu chorava muito e a me no podia cuidar [... pausa]. Eu
chorava porque eu tinha uma hrnia aqui [sinaliza o local com a mo], depois
arrebentou. Pergunta para a Delcia, pode perguntar para ela [referindo-se a irm que
estava prxima]. Mas eu no era triste. Eu no era a mesma coisa. Eu queria crescer
mais. Da um tempo que a Delicia [para e volta na frase], era pequena, eu era bem
magrinha, pode perguntar pra Delicia, eu era magra. No tempo da me eu era bem
magrinha, pode perguntar para Mara [outra irm]. Quando a Delicia me pegou, me
levou para a farmcia, deu uma coisa pra mim que eu cresci e aumentei mais um
pouquinho (Egnea Monteiro Matias).
Percebe-se na fala da entrevistada, um sentimento de compaixo por sua me, que
com a sade debilitada no conseguia cuidar dos filhos e pedia ajuda a uma senhora que
morava perto de sua casa. Em contrapartida, Egnea apresenta noo de sua condio
intelectual e fsica ao alegar que eu no era a mesma coisa, pois se sentia diferente de seus
irmos, mostrando noo de interpretao de mundo e realidade que a cerca.
Delicia Matias Monteiro, de 66 anos, irm de Egnea, fala do cuidado e do receio
que a famlia tinha, em relao ao mal que algum poderia fazer sua filha. Isso foi motivo
para que a infncia de Egnea ocorresse nas delimitaes de sua casa, sempre sob a proteo e
olhares dos adultos da famlia.
Mas na poca, se botasse [na escola] ela ia! Na poca, se botasse ela no colgio, com
uns dez anos ela tinha conseguido... O mdico falou pra mim, que ela tinha uma
dificuldade, mas ia aprender! Mas a gente pedia pro pai: Vamos levar ela num
colgio?. No, no pode porque uma pessoa pode judiar e ela muito
pequenininha (Delicia Matias Monteiro).
Ao longo dos tempos, a pessoa com deficincia, foi discriminada e isolada da
sociedade. A maioria dos pais viviam um conflito social e pessoal, pois por mais que
quisessem que seu filho ou filha vivesse em sociedade, sabiam que eles seriam rejeitados nos
mais diversos ambientes. Arajo (1994, p.17) contribui a essa situao ressaltando que: no
caso de deficincia congnita ou adquirida durante o nascimento, criana comea a enfrentar
seus primeiros problemas oriundos da rejeio, em razo do despreparo de seus pais.
Isso vem ocorrendo, desde muito tempo. O historiador francs Paul Veyne (1989,
p.23), explica que, na Grcia, na poca do Imprio Romano, ao nascer a criana com
deficincia ou mal formada os pais enjeitavam ou afogavam seus filhos, mas eles no faziam
isso por raiva e sim pela razo, pela crena de que Era preciso separar o que bom do que
no pode servir para nada, e isso era valido mesmo se tratando de pessoas.
No Brasil o abandono de crianas parece tambm ter sido procedimento antigo,
tanto que no final do sculo XVII, h pedido de providncias ao rei de Portugal, realizado
pelo governador da provncia do Rio de Janeiro, Antonio Paes de Sande: Contra os atos
desumanos de se abandonar crianas pelas ruas, onde eram comidas por ces, mortas de frio,
fome e sede. (MARCILIO apud JANUZZI, 2004, p.09)
Para resolver esse problema social, a partir do sculo XIX, algumas provncias
mandavam vir religiosas para a administrao e educao dessas crianas. Surgiram as
instituies de caridade que iniciaram um processo de recolhimentos das crianas
abandonadas. Dessa forma, havia a possibilidade de no s serem alimentadas e assistidas,
mas tambm de receberem alguma educao. Januzzi (2004) acredita que os asilos para
desvalidos, as casas de expostos, a Roda dos Expostos, na cidade de Salvador no ano de
1726, no Rio de Janeiro em 1738 e em So Paulo no ano de 1825, foram tentativas de
diminuir essas questes sociais. Quando os responsveis no desejavam criar seus filhos ou
no tinham capacidade para cri-los, depositavam nesses locais, sob a guarda das
congregaes religiosas. No entanto, nem todas as crianas recebiam o mesmo tratamento.
Quando recolhidas nas Santas Casas, ficavam junto a adultos doentes e alienados,
considerados loucos. No havia a diferenciao entre adultos e crianas, nem quanto
educao e tratamento dos mesmos, pois havia poucos abrigos para as pessoas e de acordo
com a viso hegemnica da poca, a loucura era tomada como caso de polcia e no de
hospital.
Assim, como as diferentes concepes e significaes de infncia que existem ao
longo da histria, a criana que apresentava deficincia intelectual tambm era rotulada com
conceituaes, adjetivos, apelidos pejorativos, ou sofriam com brincadeiras preconceituosas,
sendo motivos at mesmo de chacotas.
A deficincia e o movimento epistemolgico da Incluso
Durante muito tempo, era comum o emprego de termos preconceituosos para
conceituar uma pessoa com deficincia, como por exemplo: doente, idiota, imbecil, retardado
(a) mental, entre outras definies pejorativas e excludentes, e que ainda perduram at hoje
quando se referem a essas pessoas.
10
No entanto, preciso uma mudana de postura quanto aos conceitos, entendendo
que existem termos mais apropriados, condizentes com o paradigma da incluso social, para
dirigir ou referir s pessoas com deficincia de maneira geral.
Nesse estudo, busquei utilizar termos como deficientes ou pessoa com
deficincia, por acreditar que essas terminaes estejam mais de acordo com os elaborados
pelo Comit Especial da ONU. A partir da Conveno Interamericana para a Eliminao de
Todas as Formas de Discriminao contra as Pessoas Portadoras de Deficincia, celebrada na
Guatemala, em maio de 1999 e amparada pela Constituio Brasileira por meio do Decreto n
3.956/20015 fica evidente a preocupao com a discriminao de que so objeto as pessoas
em razo de suas deficincias, deixa clara a impossibilidade de qualquer forma de
discriminao ou diferenciao baseada na deficincia. A partir da, autores e estudiosos,
passaram a defender e a utilizar termos distintos e mais apropriados ao se referirem s pessoas
com alguma deficincia de maneira geral:
Aleijado; defeituoso; incapacitado; invlido. Estes termos eram utilizados com
frequncia at a dcada de 80. A partir de 1981, por influncia do Ano Internacional
das Pessoas Deficientes, comea-se a escrever e falar pela primeira vez a expresso
pessoa deficiente. O acrscimo da palavra pessoa, passando o vocbulo deficiente
para a funo de adjetivo, foi uma grande novidade na poca. No incio, houve
reaes de surpresa e espanto diante da palavra pessoa: "Puxa, os deficientes so
pessoas?" Aos poucos, entrou em uso a expresso pessoa portadora de deficincia,
frequentemente reduzida para portadores de deficincia. Por volta da metade da
dcada de 90, entrou em uso a expresso pessoas com deficincia, que permanece
at os dias de hoje (SASSAKI, 2003, p.3).
No entanto, independente das mudanas de termos e conceitos utilizados no
decorrer da histria para se dirigir s pessoas com deficincia, precisamos ter cuidado para
que o preconceito no fique mascarado em cada novo termo. No que tange a sociedade atual,
vive-se uma mudana de paradigmas no que diz respeito ao tratamento com os diferentes.
Hoje as escolas atendem um grande nmero de alunos com diversas deficincias, mas muitas
vezes, no possuem condies efetivas de promover mudanas e construes para todos, com
base na diversidade humana e mesmo com o discurso inclusivo, de respeito s diferenas
individuais, acabam realizando somente a integrao deste aluno, ao invs da incluso. Nesse
sentido, incluir vai alm da garantia de acesso dos alunos com necessidades especiais escola
e do oferecimento de um servio especializado a eles.
Decreto n 3956, de 08 de outubro de 2001. Disponvel em:
< http:/ WWW.planalto.gov.br/civil/decreto/2001/d3956.htm > Acesso em 03 de janeiro de 2012.
11
[...] o processo de incluso tem uma amplitude que vai alm da insero de alunos
considerados especiais na classe regular, e de adaptaes pontuais na estrutura
curricular. Incluso implica em um envolvimento de toda a escola e de seus
gestores, um redimensionamento de seu projeto poltico pedaggico, e, sobretudo,
do compromisso poltico de uma re-estruturao das prioridades do sistema escolar
(municipal, estadual, federal ou privado) do qual a escola faz parte, para que ela
tenha as condies materiais e humanas necessrias para empreender essa
transformao (GLAT, 2003, p.33).
No entanto, como dissemos, nem sempre houve essa preocupao com a
escolarizao da infncia da pessoa com deficincia. Por exemplo, em meio ao emaranho de
lembranas de Egnea ela mostra vrios aspectos e experincias de sua infncia. Alm disso,
aparecem em sua fala, desejos de participar de uma sociedade que no lhes abrira as portas.
Quando eu era pequena eu gostava de brincar de boneca. De boneca e de casinha. Eu
brincava sozinha, naquele tempo no tinha ningum, no tinha ningum pra mim
brincar [irm sussurra: castelinho na areia]. Naquele tempo era s eu que tinha. Os
irmos eram tudo grande [repete frase]. Tinha uma boneca, ela era de cabelo preto,
era morena, cabelo cacheado aqui [mostra a altura nos ombros] e tinha roupa. Era a
coisa mais linda a boneca, que eu ganhei foi aquela boneca que a madrinha me deu
quando eu era pequena. Gostava bastante a eu brincava [... pausa]. Eu queria ir pra
escola, eu tinha... Eu queria ir! Eu pedi pra me, da a me cortava lenha e no tinha
como levar, da a me disse: Tu no tem preciso, pra qu?. Me eu quero ir,
me! No, mas no precisa, tu no tem preciso! Eu tenho medo de judiar de
tu... A eu no fui! (Egnea Monteiro Matias)
Ao estar inserido em um grupo, que por sua vez, fazem parte da sociedade,
Halbwachs nos escreve sobre memria coletiva e social Ele o memorizador e das camadas
do passado a que tem acesso por reter objetos que so, para ele, e s para ele, significativos
dentro de um tesouro comum. (apud BOSI, 1994, p.411):
Essas memrias mostram-se reveladoras. Primeiro porque percebe-se que mesmo
com os brinquedos que ganhava e das brincadeiras que fazia, ela se sentia s, sentia o desejo
de conhecer a escola, de se sentir parte do meio, de conviver com outras crianas. Mas
novamente, o conflito social vivido pelos pais a impediram de realizar tal tarefa. Segundo,
porque naquela poca, as escolas ainda no se preocupavam em atender as pessoas com
deficincias, mesmo sabendo de sua existncia, a ida delas pra escola era uma opo dos pais
ou responsveis. Na atualidade, as pessoas com deficincia, qualquer que seja a origem ou
gravidade, tem os mesmos direitos fundamentais que seus concidados da mesma idade, o que
implica no direito de viver uma vida to plena quanto possvel, isso inclui o direito pela
educao, que dever do Estado.
Em Santa Catarina, o processo de incluso de alunos com deficincia na rede regular
de ensino, foi oficializado em 1987, com a deflagrao da matricula compulsria
que determinou s escolas do sistema a obrigatoriedade da matricula de todas as
12
crianas em idade escolar, independentemente de suas caractersticas ou das
condies da escola (SANTA CATARINA, 2006, p.17).
No entanto, somente em 1996 o Estado oficializou a Poltica de Educao de
Educao Especial por meio da Resoluo n01 do CEE Conselho Estadual de Educao,
fixando as normas para a educao especial no sistema regular de ensino, Santa Catarina
define sinteticamente:
Educandos com deficincia em idade escolar devem ser matriculados na rede regular
de ensino; Educandos com deficincia sensorial e com deficincia mental leve tero,
em perodo oposto ao do ensino regular, servios educacionais de apoio em salas de
recursos e servios de apoio pedaggico, respectivamente; Educandos com graves
comprometimentos mentais e com deficincias mltiplas podero ser atendidos em
escolas especiais conveniadas com a FCEE (SANTA CATARINA, 2006, p.17).
Desta forma, construir uma escola inclusiva, ou seja, baseada no movimento
epistemolgico da Incluso, vai muito alm do discurso sobre igualdade e incluso, que
muitas vezes ouve-se nas escolas. A igualdade de acesso ao conhecimento que precisa ser
destacada e isso implica mudana no foco conteudista e o rompimento com o desejo de
homogeneidade, enraizados no modelo escolar tradicional. Nessa perspectiva
A incluso um desafio, que ao ser devidamente enfrentado pela escola comum,
provoca a melhoria da qualidade da Educao Bsica e Superior, pois para que os
alunos com e sem deficincia possam exercer o direito educao em sua plenitude,
indispensvel que essa escola aprimore suas praticas, a fim de atender s
diferenas. Esse aprimoramento necessrio, sob pena de os alunos passarem pela
experincia educacional sem tirar dela o proveito desejvel, tendo comprometido um
tempo que valioso e irreversvel em suas vidas: o momento do desenvolvimento
(FVERO, 2004, p.30).
Ao observar as memrias de infncia de Egnea Monteiro Matias, ao referir ao
desejo de ir escola, por mais que sentisse vontade de participar da vida social, percebe-se
que a famlia, o Estado e a sociedade no lhes oportunizavam acesso, ainda no haviam
despertado para o desenvolvimento das potencialidades das pessoas com deficincia no geral.
Somente com as mudanas em mbito Nacional e Estadual, principalmente com a
Constituio Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional de 1996,
entre outros documentos oficiais que serviram de respaldo para o principio da educao
inclusiva que chegamos at aqui. Pode parecer, s vezes, que a caminhada foi pequena, mas
no foi. Apesar de andar em vagarosos passos continua ativa na luta pelos direitos das pessoas
com deficincias e a primeira etapa j est sendo realizada, com a insero dos educandos em
idade escolar nas escolas de ensino regular.
13
CONSIDERAES FINAIS
Pode at soar estranho, mas durante muito tempo na histria da humanidade a
infncia no existia. Bom, pelo menos no da forma como existe hoje. Mas ento, como era?
No ncleo familiar, por exemplo, desde que nasciam as crianas participavam das mesmas
situaes familiares que os adultos, no possuam singularidade, no tinha espao em
representaes artsticas, no possua estatuto prprio, enfim, elas no desempenhavam o
mesmo papel social que hoje representam na famlia e na sociedade.
Ainda que a Modernidade tenha trazido a visibilidade infncia, a identidade das
crianas continua sendo irredutvel ao mundo dos adultos como nos escreve Sarmento
(2004), as crianas participam da histria e do movimento cultural e social a qual esto
inseridas. Embora participando da cultura organizada pelos adultos, produzem cultura,
modificam e se apropriam dela, nas suas relaes com a natureza, com os adultos e com
outras crianas.
Nesse sentido, o convvio social, quanto o escolar na infncia a oportunidade de
uma criana ampliar a construo de seus conhecimentos e desafios, bem como, desenvolver
suas potencialidades para que sejam percebidas pelo outro e por si mesmas como sujeitos de
direitos. Mas para que isso ocorra, o ambiente precisa ser favorvel e as oportunidades
vivenciadas por todos.
A partir dos estudos apresentados e o relato da entrevistada, que ao rememorar sua
infncia trouxe sonhos e desejos de se sentir aceita na sociedade, tambm aponta para a
dificuldade enfrentada por possuir deficincia intelectual, e fica fcil perceber o quanto
difcil, em nossa sociedade, a emancipao das pessoas com essa deficincia, que apesar de
suas limitaes e dificuldades, vivem protegidas da sociedade. No exercem seu direito
como cidado, no votam e no administram nem seu prprio aposento, ficando esse a cargo
de algum da famlia, algum considerado responsvel.
Pode-se compreender que desde criana as pessoas com deficincia intelectual,
por terem suas funes intelectuais comprometidas, podendo apresentar dificuldades em seu
desenvolvimento e no seu comportamento, sobretudo na adaptao ao contexto a que
pertence, nas esferas da interao familiar, da comunicao, do cuidado consigo mesma, dos
talentos sociais, na segurana, no desempenho acadmico e profissional, no lazer e na sade.
14
No entanto, a criana com deficincia no pode ficar fadada marginalidade ou
excluso social, j que possui dificuldade de se adequar ao seu contexto, mas ao contrrio, as
crianas tolhidas pela deficincia intelectual necessitam de ambientes que as auxiliem na
estruturao e formulao do pensamento, onde possam desfrutar da infncia intensamente
com as suas descobertas e desafios. Para tanto, preciso tambm, que oportunizamos suas
narrativas, e assim, rompendo com a corrente do silenciamento historicamente submetidos s
crianas e as pessoas com deficincia, refletir e direcionar nossas aes para o enfrentamento
das barreiras existentes em diferentes esferas, entre elas familiar, social e pedaggica.
A partir dos estudos, compreendo tambm, que a questo da deficincia vem
sendo discutida e torna-se imprescindvel que novos estudos sejam realizados para que
possamos avanar na qualidade de atendimento a esses cidados, que ao longo da histria a
sociedade excluiu, humilhou e discriminou.
REFERNCIA
ARAJO, Luiz Alberto David. A proteo constitucional das pessoas portadoras de
deficincia. Braslia. CORDE, 1994.
BOSI, Ecla. Memria e sociedade: lembranas de velhos. 3. ed. S.P: Companhia das Letras,
1994.
BRASIL. Decreto n 3.956, de 8 de outubro de 2001. Disponvel em
<https://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/d3956.htm > Acesso em: 21 de 03 de Jan.
2012.
GALZERANI, Maria Carolina. Imagens entrecruzadas de infncia e produo de
conhecimento histrico em Walter Benjamin. In: FARIA, Ana Lcia G.; DEMARTINI, Zeila
B. F.; PRADO, Patrcia (org.). Por uma cultura da infncia: metodologia de pesquisas
com crianas. Campinas: Autores Associados, 2002.
JANNUZZI, Gilberto de Martino. A educao do deficiente no Brasil: dos primrdios ao
incio do sculo XXI. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.
KUHLMANN, Jr. Moiss. Fernandes, Rogrio. Sobre a histria da infncia. In FARIA
FILHO, Luciano (Org.). A infncia e sua educao: Materiais, prticas e representaes.
(Portugal e Brasil). Belo Horizonte: Autntica, 2004.
MEIHY, Jos Carlos Sebe Bom. Manual de Histria Oral. So Paulo: Ed. Loyola, 2005.
MONTOAN, Maria Teresa Egler. Batista, Cristina Abranches Mota. Atendimento
Educacional Especializado em Deficincia Mental. GOMES, Adriana L. Limaverde.
Atendimento Educacional Especializado. So Paulo: MEC/SEESP, 2007.
15
OMS. CID-10. OMS. 2. ed.So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo,1995.
PAULON, Simone Mainiere. Documento Subsidirio politica de incluso / Simone
Mainiere Paulon, Lia Beatriz de Lucca Freitas, Gerson Smiech Pinho. Braslia: Ministrio
da Educao, Secretaria de Educao Especial, 2 ed., 2007.
SANTA CATARINA (Estado). Secretaria de Estado da Educao. Fundao Catarinense de
Educao Especial. Politica de Educao Especial do Estado de Santa Catarina:
Coordenador Sergio Otavio Bassetti So Jos: FCEE, 2006.
SARMENTO, Manuel Jacinto. As culturas da infncia nas encruzilhadas da Segunda
Modernidade. In: SARMENTO, m. j.: CERISARA, A . B. Crianas e Midos: perspectivas
sociopedaggicas da infncia e educao. Porto, Portugal: Asa editores, 2004.
______. Infncia, excluso social e educao como utopia realizvel. Revista Educao &
Sociedade. Campinas, v. 23, n. 78, 2002.
SASSAKI, Romeu Kazumi. Como chamar as pessoas que tem deficincia? VIDA
INDEPENDENTE: Histria, movimento, liderana, conceito, filosofia e fundamentos. So
Paulo: RNR, 2003.
VEYNE, Paul. O Imprio Romano. In: Histria da Vida Privada. V. 1. So Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
FONTE ORAL
Egnea Monteiro Matias, entrevista concedida Josiane Eugnio Pereira, em Maracaj dia
04/03/2012.
Delcia Monteiro Matias, entrevista concedida Josiane Eugnio Pereira, em Maracaj dia
04/03/2012.
Você também pode gostar
- 02 - M3 - at - 20 - P - 116 - 119 - Tu Não Precisas de FazerDocumento3 páginas02 - M3 - at - 20 - P - 116 - 119 - Tu Não Precisas de FazerAntonio Goncalves100% (1)
- Questionario 2 Comportamento e SociedadeDocumento7 páginasQuestionario 2 Comportamento e SociedadeClivia Lins100% (1)
- Exercícios de Fixação - Módulo IIDocumento10 páginasExercícios de Fixação - Módulo IIElói Ferreira Pereira100% (1)
- Adaptações Curriculares para Estudantes Com Deficiência Intelectual Na Escola Regular Proposta para Inclusão Ou para SegregaçãoDocumento7 páginasAdaptações Curriculares para Estudantes Com Deficiência Intelectual Na Escola Regular Proposta para Inclusão Ou para SegregaçãoIsnary SilvaAinda não há avaliações
- Transtorno do Déficit de atenção com hiperatividade (TDAH): Caracterização e orientações práticasNo EverandTranstorno do Déficit de atenção com hiperatividade (TDAH): Caracterização e orientações práticasAinda não há avaliações
- A Inibição da Aprendizagem: uma proposta psicanalítica e psicopedagógicaNo EverandA Inibição da Aprendizagem: uma proposta psicanalítica e psicopedagógicaAinda não há avaliações
- As Principais Diferenças Entre Transtorno e Dificuldade de AprendizagemDocumento5 páginasAs Principais Diferenças Entre Transtorno e Dificuldade de AprendizagemIsla Campos100% (1)
- Deficiencia Fisica 2015Documento314 páginasDeficiencia Fisica 2015Kelly FariaAinda não há avaliações
- 8-Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem - Leitura, Escrita e MatemáticaDocumento11 páginas8-Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem - Leitura, Escrita e MatemáticaM&G CONSULTORIAAinda não há avaliações
- Pensamento: Psicopatologia Geral Camila Fardin GrasseliDocumento16 páginasPensamento: Psicopatologia Geral Camila Fardin GrasselirizzademoraisAinda não há avaliações
- Actualizado AroniaDocumento13 páginasActualizado AroniaIonaldo Raul100% (1)
- Deficiência FísicaDocumento37 páginasDeficiência FísicaRobert SimãoAinda não há avaliações
- Roteiro de Entrevista SemiestruturadaDocumento1 páginaRoteiro de Entrevista SemiestruturadaTainara Pimenta Silverio AugustoAinda não há avaliações
- Conselho Tutelar Estrutura e Funcionamento DigiácomoDocumento58 páginasConselho Tutelar Estrutura e Funcionamento Digiácomoluiz reey100% (1)
- Apostila Disturbios Da Aprendizagem PDFDocumento89 páginasApostila Disturbios Da Aprendizagem PDFMaria Natália NatáliaAinda não há avaliações
- Entrevista de EmpregosDocumento28 páginasEntrevista de EmpregosDelano RooseveltAinda não há avaliações
- Transtorno Neurocognitivo Maior Ou Leve Devido À DoençaDocumento22 páginasTranstorno Neurocognitivo Maior Ou Leve Devido À DoençachessjuniorcAinda não há avaliações
- 014 Universitários Autistas Considerações SobreDocumento14 páginas014 Universitários Autistas Considerações SobreSidney JuniorAinda não há avaliações
- Incapacidade Intelectual - Ficha N⺠1Documento9 páginasIncapacidade Intelectual - Ficha N⺠1nicole sorayaAinda não há avaliações
- ApostilaDocumento26 páginasApostilaRianFagner100% (1)
- Fatores Da AprendizagemDocumento2 páginasFatores Da AprendizagemDjpikelson FranciscoAinda não há avaliações
- Adaptações Curriculares para A Educação Inclusiva PDFDocumento30 páginasAdaptações Curriculares para A Educação Inclusiva PDFwiara gil alcon de souza100% (1)
- Coerência CentralDocumento271 páginasCoerência CentralMariana MendonçaAinda não há avaliações
- Avaliacao CompreensivaDocumento58 páginasAvaliacao CompreensivaDavidAinda não há avaliações
- Educação Inclusiva e As Altas Habilidades - Versão 4 DanitieleDocumento12 páginasEducação Inclusiva e As Altas Habilidades - Versão 4 DanitieleÁlaze GabrielAinda não há avaliações
- Transtorno de AprendizagemDocumento14 páginasTranstorno de AprendizagemPriscila Kaline CostaAinda não há avaliações
- Critérios de Avaliação Do Jardim de InfânciaDocumento1 páginaCritérios de Avaliação Do Jardim de Infâncialeonor nevesAinda não há avaliações
- Os Fundamentos Das Deficiencias e SindromespdfDocumento9 páginasOs Fundamentos Das Deficiencias e SindromespdfCarlos Roberto Freitas Teixeira JuniorAinda não há avaliações
- Discalculia Identificar para IntervirDocumento15 páginasDiscalculia Identificar para IntervirLuis Gustavo Castro GonzalezAinda não há avaliações
- Ficha de Sinalização - Pedido de Avaliação Especializada 2012/2013Documento9 páginasFicha de Sinalização - Pedido de Avaliação Especializada 2012/2013neevfc100% (1)
- Modelo - Artigo CientíficoDocumento4 páginasModelo - Artigo CientíficoLuis NunesAinda não há avaliações
- Formação ProfessoresDocumento12 páginasFormação ProfessoresMirian tiziamAinda não há avaliações
- Detecção e Intervenção Psicomotora em Crianças Com Transtorno Do Espectro AutistaDocumento9 páginasDetecção e Intervenção Psicomotora em Crianças Com Transtorno Do Espectro AutistaGabriel CurtoAinda não há avaliações
- PHDADocumento21 páginasPHDAtichap1Ainda não há avaliações
- ATA - CT - 5B - 1P - Versao 3Documento13 páginasATA - CT - 5B - 1P - Versao 3Margarida MotaAinda não há avaliações
- Rachel Altas HabilidadesDocumento7 páginasRachel Altas Habilidadesfabiani PedraAinda não há avaliações
- Cronograma Intervenção EducaçãoDocumento2 páginasCronograma Intervenção EducaçãoPaulaAinda não há avaliações
- Intervenção PedagógicaDocumento81 páginasIntervenção PedagógicaMateus De Oliveira Barros100% (1)
- Dislexia Sinaisdealerta PDFDocumento8 páginasDislexia Sinaisdealerta PDFAna BarretoAinda não há avaliações
- Avaliação Diagnotica para Discalculia-ArtigoDocumento6 páginasAvaliação Diagnotica para Discalculia-ArtigoFabiane LemosAinda não há avaliações
- Ficha de ReferenciaçãoDocumento2 páginasFicha de Referenciaçãosantos.jamlAinda não há avaliações
- MultideficiênciaDocumento116 páginasMultideficiênciaTania Vicente100% (1)
- Avaliação Do Caso - Mutismo SeletivoDocumento5 páginasAvaliação Do Caso - Mutismo SeletivoDiana Mf0% (1)
- Intervenções Pedagógicas em Crianças Com Transtornos de AprendizagemDocumento24 páginasIntervenções Pedagógicas em Crianças Com Transtornos de AprendizagemRonis Braga100% (1)
- 50 Perguntas e Respostas para Usar em Entrevistas de EmpregoDocumento14 páginas50 Perguntas e Respostas para Usar em Entrevistas de Empregofreddlutz765Ainda não há avaliações
- LivroAprendizagem e AdequaçõesDocumento36 páginasLivroAprendizagem e AdequaçõesTiago OnofreAinda não há avaliações
- Registo Semanal de AtividadesDocumento2 páginasRegisto Semanal de AtividadesFelicidade BatistaAinda não há avaliações
- Artigo Recente MMSE (Mini Mental)Documento9 páginasArtigo Recente MMSE (Mini Mental)Rita NoitesAinda não há avaliações
- Cartilha TDAHF PDFDocumento20 páginasCartilha TDAHF PDFMimaquino aquinoAinda não há avaliações
- Transtornos Invasivos Do Desenvolvimento - TID - Apostila 3Documento43 páginasTranstornos Invasivos Do Desenvolvimento - TID - Apostila 3Respire ArtevidaAinda não há avaliações
- Incapacidade IntelectualDocumento16 páginasIncapacidade IntelectualMarina CandeiasAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃODocumento2 páginasAVALIAÇÃOAdriana De Mello TridapalliAinda não há avaliações
- 3 Dificuldades de AprendizagemDocumento11 páginas3 Dificuldades de Aprendizagemaluisacorreia1090Ainda não há avaliações
- Ficha Medidas Seletivas - Adaptações Curriculares Não SignificativasDocumento3 páginasFicha Medidas Seletivas - Adaptações Curriculares Não SignificativasLaurite MeirinhosAinda não há avaliações
- Curso - Ed Especial - Alternativas Metodologicas Aluno Défict CognittivoDocumento80 páginasCurso - Ed Especial - Alternativas Metodologicas Aluno Défict CognittivoPatricia D'Ávila100% (1)
- Giroto, Claudia Regina Nosca. As Tecnologias Nas Praticas Educativas Inclusivas PDFDocumento235 páginasGiroto, Claudia Regina Nosca. As Tecnologias Nas Praticas Educativas Inclusivas PDFAderaldo Leite da Silva0% (1)
- A Dislexia e A Dificuldade de AprendizagemDocumento11 páginasA Dislexia e A Dificuldade de AprendizagemGiselle KorpAinda não há avaliações
- Problemas de Aprendizagem: Dificuldades Ou Transtornos?Documento35 páginasProblemas de Aprendizagem: Dificuldades Ou Transtornos?Wilson Passos GomesAinda não há avaliações
- Enfoque dinâmico sobre a paralisia cerebral: um estudo etnográfico e clínicoNo EverandEnfoque dinâmico sobre a paralisia cerebral: um estudo etnográfico e clínicoAinda não há avaliações
- Uma proposta de intervenção precoce frente às dificuldades de aprendizagem: dificuldades de aprendizagem, sinais e sintomasNo EverandUma proposta de intervenção precoce frente às dificuldades de aprendizagem: dificuldades de aprendizagem, sinais e sintomasAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro O Que É Direito (Roberto Lyra Filho)Documento3 páginasResenha Do Livro O Que É Direito (Roberto Lyra Filho)israellincolnAinda não há avaliações
- TESE COHN Relacoes de Diferenca No Brasi PDFDocumento185 páginasTESE COHN Relacoes de Diferenca No Brasi PDFMaurício CaetanoAinda não há avaliações
- As Bases Ontologicas Do Pensamento e Da Atividade Do Homem PDFDocumento10 páginasAs Bases Ontologicas Do Pensamento e Da Atividade Do Homem PDFRodrigo RoncatoAinda não há avaliações
- Texto de Apoio Historia de Africa, Jauado 2017Documento55 páginasTexto de Apoio Historia de Africa, Jauado 2017Donaldo De Mariana BitoneAinda não há avaliações
- Unipampa Teoria Sociologica Trabalho Auguste Conte Frederico Fitaroni Batista Lengruber 05.08.2020Documento8 páginasUnipampa Teoria Sociologica Trabalho Auguste Conte Frederico Fitaroni Batista Lengruber 05.08.2020Manuela BrasilAinda não há avaliações
- Fichamento de LivroDocumento6 páginasFichamento de LivroGui StiflerAinda não há avaliações
- O Indivíduo e A Cultura Como Elementos Da SociedadeDocumento4 páginasO Indivíduo e A Cultura Como Elementos Da SociedadeMagda Aline TeixeiraAinda não há avaliações
- 33 Liçoes de Peter DruckerDocumento6 páginas33 Liçoes de Peter DruckerDiego RibeiroAinda não há avaliações
- LE BRETON, D - O RISCO DELIBERADO Sobre o Sofrimento Dos AdolescentesDocumento12 páginasLE BRETON, D - O RISCO DELIBERADO Sobre o Sofrimento Dos Adolescenteschristianeomat5742Ainda não há avaliações
- OS Desafios COntemporaneos Do AconselhamentoDocumento90 páginasOS Desafios COntemporaneos Do AconselhamentoWilhan Jose GomesAinda não há avaliações
- Contrato de Sociedade AlziraDocumento8 páginasContrato de Sociedade AlziraNelio Da SilvaAinda não há avaliações
- ELIDIO Projecto FEITODocumento25 páginasELIDIO Projecto FEITOBedlino Da ConceicaoAinda não há avaliações
- ED AMBIENTAL Ebook - Livro 2 - Mod 3 e 4Documento18 páginasED AMBIENTAL Ebook - Livro 2 - Mod 3 e 4Sérvulo CostaAinda não há avaliações
- HGTP Paula BuarqueDocumento51 páginasHGTP Paula Buarqueferreiratelma055Ainda não há avaliações
- Original 29 - O Evolucionismo Antropológico Na Obra de Darcy RibeiroDocumento16 páginasOriginal 29 - O Evolucionismo Antropológico Na Obra de Darcy RibeiroTales Rabelo FreitasAinda não há avaliações
- A Antropologia Urbana No BrasilDocumento12 páginasA Antropologia Urbana No BrasilmarianaAinda não há avaliações
- Textos 5 e 6Documento26 páginasTextos 5 e 6Pedro AbbudeAinda não há avaliações
- Ética Política e SociedadeDocumento64 páginasÉtica Política e SociedadeJoão Saraiva Leão Neto100% (1)
- Patologia Educacional em MoçambiqueDocumento21 páginasPatologia Educacional em MoçambiqueVíKtorRinoCandieiroAinda não há avaliações
- Boaventura de Sousa Santos. Democracia, Direitos Humanos e GlobalizaçãoDocumento6 páginasBoaventura de Sousa Santos. Democracia, Direitos Humanos e GlobalizaçãoliraucioAinda não há avaliações
- Plano de Ensino 1 Ano EM HistóriaDocumento6 páginasPlano de Ensino 1 Ano EM HistóriaJOICE SILVA SOUZA100% (2)
- D - Fukushima, Maria Cristina WiechmannDocumento104 páginasD - Fukushima, Maria Cristina WiechmannFilho UnicoAinda não há avaliações
- Atividades e Planos para Aulas de Ciências 9° AnoDocumento30 páginasAtividades e Planos para Aulas de Ciências 9° AnoGuilherme MarquesAinda não há avaliações
- Comunitarismo e A Tese Do SocialDocumento12 páginasComunitarismo e A Tese Do SocialFernando DannerAinda não há avaliações
- Importância Da SociologiaDocumento3 páginasImportância Da SociologiaRaimundo Santana Dos Reis100% (1)
- Regionalização, Cidades e Urbanodiversidade Na Amazônia BrasileiraDocumento18 páginasRegionalização, Cidades e Urbanodiversidade Na Amazônia BrasileiraGabriel LeiteAinda não há avaliações
- Sugestões de GEOGRAFIA 3 SérieDocumento6 páginasSugestões de GEOGRAFIA 3 SérieEliane ElikaAinda não há avaliações