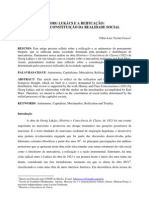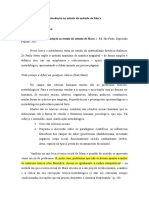Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Ontologia Histórico-Materialista No Serviço Social
A Ontologia Histórico-Materialista No Serviço Social
Enviado por
CristianoCostadeCarvalhoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Ontologia Histórico-Materialista No Serviço Social
A Ontologia Histórico-Materialista No Serviço Social
Enviado por
CristianoCostadeCarvalhoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
11/09/13
00871.html
Autores: Giovanny Simon Machado, Ricardo Lara
A ONTOLOGIA HISTRICO-MATERIALISTA NO SERVIO SOCIAL
RESUMO
O presente ensaio terico tem como objetivo apresentar
consideraes preliminares sobre a ontologia histrico-materialista e
sua influncia no Servio Social brasileiro. A frequncia da teoria
social de Marx e Lukcs na rea sustenta nossa investigao, sendo
que o pensamento marxiano-lukacsiano um dos pilares de
fundamentao terica da proposta curricular da Associao Brasileira
de Ensino e Pesquisa em Servio Social ABEPSS e do Cdigo de
tica da profisso.
Palavras-chave: Ontologia, teoria social, fundamentos.
ABSTRACT
This theoretical essay aims to present preliminary considerations on
the historical-materialist ontology and its influence on social work. The
frequency of social theory of Marx and Lukacs in the area supports our
research, and the marxian-lukacsian thought is one of the pillars of
theoretical curriculum of the Brazilian Association of Education and
Research in Social Work - ABEPSS and Professional Code of Ethics.
Keywords: Ontology, social theory, foundations.
1. INTRODUO
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
1/13
11/09/13
00871.html
A formao profissional do Servio Social expressa nas Diretrizes Curriculares da
Associao Brasileira de Ensino e Pesquisa em Servio Social ABEPSS, aprovadas em 1996,
consubstancia o processo histrico que optou conscientemente por uma direo terica e poltica
em desacordo com a tendncia dominante nas cincias sociais e reas afins. O prprio Cdigo de
tica profissional de 1993 tambm expresso tico-poltica da opo que a profisso tomou nos
ltimos anos. Escolha que em um primeiro momento pode parecer puramente poltica a
incondicional defesa da causa da classe trabalhadora , mas quando observada com mais cuidado
possui importante embasamento terico-cientfico.
O que desejamos evidenciar a essncia terica dos rumos polticos que a profisso tomou
nas ltimas dcadas, ou seja, a opo poltica, tica e tcnica-operativa do Servio Social brasileiro
tem fundamentao baseado na teoria social que reconhece a realidade a partir das suas
contradies e no ameniza esforos para o reconhecimento dos protagonistas nas lutas de
classes. Reconhecemos que a grande virada dada por nossa profisso tem influncia direta da
heterognea tradio marxista, aqui neste breve texto, buscaremos destacar elementos da teoria
social do marxista hngaro Gyrgy Lukcs.
Gyrgy Lukcs, alm de pensador influente em diversas reas do conhecimento, foi
disciplinado militante, e esteve ligado diretamente a prtica poltica, jamais desvinculando sua obra
intelectual da realidade concreta do movimento comunista. Por isso, ressaltamos a importncia do
estudo no apenas da obra marxiana-lukacsciana e o conjunto de interaes das categorias
tericas, mas para compreend-las na sua profundidade, imprescindvel o reconhecimento das
condies scio-histricas, objetivas e subjetivas, no qual se desenvolveu determinada teoria
social.
impossvel pensar Lukcs e sua obra sem, necessariamente, interlig-la com a conjuntura
temporal vivida pelo autor, ou seja, o contexto histrico poltico-econmico do seu tempo. Como
evidncia, tanto Marx quanto Lukcs, a vida social impe determinantes objetivos aos homens. So
as condies em que nascem que vo determinar o que sero, e s atravs da ao consciente e
crtica os homens sero capazes de transformar tais condies objetivas ao qual foram submetidos
desde o seu nascimento, ou seja, todo pensamento humano de alguma maneira vinculado
realidade concreta e a prtica cotidiana. Lukcs (2009, p.122) em um breve texto da dcada de
1950 disse: Foram poucas as personalidades de importncia histrica em face das quais se pode
constatar, como no caso em Marx, uma to estreita coincidncia do desenvolvimento individual e
do desenvolvimento global da sociedade.
Contudo, compreender a influncia e relevncia de Marx e Lukcs para os tempos atuais, e
mesmo para uma rea especfica como o Servio Social, implica em aprofundar-se nos complexos
da vida social de uma temporalidade determinada, pois como afirma Netto:
O valor de um complexo filosfico reside no grau de articulao que consegue estabelecer entre
a resposta que fornece s questes colocadas pela sua insero histrica num tempo e numa
sociedade determinados e a ampliao da problemtica e das solues que introduz no interior
do conjunto cultural de que, de uma forma ou de outra, herdeiro. (NETTO, 1981, p.25).
Dessa forma, desvincular a obra lukacsiana de sua temporalidade especfica, ou seja,
analis-la de forma a-histrica, nos leva a sucumbir diante de avaliaes precipitadas que exigem
solues a problemas que no estavam postos em seu tempo, cometendo, assim, uma sria
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
2/13
11/09/13
00871.html
injustia intelectual.
Ainda segundo Netto (1981, p. 25-26): O valor de um pensador radica [...] na medida em
que elabora um conhecimento do seu tempo histrico-social de modo a desvelar, no emaranhado
de fenmenos ocorrentes, o que nuclear e essencial para o ser social. Entendemos, portanto,
que avaliar a contribuio lukacsiana para as cincias da humanidade (e o Servio Social),
demanda compreender seu tempo histrico-social para que assim possamos entender o modo pelo
qual nosso pensador tratou os problemas de sua poca e como, hoje, suas contribuies so
fontes indispensveis para compreenso dos complexos da vida social.
2. O PROCESSO DE MATURAO DA ONTOLOGIA HISTRICO-MATERIALISTA
Compreendemos que o processo de amadurecimento intelectual de Lukcs , sem dvida,
marcado por diversos pontos de ruptura, de apropriaes e reelaboraes tericas, mas que aqui
iremos focar na sua ltima grande obra: Ontologia do ser social.
Lukcs sempre esteve envolto em um meio intelectual muito intenso e passou por vrias
fases intelectuais, com influncia de matrizes tericas distintas. Todas elas, marcadas pela
situao poltica mundial. sabido que os acontecimentos polticos entre os anos de sua trajetria
de vida (1885-1971), sempre tiveram grande importncia no desenvolvimento de sua obra.
No final do sculo XIX, nosso autor ainda em sua juventude intelectual, possua matriz
terica neokantiana. Frederico (1997) nos diz que, at ento na sua juventude neokantiana, sua
principal angustia era: a impossibilidade de realizao de valores vitais em um mundo degradado,
ou seja, a realizao do potencial do homem era negada pela misria humana. Nesse momento, j
havia em Lukcs, embora ainda como necessidade tica, a recusa do mundo burgus. Em um
texto de carter autobiogrfico de 1933. Intitulado Meu caminho para Marx, Lukcs afirma ter tido
seu primeiro contato com Marx ainda sob um olhar sociolgico, de base filosfica kantiana:
Foi ao terminar os meus estudos secundrios que se deu o meu primeiro encontro com Marx
(com o Manifesto Comunista). A impresso foi extraordinria e, quando estudante universitrio, li
ento algumas obras de Marx e Engels (como, por exemplo, O 18 Brumrio, A Origem da Famlia)
e, em particular, estudei a fundo o primeiro volume de O Capital. Esse estudo me convenceu
rapidamente da exatido de alguns pontos centrais do marxismo. Em primeiro lugar, fiquei
impressionado com a teoria da mais-valia, com a concepo da histria como histria da luta de
classes e com a articulao da sociedade em classes. Naquele momento, como bvio no caso
de um intelectual burgus, essa influncia se limitou economia e sobretudo sociologia.
Considerava a filosofia materialista no distinguia o materialismo dialtico do no dialtico
completamente superada, enquanto teoria do conhecimento. A tese neokantiana da imanncia
da conscincia ajustava-se perfeitamente minha posio de classe na poca; no a submetia
a qualquer exame crtico, mas aceitava-a passivamente como ponto de partida de toda e
qualquer colocao do problema gnosiolgico. (LUKCS, 1988, p. 91-92).
Segundo Netto (1981, p.39): A transio do perodo neokantiano ao pr-marxista assinala a
passagem de um estgio intelectual pr-dialtico a outro, onde a concepo de realidade como um
conjunto dotado de movimento e fluidez conduz ao abandono da preocupao metodolgica
formalista tpica da tradio kantiana [...]. O prprio Lukcs (1988) relata que o seu idealismo
subjetivo o conduziu crise filosfica, mas que essa crise, apesar de ele prprio no estar ciente
dela, foi objetivamente determinada pela manifestao mais forte das contradies imperialistas e
teve como estopim a Primeira Guerra Mundial. Afinal, tratava-se de uma guerra imperialista que
aprofundou e brutalizou a crise geral do mundo burgus.
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
3/13
11/09/13
00871.html
O contato com Hegel instrumentaliza Lukcs para uma viso dinmica da realidade
histrica. Reparemos como Lukcs descreve esse perodo de transio do seu pensamento:
O meu segundo estudo intenso de Marx comea com a minha compreenso, cada vez maior, do
carter imperialista da Guerra, com o aprofundamento dos meus estudos de Hegel [...] Os
escritos filosficos da juventude de Marx passaram a ser o ponto central do meu interesse [...]
Desta vez, porm, no se tratava de um Marx visto da lente de Simmel, mas atravs da
perspectiva hegeliana. Marx deixava de ser o eminente especialista, o economista e socilogo;
j comeava a delinear-se para mim o grande pensador, o grande dialeta. (LUKCS,1988, p.93).
A resoluo da Revoluo Russa de 1917 provoca em todo mundo diversas consequncias,
e no poderia ser diferente em Lukcs. Se antes Lukcs atravessava uma severa crise intelectual,
agora a polarizao poltica da luta de classes global tambm o compelia definir-se de maneira
mais clara. Contudo, a influncia hegeliana em nosso autor, o fez compreender o socialismo
atravs de lentes idealistas, segundo Netto:
A crise intelectual de Lukcs, se resolve, pois com a emergncia da alternativa socialista. Mas se
trata de um socialismo mais desejado do que real: Lukcs v nele, antes que o umbral da forma
de sociedade humana esclarecido por Marx, o tribunal da Histria postulado por Hegel.
(NETTO,1981, p.35).
Esse perodo de primeira adeso ao marxismo ser classificado por muitos estudiosos da obra
lukacsciana como perodo de um marxismo messinico, utopista e de apelo tico, justamente por
ausncia de uma base materialista capaz de reverter sua influncia hegeliana.
Em 1918, Lukcs adere ao Partido Comunista Hngaro. Consideramos os acontecimentos
de 1918 como um ponto de ruptura do pensamento de Lukcs, que segundo Konder (1980) foi mais
drstica que a ruptura anterior, marcando uma nova fase para o pensador hngaro, decisiva para
toda sua trajetria, ou seja, o ingresso de Lukcs no PC hngaro ir marcar os seus prximos
cinquenta e trs anos. Momento marcado como ruptura drstica e decisiva na obra de nosso autor,
mas que imediatamente no significou a assimilao mais profunda do marxismo enquanto
mtodo, j que suas matrizes filosficas anteriores continuam marcando esse perodo, mesmo
com essa caracterstica contraditria, possvel encontrar nessa fase elementos que convergem
com o Lukcs anterior.
A obra Histria e conscincia de classe escrita em 1922 por Lukcs, depois da queda do
regime revolucionrio na Hungria, um marco na vida e obra do autor, configura-se como uma obra
extremamente polmica. Mesmo tendo grandes mritos e influenciado muitos dos principais
pensadores do sculo XX[1], Histria e Conscincia de Classe foi alvo de speras crticas e seria
repudiada por Lukcs anos depois [2]. Tanto que num primeiro momento o repdio sua prpria
obra era resultado, principalmente, por presses vindas das formulaes tericas dos membros da
III Internacional, e logo em seguida, ao aprofundar seus estudos, sua autocrtica era de carter
terico, ou seja, ao longo da dcada de 1930, Lukcs romperia gradualmente com as concepes
subjetivistas de sua obra.
Em 1930, Lukcs se transfere para Moscou e vai trabalhar no Instituto Marx-Engels e tem
acesso a obras inditas que muitos intelectuais da tradio marxista no tiveram. Destacamos o
acesso aos originais dos Manuscritos econmico-filosficos. Lukcs encontra nessa obra o
subsdio necessrio para reavaliar a relao entre Hegel e Marx. Essa reviravolta terica ajudou-o a
romper com as concepes filosficas defendidas durante a dcada de 1920, as antigas ideias
sobre o sujeito-objeto nico entram em crise com a leitura dos Manuscritos econmico-filosficos.
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
4/13
11/09/13
00871.html
(FREDERICO, 1997).
Alm dos Manuscritos, Lukcs tem acesso a escritos de Lnin que iro contribuir tambm
para a correta interpretao da relao entre Marx e Hegel, como Konder afirma:
Outra poderosa impresso lhe vem da leitura dos Cadernos Filosficos de Lnin [...] O filsofo
hngaro descobre em Lnin um apoio inestimvel para sua defesa da importncia que a
herana hegeliana tem para os marxistas. Entusiasma-o a afirmao de Lnin de que
impossvel compreender plenamente O capital de Marx sem antes ter estudado a Lgica de
Hegel. (KONDER,1980, p.64).
Imerso em novos estudos que potencializaram sua compreenso sobre Marx e Hegel,
Lukcs consegue superar o espiritualismo que fez com que suas posies fossem taxadas de
hegelianas ou idealistas durante a dcada de 1920. Esse novo estudo ser basilar na obra de
Lukcs at o final de sua vida, e ter particular influncia na construo da sua compreenso
ontolgica da obra de Marx.
A correta compreenso das categorias econmicas como fundamentos para o
entendimento do ser social ser ponto fulcral no desvendamento lukacsiano das falsificaes e
engessamentos stalinistas das categorias tericas marxianas. O fenmeno stalinista entendido
de forma radicalmente diferente por Lukcs, diferente dos tradicionais e dogmticos trotskistas,
Konder afirma que:
Para Lukcs, o stalinismo no pode ser compreendido a partir da pessoa de Stlin: deve ser
caractetizado e combatido como um mtodo. E um dos traos essenciais desse mtodo a
adaptao pragmtica, cnica, da elab orao terica e estratgica s necessidades imediatas da
ttica. O stalinismo um oportunismo taticista. (KONDER, 1980, p.95).
A primeira crtica ao dogmatismo dentro do marxismo feita por Lukcs foi destinada a
Bukhrin[3], durante os anos de Histria e Conscincia de Classe. A polmica do incio dos anos de
1920 vai permanecer com Lukcs nos anos 1930, depois de sua reviso terica e pelos prximos
anos, at o fim de sua vida. desde os anos 1920 que Lukcs, incansavelmente, afirma o
necessrio combate s adoes pragmticas, dogmticas, tecnicistas das categorias marxianas,
que acabam por engessar, cristalizar e falsificar o mtodo marxista. O que Lukcs combate o
positivismo mecanicista e determinista que permaneceu encrustado na elaborao terico-poltica
dos pensadores comunistas da II e III Internacional, levando-os a srios equvocos estratgicos e
tticos. evidente a continuidade do marxismo dogmtico, de Plekhanov a Bukhrin, at o
stalinismo.
Naquele perodo existia, entre os intelectuais marxistas, um clima de esperanas
renovadoras. Porm, para Lukcs, pouco a pouco suas expectativas e projees foram se
perdendo, j que suas descobertas filosficas no puderam ser plenamente somadas ao
conhecimento humano, pois qualquer concepo que se afastasse do padro hegemnico se
chocava com uma inflexvel e opressiva resistncia. Segundo Lukcs (1988), na poca havia uma
crena de que tal dogmatismo era passageiro e que tal resistncia no era mais do que resqucios
presentes de um passado ruim, contudo, na medida em que as tendncias contrrias renovao
e o progresso do pensamento marxista se afirmavam, mais percebiam que elas recebiam um forte
apoio burocrtico. A falsa crena nessa casualidade no podia perdurar, Lukcs relembra que:
Foi necessrio reconhecer que a origem do confronto das correntes progressistas, que enriqueciam a
cultura marxista, com a opresso dogmtica de uma burocracia tirnica sobre todo pensamento
autnomo, deveria ser buscada no prprio regime de Stlin e, portanto, tambm, na sua pessoa.
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
5/13
11/09/13
00871.html
(LUKCS, 1988, p.97).
Existe uma linha de conexo dentro do pensamento marxiano que liga Plekhanov Kautsky,
Bukhrin e Stlin[4] entre outros. As linhas deformativas do pensamento original de Marx no foram,
no tempo de Lukcs, e no so ainda casuais ou meramente passageiras. Lukcs, sobretudo,
preocupava-se em oferecer tradio marxista a anlise da realidade e extrair da objetividade
social o real movimento da matria.
Para Konder:
[...] contribuir para um renascimento do marxismo. Sua ambio a de ajudar os marxistas a
aprofundarem o conhecimento da realidade atual, que eles querem transformar, porm ao
mesmo tempo o filsofo est firmemente convencido de que tal avano s possvel com a
recuperao do verdadeiro pensamento de Marx, sua essncia viva, que sofreu grandes
deformaes na elaborao tericas dos marxistas ao longo das dcadas que se seguiram
morte de Lnin. (KONDER, 1980, p.98)
Essa a obra da vida de Lukcs, o seu principal questionamento. Como todo ilustre
pensador tem um grande problema, a tarefa que Lukcs ps a si mesmo no foi pequena, o seu
desafio era o de superar anos de deformao e dogmatismo causado pelas tendncias positivistas
dentro do marxismo. Para isso, desde a dcada de 1920, Lukcs polemiza dentro do movimento
comunista, afirmando a necessidade de resgatar a herana hegeliana da dialtica marxista. A
incompreenso da importncia da herana crtica da filosofia hegeliana, fez com que Lukcs
acabasse tendendo, no ao marxismo realmente dialtico ao qual pretendia chegar, mas uma
verso idealista desse marxismo ao qual nos referimos anteriormente. com um longo processo
de estudo e pesquisa terica que Lukcs comear o projeto verdadeiro de renovao do
marxismo, de resgate de seu fundamento filosfico, combatendo uma a uma todas as deformaes
da obra de Marx, elaborando uma leitura da obra marxiana que a situa claramente dentro do campo
do conhecimento humano. quando Lukcs, j no fim da vida, ainda tem flego para elaborar a
Ontologia do ser social. Ao fundar a ontologia histrico-materialista, dentro da tradio marxista,
Lukcs [...] rompe, de vez, com a concepo espiritualista de totalidade [...] (FREDERICO, 1997,
p.27-28), que marcou sua obra na dcada de 1920.
Centrado na compreenso do processo de produo e reproduo da vida social, Lukcs
desenvolveu a perspectiva ontolgica da teoria social de Marx. Em que as categorias econmicas
utilizadas por Marx do luz para entender o processo de produo e reproduo do ser social sob
bases materialistas, como condio necessria de uma prtica social que v na direo da
emancipao humana.
3. A ONTOLOGIA HISTRICO-MATERIALISTA DE LUKCS
Lukcs (1979, p.11) sustenta firmemente que: qualquer leitor sereno de Marx no pode
deixar de notar que todos os seus enunciados concretos, se interpretados corretamente, [...] so
entendidos [...] como enunciados diretos sobre um certo tipo de ser, ou seja, so afirmaes
ontolgicas. notrio que nosso autor oferece o ponto de vista ontolgico da obra marxiana.
Contudo, Lukcs (1979) afirma que em Marx no h um tratamento especfico da ontologia. Da a
prpria caracterstica histrica do marxismo, Marx nunca utilizou o termo ontologia, mas seus
enunciados so ontolgicos, pois tratam substancialmente do ser.
Apesar de iniciar enunciando a ontologia marxiana, Lukcs comea uma elaborao do
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
6/13
11/09/13
00871.html
porque dessa ontologia, e para isso comea a arquitetar um raciocnio que fundamente sua
afirmao. Diz Lukcs (1979), que mesmo criticamente, indubitvel que a filosofia hegeliana o
ponto de partida marxiano. Segundo ele, a filosofia hegeliana:
[...] move-se dentro de uma certa unidade, determinada pela ideia de sistema, entre ontologia,
lgica e teoria do conhecimento; o conceito hegeliano de dialtica implica, no prprio momento
que pe a si mesmo, uma semelhante unificao e, inclusive, tende a fundir uma coisa com a
outra. (LUKCS, 1979, p.11).
Portanto, a inexistncia da distino esquemtica no tratamento dos problemas, sejam eles
gnosiolgicos, ticos ou ontolgicos, uma caracterstica inerente dialtica hegeliana, e o jovem
Marx em seus primeiros escritos sob influncia de Hegel, no teria qualquer condio de
conscientemente produzir uma ontologia. (LUKCS, 1979)
Apesar de destacar de maneira incisiva o ponto de partida da ontologia marxiana a partir da
filosofia clssica alem em particular a dialtica hegeliana , Lukcs no parte para essa questo
de maneira completamente abstrata, muito pelo contrrio, ele caminha para uma reconstruo
terica da apropriao crtica de Marx dessa herana terico-filosfica. Reconstruo histrica e
terica[5] imprescindvel para a plena compreenso do mtodo dialtico materialista. E que,
portanto, nos dar grande serventia para compreender efetivamente, desde sua gnese, o mtodo
marxiano de anlise da sociedade capitalista.
Da gnese do mtodo marxiano, Lukcs (1979, p.11-12) afirma: [...] tanto Marx quanto
Engels, no processo de separao consciente de Hegel, pem no centro da argumentao e de
sua polmica, e com toda razo, a oposio decisiva entre o idealismo hegeliano e o materialismo
por eles renovado [...]. O incio da superao[6] do idealismo hegeliano, assim, teve como centro, a
polmica histrica travada por Marx e Engels, entre o materialismo em processo de renovao e o
at ento hegemnico idealismo de Hegel.
Mesmo sendo essa a polmica central que de fato superou o idealismo hegeliano com
fundao da ontologia histrico-materialista, no era essa a discusso central do tempo de Marx,
mas as diversas tendncias da juventude hegeliana, cada qual reivindicando para si a superao de
Hegel[7]. Lukcs demonstra que Marx no s desempenhou o passo de apropriao crtica da
dialtica hegeliana, mas tambm desmistificou todas as concepes equivocadas de seus
adversrios da juventude hegeliana, Lukcs (1979) nos diz, inclusive, que Marx durante as grandes
tenses nos impasses com os hegelianos de esquerda (Bruno Bauer e Stirner), nunca identificou o
idealismo deles com o idealismo de Hegel.
Nesse processo presente a virada filosfica provocada por Feuerbach, para Lukcs:
No h dvida que a virada provocada por Feuerbach no processo de dissoluo da filosofia
hegeliana teve carter ontolgico; e isso porque, naquele momento, pela primeira vez na
Alemanha, foram confrontados abertamente com efeitos extensos e profundos o idealismo e
o materialismo. (LUKCS, 1979, p.12).
O passo dado por Feuerbach, apesar dos limites, foi fundamental do ponto de vista do salto
ontolgico dado na filosofia clssica alem. Porm sem dvida, a valorizao que deve ser dada a
Feuerbach advm da sintetize desse processo, ou seja, apropriao crtica realizada por Marx, o
reconhecimento dos seus limites, em cada momento, foi condio necessria para a fundao da
ontologia marxiana. Lukcs (1979) aponta a impossibilidade de conhecer com clareza se, e at que
ponto, a filosofia feuerbachiana foi determinante para a maturao da ontologia marxiana, mas
destaca que Marx j havia se posto favorvel s ideias anti-religiosas e a ontologia da natureza logo.
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
7/13
11/09/13
00871.html
O juzo de Marx sobre Feuerbach, portanto, tem um duplo carter: o reconhecimento de sua virada
ontolgica como nico ato filosfico srio desse perodo; e, ao mesmo tempo, a constatao de
seus limites, ou seja, o fato de que o materialismo alemo feuerbachiano ignora completamente
o problema da ontologia do ser social. O que no indica apenas a lucidez e a universalidade
filosficas de Marx; essa tomada de posio ilumina tambm seu primeiro desenvolvimento, o
posto central que nele assumiam os problemas ontolgicos do ser social. (LUKCS, 1979, p.13).
O essencial no assentado julgamento de Marx a respeito do materialismo feuerbachiano a
sua capacidade sinttica, de negao simultnea a apropriao dialtica. o reconhecimento da
positividade da ontologia da natureza de Feuerbach, a identificao de tendncias idealistas no que
se refere s formulaes histricas, e o redirecionamento no caminho da ontologia do ser social, da
compreenso autoconstruo do gnero humano.
A chave da crtica marxiana filosofia clssica alem e o incio da maturao da ontologia j
se encontra embrionria desde a sua Dissertao de doutoramento, isso porque Lukcs (1979)
afirma que mesmo naquele momento, em que se deparava com problemas que no estava
instrumentalizado para resolver, Marx no admitia a existncia de algum Deus e que a veracidade, o
critrio final do reconhecimento do ser ou no-ser social de um dado fenmeno s pode ser a
realidade. A grande questo que Lukcs (1979) pe a respeito disso que Marx no aceitava a
viso kantiana que desligava a necessidade da existncia do ser para sua representao
gnosiolgica, ou seja, Kant garantia autonomia s representaes ideais, um conhecimento
existente em-si independente se o conhecimento representa de fato algo na realidade. No situado
sistematicamente dentro das tendncias filosficas, Marx no admite o desligamento kantiano do
conhecimento e do ser, da representao e da realidade.
A crtica feita pelo jovem Marx a Hegel, que se gestou na dcada de quarenta no sculo XIX,
segundo Lukcs (1979), exigi uma investigao ontolgica das entidades sociais e,
simultaneamente, desconstri a investigao hegeliana embasada num esquema lgico. Essa
investigao ontolgica, que como posto, tem como critrio ltimo a realidade, tem como tendncia,
inicialmente parcial e que vai se desenvolvendo de forma cada vez mais avanada, o sentido de
compreender concretamente a formao e todas as conexes do ser social. Como gnese
compreendida filosoficamente, Lukcs (1979) afirma que o ponto inflexivo do jovem Marx ser
materializado nos seus estudos econmicos.
Pela compreenso ontolgica lukacsciana, o fundamento dessa descrio ontolgica do ser
social ter grande expresso:
[...] nos Manuscritos Econmico-Filosficos, cuja originalidade inovadora reside, no em ltimo
lugar, no fato de que, pela primeira vez na histria da filosofia, as categorias econmicas
aparecem como as categorias da produo e da reproduo da vida humana, tornando assim
possvel uma descrio ontolgica do ser social sobre bases materialistas. (LUKCS, 1979,
p.15).
Dessa forma, Lukcs resgata o verdadeiro significado do ponto de inflexo marxiano, o seu
significado ontolgico, abandonado pelo marxismo do sculo XX. A ontologia do ser social no se
limita a descrio filosfica e abstrata, mas demonstra como Marx descreve o ser social sob bases
materialistas, concretas e reais, utilizando-se das categorias econmicas, do processo de
produo e reproduo da vida social. o estudo da economia poltica que ir dar subsdio real e
concreto para Marx afirmar a explorao do homem pelo homem, afirmar a misria humana e a
alienao, que antes eram descritas de forma abstrata e difusa pelos pensadores da poca. Em
outras palavras, Marx produz uma cincia totalizante para a compreenso da sociedade moderna.
Ao afirmar tais compreenses a respeito de Marx, Lukcs (1979) no s utiliza-se do correto
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
8/13
11/09/13
00871.html
fundamento filosfico, da pesquisa terica da obra marxiana, mas tambm trata, paralelamente, de
desmistificar as deformaes do marxismo, sejam elas da intelectualidade burguesa, ou dos
prprios marxistas embebidos de inverdades a respeito de Marx. O combate s deformaes do
marxismo est muito presente na ontologia, sobre as vises distorcidas que observam Marx como
economicistas, Lukcs afirma:
[...] o fato de que a economia seja o centro da ontologia marxiana no significa, absolutamente,
que sua imagem do mundo seja fundada sobre o economicismo. (Isso surge apenas em seus
epgonos que perderam toda noo do mtodo filosfico de Marx; um fato que contribuiu bastante
para desorientar o marxismo no plano filosfico.). (LUKCS, 1979, p.15).
A economia traz o problema central para a compreenso do ser social, e que portanto,
basilar em toda ontologia marxiana, j que o entendimento do ser social perpassa por sua gnese e
desenvolvimento, pela sua produo e reproduo. Segundo Lukcs (1979), esse problema central,
faz surgir tanto na vida humana como em todos os objetos e relaes a face dbia: a primeira de
uma base material da natureza e a segunda da sua permanente transformao social.
Para compreender essa base natural ineliminvel do ser social e suas mltiplas
determinaes, bem como, sua perptua transformao, necessria uma categoria central,
Lukcs (1979) revela ento o trabalho como a categoria que realiza essa mediao necessria
entre a base natural e o processo de constituio do ser social, mediao entre o homem e a
natureza. Sobre o trabalho, Lukcs diz:
Atravs do trabalho, tem lugar uma dupla transformao. Por um lado, o prprio homem que
trabalha transformado pelo seu trabalho; ele atua sobre a natureza exterior e modifica, ao
mesmo tempo, a sua prpria natureza; [...] Por outro lado, os objetos e as foras da natureza so
transformados em meios, em objetos de trabalho, em matrias-primas, etc. (LUKCS, 1979,
p.16).
O trabalho , portanto, a categoria de mediao que Marx utiliza na compreenso entre as
diferentes esferas do ser. na transformao do ser inorgnico ao ser orgnico e posteriormente a
metamorfose mediante o trabalho que a natureza humanizada, o ser humano transformando sua
prpria natureza animalesca em ser social. Mesmo sendo agora um tipo de ser diferente, o ser
social tambm orgnico, e que por sua vez tambm possui natureza inorgnica e mineral.
O essencial em Lukcs a reconstruo filosfica do caminho trilhado por Marx. Marx
utilizou-se da economia poltica para dar concreticidade s determinaes filosficas do ser social,
para isso foi fundamental o processo de superao do idealismo hegeliano e apropriao crtica de
sua dialtica, a crtica aos jovens hegelianos, a crtica e apropriao do materialismo feuerbachiano
fundando, portanto, a ontologia histrico-materialista. Ontologia por tratar da gnese e
desenvolvimento de um determinado ser; histrica porque compreende esse mesmo ser em
perptuo movimento e transformao, ambos compreendidos de forma materialista, sendo a
realidade o ponto de partida e de chegada, o critrio de veracidade cientfica.
visvel que a tarefa histrica que Lukcs ps a si mesmo enquanto pensador foi a de
reconstruir Marx por ele mesmo, de dar vida nova a dialtica marxiana abandonada pelo marxismo
vulgar do sculo XX. No apenas de reconstruo das bases filosficas, mas tambm de
renovao, entendendo que o processo de renovao e continuao do trabalho de Marx demanda
que os marxistas abandonem as vises cristalizadas pelo dogmatismo neopositivistas encrustado
em suas formulaes filosficas. Lukcs faz duplo movimento: ao mesmo tempo em que se
empenha na renovao do marxismo, isto , a reconstruo ideal das novas determinaes
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
9/13
11/09/13
00871.html
objetivas da sociedade capitalista moderna, das quais Marx no pde analisar e descrever seu
movimento; ele tambm precisa reconstruir o mtodo marxiano na sua concepo original para
assim, dar luz a esse processo de renovao e compreenso dos novos quadros postos pela
objetividade.
Por isso, a compreenso da teoria marxiana como uma ontologia no mero capricho
lukacsiano, e sim o necessrio entendimento filosfico que busca evidenciar sua real natureza
dialtica repudiando qualquer forma de simplificao. Como Lukcs [8] afirma, o mtodo dialtico
no o mesmo tipo de mtodo utilizado pelos cientistas sociais modernos, porque Marx extraiu seu
mtodo da realidade, ao invs de aplic-lo nos fenmenos.
4. CONCLUSO
A opo feita por nossa profisso, como dito anteriormente na introduo deste artigo, no
foi fruto do acaso, e sim opo terico-poltica de ruptura com as principais tendncias
hegemnicas nas cincias sociais. A materializao desse processo de ruptura tem grande
expresso no Cdigo de tica Profissional de 1993, j que o prprio expressa o reconhecimento
desse movimento: [...] construa-se um projeto profissional, que vinculado a um projeto social
radicalmente democrtico, redimensionava-se a insero do Servio Social na vida brasileira,
compromissando-se com interesses histricos da grande massa da populao trabalhadora
(CFESS, 1993, p.02). Movimento esse que reconhecia os avanos do Cdigo de tica Profissional
de 1986 frente ao conservadorismo anterior, mas as novas determinaes histricas impunham a
necessidade de rev-lo no que tange a auxiliar a categoria no seu exerccio profissional cotidiano.
Nesse processo de reviso perceptvel a influncia marxiano-lukacsiana. Segundo o
documento, a prpria tica profissional [...] deve ter como suporte uma ontologia do ser social: os
valores so determinaes da prtica social, resultantes da atividade criadora tipificada no processo
de trabalho (CFESS, 1993, p.02). Percebemos aqui como o princpio tico da profisso, expresso
no Cdigo, possui fundamento ontolgico do ser social, de inspirao histrico-materialista, que
possui uma categoria to central para a profisso, quanto a mediao necessria que Marx e
Lukcs utilizam para compreender as determinaes especficas do ser social, o trabalho. Sobre o
trabalho o Cdigo ainda afirma: mediante o processo de trabalho que o ser social se constitui, se
instaura como distinto do ser natural, dispondo de capacidade teleolgica, projetiva, consciente;
por esta socializao que ele se pe como ser capaz de liberdade (CFESS, 1993, p.02).
Temos exposto a base do pensamento ontolgico de Marx, as distines nticas das
diferentes qualidades de ser, e as condies de transformao pela mediao do trabalho e o
apontamento da possibilidade real e concreta de outro projeto societrio: Esta concepo j
contm, em si mesma, uma projeo de sociedade - aquela em que se propicie aos trabalhadores
um pleno desenvolvimento para a inveno e vivncia de novos valores, o que, evidentemente,
supe a erradicao de todos os processos de explorao, opresso e alienao (CFESS, 1993,
p.02).
No h dvidas de que esse documento, fruto de intensos debates no interior da categoria,
profundamente influenciado pela concepo marxiana-lukacsiana. A compreenso ontolgica da
tica rompe com o moralismo cristo presente desde a gnese da profisso, na medida em que
passa a enxergar os valores de dada sociedade como produtos histricos do modo de produzir e de
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
10/13
11/09/13
00871.html
ser de um tempo, e que, portanto, a transformao valorativa da sociedade demanda mudanas
globais do modo de produo, demanda outro projeto societrio.
Embora o documento que d luz prtica profissional tenha esse teor, uma ruptura com o
conservadorismo no se faz apenas no Cdigo de tica da profisso, mas passa necessariamente
por uma mudana na formao, por isso que as Diretrizes Curriculares da ABEPSS tambm
expressa, dentre outras, essa opo poltica e terica da profisso. As Diretrizes Curriculares da
ABEPSS aprovadas em 1996 definem as linhas gerais que deve seguir um curso de graduao em
Servio Social, ou seja, apontam os contedos mnimos que o estudante deve compreender para
atuar enquanto assistente social. Tais diretrizes so divididas em trs ncleos fundamentais de
formao:
[...] o primeiro ncleo, responsvel pelo tratamento do ser social enquanto totalidade histrica,
analisa os componentes fundamentais da vida social, que sero particularizados nos dois outros
ncleos de fundamentao da formao scio-histrica da sociedade brasileira e do trabalho
profissional. Portanto, a formao profissional constitui-se de uma totalidade de conhecimentos
que esto expressos nestes trs ncleos, contextualizados historicamente e manifestos em
suas particularidades. (ABEPSS, 1996, p.08).
Percebemos o quanto a prpria formao profissional est direcionada a uma perspectiva
ontolgica, integrando a discusso da vida social sua totalidade histria e a particularidade
brasileira e latino-americana. Vejamos qual o direcionamento do primeiro Ncleo, o Ncleo de
Fundamentos Terico-metodolgicos da Vida Social:
[...] o primeiro ncleo, responsvel pelo tratamento do ser social enquanto totalidade histrica,
analisa os componentes fundamentais da vida social, que sero particularizados nos dois outros
ncleos de fundamentao da formao scio-histrica da sociedade brasileira e do trabalho
profissional. (ABEPSS, 1996, p.09).
O tratamento do ser social de maneira histrico-materialista se apresenta novamente como
necessrio e fundamental formao do assistente social. O Ncleo ainda objetiva: compreenso
do ser social, historicamente situado no processo de constituio e desenvolvimento da sociedade
burguesa, apreendida em seus elementos de continuidade e ruptura, frente a momentos anteriores
do desenvolvimento histrico (ABEPSS, 1996, p.09).
A ontologia histrico-materialista, vislumbrada por Lukcs, tem grande influncia nas
diretrizes formativas da rea e no prprio eixo de atuao profissional. A contribuio lukacsiana na
reconstruo dos fundamentos filosficos do marxismo, compreendidos como ontologia do ser
social, no se resume teoria criada para compreender limitadamente a sociedade burguesa, e
sim para compreender a vida em sociedade em todas as suas determinaes histricas
particulares.
Nessa perspectiva a economia entendida como fundamento materialista da filosofia; a
dialtica do ser social compreende o trabalho como mediao central como categoria universal
nas diversas formas de sociedade , mas que assume formas particulares. De acordo com as
Diretrizes:
O trabalho assumido como eixo central do processo de reproduo da vida social, sendo
tratado como praxis, o que implica no desenvolvimento da socialidade, da conscincia, da
universalidade e da capacidade de criar valores, escolhas e novas necessidades, e, como tal,
desenvolver a liberdade. A configurao da sociedade burguesa, nesta perspectiva, tratada em
suas especificidades quanto diviso social do trabalho, propriedade privada, diviso de
classes e do saber, em suas relaes de explorao e dominao, em suas formas de
alienao e resistncia. (ABEPSS, 1996, p.10).
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
11/13
11/09/13
00871.html
Portanto, no nos restam dvidas a respeito da importncia de Marx e Lukcs para o
Servio Social brasileiro, j que toda a essncia da profisso est embebida diretamente por essa
teoria social. imprescindvel que as pesquisas e formulaes em nossa rea procurem assumir
ao mximo o carter cientfico[9] da perspectiva ontolgica histrico-materialista. Dizer no a
cincia apologtica desvinculada da realidade social, buscar a matriz materialista que tenha a
realidade como critrio ltimo e resgatar os fundamentos mais essenciais da dialtica materialista,
enquanto mtodo extrado do prprio movimento da realidade, a tarefa posta ao Servio Social na
atual quadra histrica de crise do capital e misria ideolgica.
REFERNCIAS
ABEPSS (Associao brasileira de ensino e Pesquisa em Servio Social). Diretrizes Gerais para
o curso de Servio Social (Texto na ntegra aprovado em assemblia em novembro de 1996). Rio
de Janeiro, 1996.
BARROCO, M. L. tica e Servio Social: fundamentos ontolgicos. So Paulo: Cortez, 2001.
CFESS. Cdigo de tica do assistente social. Disponvel em: <http://www.cfess.org.br>. Acesso
em: 25 nov. 2005.
FREDERICO, C. Lukcs: um clssico do sculo XX. So Paulo: Ed. moderno, 1997. 112 p.
KONDER, L. Lukcs. Porto Alegre: L&PM, 1980.
LUKCS. Meu caminho para Marx. In: Marx Hoje: cadernos ensaio. So Paulo: Ensaio, 1988.
______. O jovem Marx e outros escritos. Carlos Nelson Coutinho e Jos Paulo Netto (orgs.). Rio
de Janeiro: Editora da UFRJ, 2007.
______. Ontologia do Ser Social: os princpios ontolgicos fundamentais de Marx. So Paulo:
Cincias Humanas, 1979a.
MARX, K. Manuscritos econmico-filosficos. So Paulo: Boitempo Editorial, 2004.
______.; ENGELS, F. A ideologia alem. 11. ed. So Paulo: Hucitec, 1999.
NETTO, J. P. Lukcs: tempo e modo. In: Lukcs, G. Sociologia. So Paulo: tica, 1981. Jos
Paulo Netto (org). (Grandes cientistas sociais, n. 20).
[1] Segundo Konder (1980, p.50-51): As observaes de Lukcs sobre a Reificao viriam a influir, de variadas
maneiras, no pensamento de diversos intelectuais importantes do nosso sculo, tais como Theodor W. Adorno, Max
Horkheimer, Herbert Marcuse, Jrge Habermas, Walter Benjamin, Alfred Schmidt, Leo Kofler, Jean-Paul Sartre,
Maurice Merleau-Ponty, Lucien Goldmann, Perry Anderson e Paul Baran, entre outros.
[2] Segundo Frederico (1997, p.14): Pressionado por todos os lados, o autor renegou o livro, que s teria outra edio
autorizada mais de quarenta anos depois, em 1967 (a edio francesa, de 1960, foi feito revelia).
[3] Konder (1980, p.56-57): Lukcs reprova em Bukhrin uma caracterstica que poucos anos mais tarde viria a
se tornar, sob Stlin, um mtodo bastante difundido na maneira dos comunistas travarem a chamada batalha
das ideias: a tendncia a simplificar excessivamente os problemas. Mas reprova, sobretudo, o vezo positivista
de supervalorizar a tcnica: elemento ideolgico perigoso, no qual Lukcs farejava (ainda abstratamente) um
possvel ponto de apoio para procedimentos manipulatrios [...] Para fundamentar sua concepo positivista da
tcnica, Bukhrin, segundo Lukcs, reduz o marxismo a uma sociologia e despreza a herana da filosofia
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
12/13
11/09/13
00871.html
clssica alem (isto , a dialtica).
[4]
Sobre a anlise lukacsiana do stalinismo Konder afirma (1980, p.95): O stalinismo, com a sua rejeio das
categorias dialticas de extrao hegeliana, no trabalhava com o conceito de mediao: reconhecia-o formalmente,
porm jamais o empregava, pois suprimia de suas anlises as mltiplas mediaes que articulam os diferentes
nveis da realidade, a fim de apresentar uma imagem deliberadamente simplificada do real e manter procedimentos
manipulatrios.
[5] Em seu ensaio O jovem Marx Sua evoluo filosfica de 1840 a 1844, Lukcs aponta a necessidade de resgatar
o caminho que Marx percorre na superao de Hegel at a fundao do materialismo histrico-dialtico: A partir dos
anos 1920, graas a publicao de importantes manuscritos, tornou-se acessvel para a pesquisa cientfica o
processo de formao do jovem Marx: apesar disso, ns, marxistas, no reexaminamos de modo aprofundado e
exaustivo o curso e as fases da evoluo de Marx, desde seu jovem hegelianosmo at a fundao do materialismo
histrico e dialtico. O que falta at hoje, sobretudo, uma minuciosa monografia na qual sejam reconstrudas as
diversas etapas da superao, pelo jovem Marx, da dialtica idealista de Hegel: esta carncia causa graves carncias
para nossa tentativa de sntese global (LUKCS, 2007, p.121). Nesse ensaio da dcada de 1950, Lukcs no
menciona a ontologia, at porque essa concepo ainda no estava amadurecida, mas j visvel sua preocupao
em retomar os fundamentos filosficos em Marx, de modo revigorar a importncia da filosofia clssica alem, ou
seja, a importncia da dialtica.
[6] Sobre o processo de Marx na superao do idealismo, Lukcs afirma: [...] a crtica revolucionria de Hegel traz
consigo inseparavelmente a superao de Feuerbach, ou seja, a extenso da crtica materialista doutrina hegeliana
da sociedade, ampliao da explicao materialista do mundo da natureza s relaes sociais, a passagem da crtica
da religio crtica da poltica, a superao da concepo antropolgica abstrata do homem prpria de Feuerbach
como fruto mais importante de todo processo a criao da dialtica materialista como metodologia e concepo do
mundo. Portanto o materialismo dialtico de Marx expressa, em relao a toda a filosofia anterior, inclusive a de seus
predecessores mais imediatos, precisamente Hegel e Feuerbach, algo qualitativamente novo; seu surgimento foi
uma verdadeira revoluo da histria da filosofia e um salto qualitativo (LUKCS, 2007, p.144).
[7] A polmica travada por Marx e Engels (2009) contra os jovens hegelianos teve grande expresso na Ideologia
Alem, em que a subsuno de todo problema poltico, jurdico ou moral em problemas religiosos era o erro central
daqueles pensadores, mas no s suas respostas aos problemas da filosofia estavam incorretas, e sim suas
prprias questes estavam mistificadas.
[8] Lukcs ir sustentar a questo mtodo calcado na afirmao de Lnin. Segundo Konder (1980), o filsofo repetiu
at o fim da vida as afirmaes de Lnin a respeito da dialtica em O Capital e da importncia de Hegel para a efetiva
compreenso para compreend-lo, Lnin diz: Mesmo que Marx no nos tenha deixado uma Lgica [...] ele nos deixou
porm a lgica de O Capital [...] (LENIN apud LUKCS, 1979, p.32).
[9] Segundo Lukcs (1979, p.27): [] Marx criou uma nova forma tanto de cientificidade quanto de ontologia; uma
forma destinada a superar no futuro a constituio profundamente problemtica, apesar de toda a riqueza dos fatos
descobertos, da cientificidade moderna.
file:///C:/Users/Cristiano Costa/Documents/ENPESS/ENPESS 2012/trabalhos/00871.html
13/13
Você também pode gostar
- Resenha Do Capítulo 9, 10 e 11 Do Livro Filosofia Da Ciência de Rubem AlvesDocumento2 páginasResenha Do Capítulo 9, 10 e 11 Do Livro Filosofia Da Ciência de Rubem AlvesGeorge Melgaço33% (6)
- O conservadorismo clássico: Elementos de caracterização e críticaNo EverandO conservadorismo clássico: Elementos de caracterização e críticaAinda não há avaliações
- Marx Engels Cultura Arte LiteraturaDocumento29 páginasMarx Engels Cultura Arte LiteraturaJamesson Buarque100% (1)
- Sociologia Contemporânea 2Documento17 páginasSociologia Contemporânea 2carmen f100% (2)
- Atividade Discursiva Disciplina Antropologia Ii PeriodoDocumento3 páginasAtividade Discursiva Disciplina Antropologia Ii PeriodoThais Pereira De SousaAinda não há avaliações
- Atividades Da Oficina de Racinio Logico 101Documento10 páginasAtividades Da Oficina de Racinio Logico 101Igor Sinder Franco0% (1)
- Aula 02 - Fichamento e ArtigoDocumento44 páginasAula 02 - Fichamento e ArtigoTaís Paranhos100% (1)
- Transcrição Da Entrevista Do Projeto Camelot Com Dr. Paul LaVioletteDocumento48 páginasTranscrição Da Entrevista Do Projeto Camelot Com Dr. Paul LaViolettelaura botelho67% (6)
- Georg Lukacs e A ReificaçãoDocumento15 páginasGeorg Lukacs e A ReificaçãoDimas NuvolariAinda não há avaliações
- Aline Ferreira e Gabriel - A Definição Marxista de MarxiDocumento12 páginasAline Ferreira e Gabriel - A Definição Marxista de MarxiAna BombassaroAinda não há avaliações
- Mezaros Conceito de DialeticaDocumento5 páginasMezaros Conceito de DialeticaAdriano LaurentinoAinda não há avaliações
- Do Ser Pelo Metodo Ao Metodo Pelo SerDocumento23 páginasDo Ser Pelo Metodo Ao Metodo Pelo SerCarla CristinaAinda não há avaliações
- Marxismo e Antropologia de György MarkusDocumento50 páginasMarxismo e Antropologia de György MarkusRicardo MendesAinda não há avaliações
- José Paulo Netto Fala Sobre 'Para Uma Ontologia Do Ser Social'Documento17 páginasJosé Paulo Netto Fala Sobre 'Para Uma Ontologia Do Ser Social'SIMONE VALENTINIAinda não há avaliações
- Lukács A Reviravolta Dos Anos 1930Documento12 páginasLukács A Reviravolta Dos Anos 1930Danielle BatistaAinda não há avaliações
- Servico Social e Tradicao Marxista Notas Sobre Teoria SociDocumento10 páginasServico Social e Tradicao Marxista Notas Sobre Teoria SociRafaela WestphalAinda não há avaliações
- Ekeys,+mesa 1777 0001+okDocumento11 páginasEkeys,+mesa 1777 0001+okLeonardo FigueiredoAinda não há avaliações
- Os Transgressores Da ReificaçãoDocumento25 páginasOs Transgressores Da ReificaçãoBruno SchiaffarinoAinda não há avaliações
- Para Além Da Obra Da Juventude de Lukács - SEM IDDocumento30 páginasPara Além Da Obra Da Juventude de Lukács - SEM IDAlvaro Martins SiqueiraAinda não há avaliações
- A Crítica de Lukács À Filosofia Heideggeriana - Wesley SousaDocumento22 páginasA Crítica de Lukács À Filosofia Heideggeriana - Wesley SousaDrive MarxismoAinda não há avaliações
- Estetica LuckasDocumento10 páginasEstetica LuckasDe la RosaAinda não há avaliações
- Reificação e ReconhecimentoDocumento22 páginasReificação e ReconhecimentoMailaAinda não há avaliações
- A Dialética Entre o Ideal e o Material PDFDocumento28 páginasA Dialética Entre o Ideal e o Material PDFprofessormenisAinda não há avaliações
- Lukács e o Fenômeno Da Reificação'Documento21 páginasLukács e o Fenômeno Da Reificação'lassoares78100% (1)
- Estudo DirigidoDocumento4 páginasEstudo DirigidoJaliana SouzaAinda não há avaliações
- FORTES, Ronaldo Vielmi - As Novas Vias Da Ontologia em György Lukács - As Bases Ontológicas Do Conhecimento Novas Edições Acadêmicas, 2013Documento315 páginasFORTES, Ronaldo Vielmi - As Novas Vias Da Ontologia em György Lukács - As Bases Ontológicas Do Conhecimento Novas Edições Acadêmicas, 2013Breno ModestoAinda não há avaliações
- APznzaa iNLbV90kJ1NNSZvEcmF5G75XDocumento19 páginasAPznzaa iNLbV90kJ1NNSZvEcmF5G75XJoão FerreiraAinda não há avaliações
- Volume 1 - Número 1 - Janeiro - Dezembro 2018Documento39 páginasVolume 1 - Número 1 - Janeiro - Dezembro 2018Lidiane OliveiraAinda não há avaliações
- Biografia Lukacs Aula Do Dia 01 de AbrilDocumento6 páginasBiografia Lukacs Aula Do Dia 01 de Abrilmarta dantasAinda não há avaliações
- A Sociologia Da Literatura de Georg LukacsDocumento10 páginasA Sociologia Da Literatura de Georg LukacsAriadna TsundokuAinda não há avaliações
- György Lukács Existencialismo Ou MarxismoDocumento113 páginasGyörgy Lukács Existencialismo Ou MarxismoDaniel Mourão100% (1)
- Lukács e o Desenvolvimento Desigual - LavraPalavraDocumento7 páginasLukács e o Desenvolvimento Desigual - LavraPalavragersunespAinda não há avaliações
- As Duas Almas de Um Livro Historia e ConDocumento11 páginasAs Duas Almas de Um Livro Historia e Conjose WelmowickiAinda não há avaliações
- Pensamento Político de MarxDocumento122 páginasPensamento Político de Marxederphn100% (1)
- Introdução Ao Estudo Do Método de MarxDocumento14 páginasIntrodução Ao Estudo Do Método de MarxXandinho LimaAinda não há avaliações
- Ética e Política - Sérgio LessaDocumento71 páginasÉtica e Política - Sérgio LessaLucas BaêtaAinda não há avaliações
- Ciencias Sociais e Produção Do ConhecimentoDocumento11 páginasCiencias Sociais e Produção Do ConhecimentoALESSANDRO RODRIGUES CHAVESAinda não há avaliações
- Cuestión Social y Trabajo Social, Un Opaco VínculoDocumento9 páginasCuestión Social y Trabajo Social, Un Opaco VínculoCARLOS ANDRÉS RENGIFO REYESAinda não há avaliações
- Para Compreender A Ontologia de LukacsDocumento146 páginasPara Compreender A Ontologia de LukacsHenrique Eduardo Guarani-kaiowáAinda não há avaliações
- A Sociologia Da Literatura de Georg Lukács 1Documento10 páginasA Sociologia Da Literatura de Georg Lukács 1tuliorossiAinda não há avaliações
- Texto 8 - Apresentação JulianaDocumento23 páginasTexto 8 - Apresentação JulianaPaula Eloise dos SantosAinda não há avaliações
- Lukács e A Sombra de StálinDocumento7 páginasLukács e A Sombra de StálinMauroCostaAssisAinda não há avaliações
- SOCIAL THEORY AND INTELLECTUAL HISTORY - RETHINKING THE FORMATION OF MODERNITY - BJORN WittrockDocumento35 páginasSOCIAL THEORY AND INTELLECTUAL HISTORY - RETHINKING THE FORMATION OF MODERNITY - BJORN WittrockMario Henrique CamposAinda não há avaliações
- 2 PBDocumento6 páginas2 PBWillian LindoAinda não há avaliações
- Sinteses Faculdade Sociologia Geral e JuridicaDocumento7 páginasSinteses Faculdade Sociologia Geral e Juridicagbritocaetano2Ainda não há avaliações
- Miolo Lukacs PDFDocumento208 páginasMiolo Lukacs PDFGiovanni Alves100% (1)
- Lks Marx-Hoje PDFDocumento72 páginasLks Marx-Hoje PDFKarla Raphaella CostaAinda não há avaliações
- Karl Marx e Materialismo Histórico VaDocumento25 páginasKarl Marx e Materialismo Histórico VaVITORIA SAMELINNYAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Do Capítulo Iii - o Marxismo Ou o Desafio Do "Principio Da Carruagem" Do Livro As Aventuras de Karl Marx Contra o Barão de Munchhausen, de Michel Löwy.Documento3 páginasResenha Crítica Do Capítulo Iii - o Marxismo Ou o Desafio Do "Principio Da Carruagem" Do Livro As Aventuras de Karl Marx Contra o Barão de Munchhausen, de Michel Löwy.kaique.sampaioAinda não há avaliações
- Trabalho Politica Formacao EEmancipacao HumanaDocumento25 páginasTrabalho Politica Formacao EEmancipacao HumanaDirce GreinAinda não há avaliações
- Trabalho Final - Sociologia de MarxDocumento14 páginasTrabalho Final - Sociologia de MarxCaio Filipe Ribeiro FreitasAinda não há avaliações
- Trayectoria de Lukacs en El MarxismoDocumento10 páginasTrayectoria de Lukacs en El MarxismoLou BordAinda não há avaliações
- LUKÁCS, György. O Romance Histórico. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2011. 440 P.Documento6 páginasLUKÁCS, György. O Romance Histórico. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2011. 440 P.Jessica NogueiraAinda não há avaliações
- História Da SociologiaDocumento9 páginasHistória Da SociologiaJoelma MatiasAinda não há avaliações
- A SOCIOLOGIA WEBERIANA - Aspectos MetodologicosDocumento13 páginasA SOCIOLOGIA WEBERIANA - Aspectos MetodologicosFranciscoWanderclersonAinda não há avaliações
- Lukács. Meu Caminho para MarxDocumento5 páginasLukács. Meu Caminho para MarxdenisAinda não há avaliações
- Serviço Social: Resistência e emancipação?No EverandServiço Social: Resistência e emancipação?Ainda não há avaliações
- Metodo CientificoDocumento5 páginasMetodo CientificoAdriano LaurentinoAinda não há avaliações
- TEXTO 1 Introdução À Filosofia de Marx I - IVDocumento28 páginasTEXTO 1 Introdução À Filosofia de Marx I - IVAloisioSousaAinda não há avaliações
- O Déficit Da Esquerda É Organizacional - José Paulo NettoDocumento9 páginasO Déficit Da Esquerda É Organizacional - José Paulo NettoLucas Ribeiro PradoAinda não há avaliações
- 08 Joao LeonardoDocumento26 páginas08 Joao LeonardoEdsonMendonçaAinda não há avaliações
- Prova Final - Fundamentos Do Serviço Social - Produção ContemporâneaDocumento8 páginasProva Final - Fundamentos Do Serviço Social - Produção ContemporâneaCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- TCC II Sistema Prisional e Direitos HumanosDocumento103 páginasTCC II Sistema Prisional e Direitos HumanosCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- TCC II Sistema Prisional e Direitos HumanosDocumento103 páginasTCC II Sistema Prisional e Direitos HumanosCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- PPC - Serviço Social - UNA - FinalDocumento185 páginasPPC - Serviço Social - UNA - FinalCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Questão Social e Serviço Social - 1 - 2018Documento5 páginasPlano de Ensino - Questão Social e Serviço Social - 1 - 2018CristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- O Movimento de ReconceituaçãoDocumento50 páginasO Movimento de ReconceituaçãoCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- Exercício - Políticas Educacionais No Brasil - FinalDocumento5 páginasExercício - Políticas Educacionais No Brasil - FinalCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- PLANO de Ensino - Movimentos Sociais e Mobilização - 2016Documento6 páginasPLANO de Ensino - Movimentos Sociais e Mobilização - 2016CristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- Aula 1 A 10 Simulados e RegistrosDocumento10 páginasAula 1 A 10 Simulados e RegistrosCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- Edital 2 2014 Prova Colegiada Servico Social UnaDocumento5 páginasEdital 2 2014 Prova Colegiada Servico Social UnaCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- A Genetica e A Teoria Da Continuidade PaleoliticaDocumento48 páginasA Genetica e A Teoria Da Continuidade Paleoliticasamu2-4u100% (1)
- 1281623265catalogo Completo WebDocumento160 páginas1281623265catalogo Completo Webjottaa20130% (1)
- Problemas Sociais Contemporâneos PDFDocumento36 páginasProblemas Sociais Contemporâneos PDFFilipe de Freitas Leal100% (5)
- MARRE, Jacques. A Construção Do Objeto Científico Na Investigação EmpíricaDocumento50 páginasMARRE, Jacques. A Construção Do Objeto Científico Na Investigação EmpíricaGabriela Schuch100% (4)
- Teoria Da Sedução PDFDocumento3 páginasTeoria Da Sedução PDFArlan PintoAinda não há avaliações
- Reflexoes Sobre o Romance Moderno RosenfeldDocumento25 páginasReflexoes Sobre o Romance Moderno RosenfeldBruna Abelin100% (1)
- MotivaçãoDocumento66 páginasMotivaçãoHélio NatesAinda não há avaliações
- Resenha Cultura e Razao PraticaDocumento0 páginaResenha Cultura e Razao PraticaFlávio CavalcanteAinda não há avaliações
- Teoria Dos Conjuntos Fuzzy Na Classificação de Áreas Críticas Do Tráfego Urbano Do Rio de JaneiroDocumento66 páginasTeoria Dos Conjuntos Fuzzy Na Classificação de Áreas Críticas Do Tráfego Urbano Do Rio de Janeirotiagoabdo100% (1)
- Ocultos G.tsebilisDocumento9 páginasOcultos G.tsebilisRenato FuriniAinda não há avaliações
- Coca Light - Usos Do Corpo, Rituais de ConsumoDocumento0 páginaCoca Light - Usos Do Corpo, Rituais de ConsumoIvan BarretoAinda não há avaliações
- Psicoterapia Breve PsicanalíticaDocumento7 páginasPsicoterapia Breve PsicanalíticaBergsonPaulinoAinda não há avaliações
- Teoria Do CurriculoDocumento66 páginasTeoria Do CurriculojordanasouzaAinda não há avaliações
- O Objetivo Da Filosofia É A VerdadeDocumento10 páginasO Objetivo Da Filosofia É A VerdadeAtanáziaLadeiroNamuzalaAinda não há avaliações
- Descartes e ModernidadeDocumento24 páginasDescartes e ModernidadeMathausSchimidtAinda não há avaliações
- 10Documento24 páginas10Sololectura KCAinda não há avaliações
- Uma Antropologia Do Político - Lorenzo MacagnoDocumento28 páginasUma Antropologia Do Político - Lorenzo MacagnoThiago TimAinda não há avaliações
- Entrevista Com Stephen Ball (Jefferson Mainardes & Maria Ines DesDocumento16 páginasEntrevista Com Stephen Ball (Jefferson Mainardes & Maria Ines DesBruno PaesAinda não há avaliações
- Correspondencia Amorosa de PessoaDocumento142 páginasCorrespondencia Amorosa de PessoaApoloBragaAinda não há avaliações
- Os Paradigmas Do Estado de DireitoDocumento20 páginasOs Paradigmas Do Estado de DireitocarlaraiolAinda não há avaliações
- Desenvolvimento RuralDocumento15 páginasDesenvolvimento RuralDario MoianeAinda não há avaliações
- Métodos e Técnicas PedagógicasDocumento204 páginasMétodos e Técnicas PedagógicasJoana Fernandes100% (3)
- CABRAL de OLIVEIRA, Joana - Entre Plantas e PalavrasDocumento282 páginasCABRAL de OLIVEIRA, Joana - Entre Plantas e PalavrasLucas De Carvalho FerreiraAinda não há avaliações
- Do Empreendedorismo A Empreendedologia - FilionDocumento13 páginasDo Empreendedorismo A Empreendedologia - FilionMarco SantosAinda não há avaliações
- ARTIGO - A Medicina Brasileira No Século XIX - Um Balanço HistoriográficoDocumento18 páginasARTIGO - A Medicina Brasileira No Século XIX - Um Balanço HistoriográficoWilliams Andrade De SouzaAinda não há avaliações
- Teoria Simplificada Da PosseDocumento9 páginasTeoria Simplificada Da Possecarla10jhsAinda não há avaliações