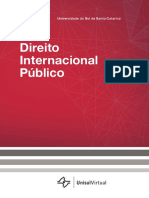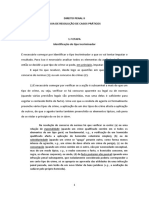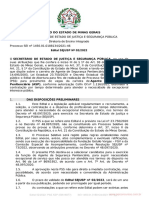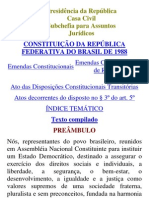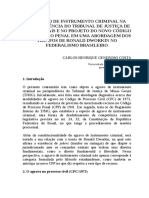Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Curso de Direito Internacional Publico
Apostila Curso de Direito Internacional Publico
Enviado por
Giresse Lima PedroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Curso de Direito Internacional Publico
Apostila Curso de Direito Internacional Publico
Enviado por
Giresse Lima PedroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CURSO DE DIREITO
APOSTILA DE DIREITO INTERNACIONAL PBLICO
( CIRCULAO RESTRITA )
PRICLES ANTUNES BARREIRA, M.S.
(pabarreira@gmail.com)
GOINIA-GOIS
PALAVRAS EXPLICATIVAS Este trabalho apenas uma compilao em forma de brochura, simples, inicialmente formulado para servir de roteiro ministrao das aulas de Direito Internacional Pblico nas Faculdades que lecionamos, posto que com elas a produo no tenha nenhum vnculo. O direcionamento segue o gosto pessoal do autor. Esta a 1 verso de 2007 que ainda mantm dados informativos que vo sendo atualizados ao longo do tempo. uma sntese e em nenhum momento dispensa a leitura dos livros constantes da Bibliografia indicada. Seu carter tem circulao restrita, em razo do j exposto. Caso seja utilizado para citaes, solicita-se que citem a autoria. Estamos cientes das limitaes e engessamentos que uma apostila traz. Por isso, alm de enfatizarmos a necessidade absoluta de consultar os autores nas bibliografias originais, juntamos o texto no final da apostila que refora tal viso. Reservamo-nos, entretanto, o direito de fazer um roteiro restrito o qual, ao servir ao professor, poder servir aos discentes. Cada vez mais, ao tempo que somos cidados locais, somos tambm cidados do mundo. Nos meios de comunicao, encontramo-nos como cidados locais, estaduais, nacionais e internacionais, a todo momento. Se a cidadania local implica em conhecer as leis e o direito interno, exercer direitos e deveres, a cidadania mundial leva necessariamente ao conhecimento do sistema normativo e do direito aplicado ao mbito internacional. A co-relao dos acontecimentos na poltica internacional, sociologia e relaes internacionais com o direito internacional enriquece este ramo do direito. Crticas, sugestes e colaboraes so bem-vindas no nosso correio eletrnico pessoal: pabarreira@gmail.com . O AUTOR.
SUMRIO CAPTULO I TEORIA GERAL DO D.I.P.
1.1. Denominao da Disciplina 1.2. Sinonmia 1.3. Formas de ver e interpretar o DIP 1.4. A Sociedade/Comunidade Internacional: Caractersticas 1.5. Noo Histrica do DIP 1.6. Definies 1.7. Classificaes 1.8. Princpios do DIP 1.9. Negadores do DIP 1.10.Fundamentos da Obrigatoriedade do DIP 1.11.Validade Formal do DIP 1.12.Validade Material do DIP
CAPTULO II FONTES DO D.I.P.
2. Fontes do DIP 2.1.Fontes Materiais 2.2.Fontes Formais 2.3.O Direito dos Tratados Internacionais
CAPTULO III OS SUJEITOS DO D.I.P.
3.1. O Estado como Sujeito do D.I.P. 3.1.1. Classificao 3.1.2. Micro-Estados 3.1.3. Reconhecimento de Estado 3.1.4. Direitos dos Estados 3.1.5. Deveres dos Estados 3.1.6. Restrio aos Direitos Fundamentais dos Estados 3.1.7. Responsabilidade Internacional dos Estados 3.1.8. rgos de Relaes Internacionais dos Estados 3.1.9. Resoluo Pacfica dos Conflitos Internacionais 3.1.10. Dimenso Pessoal do Estado 3.1.11. Da Deportao 3.1.12. Da Expulso 3.1.13. Da Extradio 3.1.14. Do Asilo 3.1.15. Dos Refugiados
3.2. As Organizaes Internacionais como Sujeitos do D.I.P. 3.2.1. A O.N.U.: rgo Principais; rgos Subsidirios; as Agncia Especializadas; 3.2.1.1. Destaque: A Organizao Internacional do Trabalho- O.I.T. 3.2.2. A O.E.A. 3.2.3. Direito Internacional de Integrao 3.2.3.1.. Os Blocos Poltico-Econmicos ( Regionalizao ou Direito de Integrao Regional ) 3.3. O Indivduo/Pessoa Humana como Sujeito do D.I.P. 3.3.1. Direito Internacional dos Direitos Humanos Histria 3.3.1. Sistema Internacional de Proteo/Promoo dos Direitos Humanos
CAPTULO IV OUTROS ATORES NO CENRIO INTERNACIONAL
4.1. As Organizaes No Governamentais Internacionais 4.1.1. As O.N.G.I. Ambientais 4.1.2. Exemplos de O.N.G.I. diversas 4.2. As Multinacionais 4.3. A Humanidade como sujeito do DIP ?
APOSTILA DE DIREITO INTERNACIONAL PBLICO Prof. PRICLES ANTUNES BARREIRA
CAPTULO I: TEORIA GERAL DO DIREITO INTERNACIONAL
1.1.Da Denominao da Disciplina Este ramo do direito tem sido chamado como Direito Internacional Pblico. Entretanto, rigorosamente, tal denominao no est correta. Qual a importncia de se discutir o nome da matria? Dentro de uma postura cientfica e considerando, ainda, que h princpios e normas que se aplicam a cada ramo do direito, seria inexato adotar um nome que no refletisse o contedo do que trata. Assim, a expresso adotada hoje, sofre contestao quanto sua exatido na lngua portuguesa e nas lnguas latinas. Em ingls, International Law, foi traduzido diretamente para as lnguas latinas como Direito Internacional. Observe-se que ao dissecar a expresso Inter-Nacional, percebe-se que ela quer dizer entre- naes. Se para o ingls Nao e Estado podem ser sinnimos, em nossa lngua no. A expresso nao no deve ser aplicada no lugar de estado. Juridicamente, um pas soberano um Estado e no uma Nao. A partir de tal explicao, ser apropriado que este ramo do direito se denominasse direito inter-estatal ou interestadual. Seria correto se o direito internacional, ao assim ser denominado, abrangesse apenas os Estados soberanos hoje. Todavia, na Sociedade/Comunidade Internacional, h outros sujeitos que figuram nesta disciplina e, por isso, mesmo sendo mais exato dizer-se direito interestatal, j no refletiria a realidade do que pretende alcanar tal direito. Por causa disso e pela tradio e comodidade a doutrina brasileira ( como, de resto, de outros pases de lngua latina ) mantiveram a expresso inexata Direito Internacional. Partindo da premissa, hoje no totalmente verdadeira, de que um Direito entre naes lida com pessoas de direito internacional pblico, a expresso pblico seria redundante, desnecessria. Acresa-se a isto que h doutrinadores que negam a existncia de um Direito Internacional Privado prprio e, assim, se no h um direito internacional privado menos ainda se necessita do termo pblico.
1.2.SINONMIAS Dentre as diversas maneiras que a doutrina nomeia a matria, alm de Direito Internacional, registram-se as seguintes: Direito das Gentes ou ius gentium ( diverso do ius gentium romano, constante de dispositivos sobre os tratados e rituais de declarao de guerra e a convivncia entre o romano (cidado) e os estrange iros ( brbaros ). Era nomeadamente um direito interno. Direito dos Povos Direito Estatal Externo Direito Internacional Pblico Direito Internacional 1.3. FORMAS DE VER E INTERPRETAR O DIREITO INTERNACIONAL PBLICO Viso Tradicional: A matria tem sido exposta no Brasil apontando a denominao, histria, definio, divises, fontes e os sujeitos. No se perquire muito o direito que deveria existir mas o direito que existe, o direito posto. No so questionadas as causas imediatas que influenciaram o surgimento da norma internacional ou as suas fontes ( direito material ) mas j se adentra na norma tal qual estabelecida, quase sempre fruto de relaes histricas injustas e desiguais dos pases que hoje se chamariam desenvolvidos e no-desenvolvidos. Viso Marxista: Parte da idias das relaes desiguais que se formaram na sociedade, sobretudo aps o advento do Capitalismo e nas relaes desiguais entre patres x empregados, explorador x explorado, detentores dos meios de produo x operrios, etc. Tem sua base na explicao econmica dessa relao desigual que vai se refletir, tambm, na relao econmico-polticas entre os pases. O direito seria conseqncia imediata dessa diviso do mundo e, portanto, o direito internacional o direito dos mais fortes contra os mais fracos e atende mais ao interesse dos ricos contra o interessa dos explorados. como se houvesse uma manipulao do direito e, enquanto conveniente, usa-se a fora pela fora e, alcanados os objetivos da dominao, constri-se um sistema normativo que valide e perpetue tal situao. Por uma viso crtica: real que o direito que est posto fruto de uma luta de interesses. No reflete a justia que se espera do Direito, nem de relaes jurdicas que considera como iguais os sujeitos. No se pode iludir que o direito colocado reflete o que seria ideal ( existe relao jurdica ideal concretizada ? ), mas no se pode fechar os olhos para o fato de que as relaes esto em evoluo e com elas, o prprio Direito. De um lado, os pases desenvolvidos querem manter os privilgios e os nodesenvolvidos ou em desenvolvimento, tentam aumentar sua participao e alcanar os privilgios dos mais favorecidos e assim tentar alcanar relaes mais justas, menos desiguais. Parte-se tambm da idia errnea de que os direitos internos dos pases so mais justos. Ser que so? real que o direito normatizado se concretiza pela intensa luta de interesses e quanto
mais desigual a relao em favor dos ricos, as normas mantero os pobres mais longe do justo. Mas a sociedade reage, a doutrina questiona, os pases pleiteiam. O direito posto no justo, mas enquanto Sistema de Normas, h um direito existente a ser estudado. Tambm, h um sistema de normas a ser criticado, questionado. Assim como no direito interno, a realidade aponta para se estudar o direito posto, para verificar se sua aplicao atende norma construda dentro da sociedade.Todavia, no se pode perder a viso crtica da aplicao do direito posto e, mais ainda, a busca pela modificao do sistema normativo no sentido de alcanar a paz com justia nas relaes internacionais. No uma tarefa de dias, mas, jurdica e politicamente, uma tarefa de geraes.
1.4. A SOCIEDADE/COMUNIDADE INTERNACIONAL Ao se estudar a noo histrica da relao entre os pases, verse- que na medida que os pases se tornaram independentes, soberanos aumentava tambm a necessidade de relaes i ternacionais continuadas, n permanentes e estabelecidas sob uma base jurdica. Para tanto, era necessrio fixar regras, normas, que disciplinassem tais relaes. O estudo do direito internacional no se faz alheio realidade das interaes jurdicopolticas entre os pases e das relaes scio-econmicas que existem. certo que o estudante de direito s vezes tem alguma resistncia em conhecer alm do que trata o Direito estabelecido ( as normas de direito internacional ) dissociando-se das relaes internacionais e da histria. Tal proceder empobrece a viso tanto do prprio direito, quanto da sociedade internacional e a torna incompleta e limita o estudante. De uma postura elitista e oligrquica dos pases europeus, onde se originaram as primeiras regras de direito internacional, caminhando para um complexo de relaes e de uma quantidade significativa de pases em comparao com o incio histrico noticiado, foi necessria a construo normativa baseada no costume e, aos poucos, sendo transformada em regras aceitas, ora costumeiras, ora escritas. Reconhece-se, hoje, a existncia no mais de uma sociedade relacional, em que os pases, por necessidade econmica, social, histrica e, quase sempre, devido a defesa de interesses egosticos e disputas blicas, encontravam-se pontualmente, eventualmente, mas de uma sociedade internacional cujas relaes so constantes, contnuas, permanentes, intensas, baseadas em regras escritas e costumeiras, permeada por representaes diplomticas, pela diplomacia parlamentar e um aparato normativo substancial. H quem diferencie a sociedade internacional ( emergente do Tratado de Vestflia e centrada no Estado da soberania absoluto de Bodin ) da comunidade internacional, esta em concretizao, formada voluntariamente e espontaneamente e baseada em valores tais que a paz e a justia internacionais, com respeito aos direitos humanos e longe dos desejos egocntricos e do poder a todo custo dos Governos. Na m dia, alguns livros de DIP utiliza-se indistintamente a expresso Sociedade Internacional e Comunidade Internacional e fala-se num ente capaz de sentir e expressar-se ( Opinio da Comunidade Internacional; a Comunidade Internacional pensa isto ou aquilo;A
Comunidade internacional condenou; questionou; etc. ). Nem sempre tal expresso reflexo mesmo desta comunidade, mas da manipulao da informao, visando influenciar, modificar, chamar a ateno, pelos grupos que detm o poder e a mdia. A viso crtica deve visualizar mais adiante, para no ser induzida a perder a perspectiva real do que ocorre. 1.4.1. CARACTERSTICAS DA SOCIEDADE INTERNACIONAL A produo das normas dentro do direito interno nos diversos Estados que compem a Sociedade Internacional, principalmente nos Estados Ocidentais, quer de origem romanstica, quer no sistema do commom law, obedece, em geral, uma padro centralizado, em que as instituies que compe o poder do pas, classicamente denominado tripartio do poder, tm um papel bem definido. Assim que se tem o Poder Executivo ( Presidente, Rei, Primeiro Ministro, etc.), o Poder Legislativo ( uni-cameral ou bi-cameral, o Parlamento ) e o Judicirio ( onde se diz o direito ). Fala-se, por isto, que um sistema centralizado. O reconhecimento histrico desta situao, informa que houve um caminhar histrico rumo a tal Sistema Normativo nos pases. Ora por meios pacficos, ora por meios violentos, tal resultou numa certa homogeneidade nos pases ocidentais, em primeiro lugar e, evolutivamente, pode-se dizer na maioria dos pases pertencentes Sociedade Internacional. Na Sociedade Internacional, partindo-se da produo normativa baseada em grande parte no Costume Internacional e na Codificao parcial alcanada at hoje atravs dos Tratados, real que esta Sociedade estruturou-se de forma diversa das Sociedades Nacionais, internas. Por isso, diz-se que a Sociedade/Comunidade Internacional tem certas caractersticas que a diferenciam do direito interno dos Estados. So as seguintes caractersticas da Sociedade Internacional: 1.4.1.1. DESCENTRALIZADA : No h um centro de poder de onde parte a Administrao mundial, nem a produo de normas. No h um parlamento permanente, com uma Constituio ou um Tratado que lhe fixe as regras e lhes d legitimidade. Os vrios sujeitos, especialmente os Estados e as Organizaes Internacionais, em consenso, fixam as regras jurdicas. No se antev um Poder Executivo, tais quais se percebe nos Direitos internos dos pases. 1.2.12. NO TEM UM PODER JUDICIRIO. Tal afirmativa est a sofrer algumas modificaes relevantes. Mesmo assim, o Tribunal Internacional de Justia no julga qualquer causa e, ainda assim, apenas referente a Estados que estejam vinculados ONU. Os juzes representam as macro-regies em que o mundo est dividido. A jurisdio do Tribunal no obrigatria para auem no a aceita. 1.4.1.3. NO TEM UM LEGISLADOR CENTRAL. De fato, no se concebe um parlamento mundial, eleito pelos pases com alguma forma de representao, que discutisse e votasse leis internacionais. A produo normativa est adstrita principalmente aos Tratados Internacionais de carter normativo. Como regra, obriga-se ao Tratado quem o ratificou o aderiu posteriormente. Em muitos casos, h a formulao de reservas que exclui certas obrigaes. Por isso, no se fala em lei internacional no sentido de uma norma produzida a partir de um parlamento. Ressalte-se ainda que
certas regras so jus non scriputum, ou seja, formadas a partir de um Costume Internacional geralmente aceito.. Tambm admite-se fontes formais a partir dos Princpios Gerais do Direito. So peculiaridades que regem o aspecto jurdico da Sociedade Internacional. 1.4.1.4. NO TEM UMA FORA POLICIAL INTERNACIONAL No h uma polcia judiciria internacional. A possibilidade do uso da fora, em razo de alguma desobedincia deciso do T.I.J. possvel, contudo, nunca foi usada. Associado a isto est o fato de que o uso da fora somente pode ser autorizado pelo Conselho de Segurana que arrebanhar dentre os Estados- membros as foras para manter a paz e a segurana internacionais, no tendo uma aplicao como polcia judiciria. No mesmo sentido, os capacetes azuis agem sob mandato especfico, na manuteno de uma paz provisria ( trgua ) ou a pedido do pas solicitante. Est distante de ser uma fora policial tal qual as polcias pblicas dos Estados. 1.4.1.5. BASEIA-SE NUMA RELAO HORIZONTAL E DE COORDENAO. Partindo-se da idia da igualdade soberana dos Estados, as relaes Estaduais se do num nvel de Coordenao, tendo a ONU exercido este papel coordenador. No uma relao de subordinao, nem hierarquizada. Na Assemblia Geral, alis, cada pas um voto, a refletir a igualdade soberana. A ONU no impe condutas, apenas coordena o que os Estados decidem no seio da Organizao. 1.4.1.6. BASEIA-SE NA IGUALDADE JURDICA DOS ESTADOS. A igualdade jurdica tem o mesmo sentido da frase aplicada nas relaes civis e penais: todos so iguais perante a lei. Tal igualdade parte originalmente da idia de que cada pas soberano e, portanto, todos so iguais quanto independncia e soberania. O status jurdico decorrente extamente a igualdade jurdicana Ordem Internacional. E, assim como nos Direitos internos, a igualdade jurdica no siignifica nem igualdade de poder, nem uma igualdade scio-econmica, na Sociedade Internacional no decorre que a iguldade jurdica signifique igualdade de poder. 1.4.1.7. PERMANNCIA DAS RELAES INTERNACIONAIS. O Aumento significativo no intercmbio de mercadorias entre s pessoas, que extrapola os limites fsicos das fronteiras dos Estados, unindo produtor e distribuidor. Tal uma constatao da permanncia das relaes entre os membros da Sociedade Internacional.
10
1.5. N O O H I S T R I C A DO D.I.P. 1 Introduo a)- As mudanas no so bruscas b)- um dos ramos do direito que tem mais evoludo c)- Diz-se que at os fins sc. XIX ele era bidimensional, pois versava basicamente sobre a terra e o mar, tornando-se tridimensional a partir do incio do sc.XX. Perodos Histricos 1 Perodo: DA ANTIGUIDADE AT O CONGRESSO DE VESTFLIA At a Idade Mdia, no existiam os Estados. Realidades histricas: 3 Poderes que se opunham: Roma e seu Imprio ( Advento do Cristianismo ); Hegemonia Papal ( Reforma ); Fim do Feudalismo ( processo unificador do reino, concentrao do poder no Rei ). Desenvolvimento do Comrcio Martimo e Leis e Costumes Martimos ( Novas regras do D.I. ): 1)- As Leis de Rhodes sc- VII 2)- Consolato del Mare Elaborado em Barcelona- meados do sc. XIV 3)- Liga das Cidades Comerciais para a proteo do Comrcio e dos cidados Liga Hansetica. TRATADO DE VESTFLIA DE 24 DE OUTUBRO DE 1648 Ps fim guerra dos 30 anos ( 1618-1648 ) Conseqncias: 1)- Princpio do Equilbrio Europeu ( Pela primeira vez, os Estados europeus reuniram-se para deliberar ) 2)- Princpio da Igualdade Jurdica dos Estados 3)- Primeiros Ensaios de uma Regulamentao Internacional positiva. 4)- O Tratado acolheu muitos dos ensinamentos de Hugo Grcio, surgindo da o DIREITO INTERNACIONAL tal como se conhece hoje. Marca o fim de um perodo e o incio de outro. 2 Perodo: DO CONGRESSO DE VESTFLIA AO CONGRESSO DE VIENA Sculo XV e XVI: Os Descobrimentos ( Portugal e Espanha ) J havia na Europa vrios Estados independentes. Pais do D.I.: FRANCISCO DE VITRIA ( 1480-1456 ) Fundador da Cincia do DI. Professor de teologia em Salamanca ( 3 universidade da Europa em antiguidade ) Jus inter gentes: regido por um direito natural acima da vontade individual dos Estados independentes. Outros: Domingo Soto, Fernando Vazques Menchaca, Baltazar de Ayala.
1
Para a diviso histrica proposta, parte-se da proposta de ACCIOLY, H. E SILVA, G.E. Manual de DIP. H acrscimo s e notas feitas pelo autor.
10
11
FRANCISCO SUREZ ( Jesuta de Granada ) Lecionou em Coimbra ( 1549-1617 ) Conceito de uma Comunidade Universal supra-Estadual. HUGO GRCIO ( 1583-1645 ) Fundador e sistematizador do DI ( o caso de Gentille) Jurista, Filsofo, Telogo, Msico, Poeta, Historiador. OBRAS: Mare Liberum ( 1609 ) parte da obra DE JURE PREADAE)- 22 anos. Companhia Holandesa das ndias Orientais. Obra prima: DE JURE BELLI AC PACIS 1625 G.I. Tunkin: S Hugo Grcio tornou o DI numa cincia jurdica independente Emancipou o DI da doutrina puramente teolgica Outros: Richard Zouch, Samuel Puffendorf, John Selden, Serafim de Freitas ( Portugus: De Justo Imperio Lusitanorum Asitico ). Sc. XVIII Internacionalistas mais famosos: Corneliu van Bynkershoek, Christian de Wolff, J.J. Burlamaqui, Emerich Vatel, G.F. von Martens. Fim do sculo trouxe a Revoluo Francesa e o 2 Congresso europeu. CONGRESSO DE VIENA ( 1815 )/ CONVENO DE VIENA Participantes: Frana, Gr-Bretanha, ustria, Alemanha, Rssia, Sucie e Portugal. No se limitou apenas a consagrar a queda de Napoleo e estabelecer uma nova ordem poltica na europa. Teve um esprito conservador Conseqncias: 1)- Princpio da Proibio do Trfico de Escravos 2)- Princpio da Liberdade de Navegao em certos rios internacionais ( Reno, Mosa, Escalda, etc. ) 3)- Neutralidade Perptua da Sua ( Aderiu ONU em 20/09/2002 ) 4)- Surgimento da Doutrina Monroe Doutrina Monroe James Monroe enviou uma mensagem em 02/12/1823 ao Congresso dos EUA. 1)- O Continente Americano no pode ser sujeito no futuro a ocupao por parte de nenhuma potncia europia; 2)- inadmissvel a interveno de potncias europias nos negcios internos ou externos de qualquer pas americano. 3)- os EUA no intervir nos negcios pertinentes a qualquer pas europeu. 5)- Classificao para os Agentes Diplomticos 3 Perodo: DO CONGRESSO DE VIENA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL Meados do Sculo XIX, fatos favorv eis ao progresso do DIP: CONGRESSO DE PARIS DE 1856 Normas relativas Guerra no Mar Aboliu o corso 1 CONVENO DA CRUZ VERMELHA ( 1864 ) Decidiu sobre a sorte dos militares feridos e doentes na guerra terrestre. DECLARAO DE GENEBRA DE 1868 contra o uso de projteis explosivos e inflamveis e contra o uso de drogas asfixiantes. 1 Conferncia Internacional dos Pases Americanos ( Washington, outubro de 1889 a abril de 1890 ). 1 Conferncia de Paz de Haia em 1899
11
12
Criao da Corte Permanente de Arbitragem de Haia visando a soluo pacfica dos Litgios Internacionais. 4 Perodo: O D.I. NO SCULO XX. O D.I. no sculo XX atingiu seu pleno desenvolvimento.(?) Marcos: 1906- Fauchille submeteu um relatrio sobre os aspectos legais das aeronaves ( Tridimensional ) Criao do Instituto de Direito Internacional As Conferncias Internacionais Americanas ( Mxico-1901-1902, Rio de Janeiro-1906 -, Buenos Aires 1910- Santiago do Chile- 1923 Havana 1928 Outras ) 1907 2 Conferncia de Paz de Haia 44 pases inclusive da Amrica do Sul. Conferncia Naval de Londres ( Dezembro de 1908 a fevereiro de 1909 ) Conferncia de Paz de Paris ( 1919 ) Criao da Liga das Naes ( ou S.D.N. ) Criao da Corte Permanente de Justia Internacional Pacto Briand-Kellog de proscrio da Guerra. 1 Conferncia para a Codificao do DI ( HAIA ) 1930. Criao da ONU e de inmeras Organizaes Internacionais Carta de S.Francisco de 26/6/1946 . Registro Especial: A Conferncia de Breton Woods ( Banco Mundial e outros ) Criao da Comisso de Direito Internacional C.D.I.- ( 1947 ) Resultados - Salto no DI: Conveno de Genebra sobre o Direito do Mar 1961- Convenes : 1961 Relaes Diplomticas 1963 Relaes Consulares 1969 Direito dos Tratados 1975 Representao dos estados com as OI de carter universal 1982 Conveno da ONU sobre o Direito do Mar de Montego Bay 1983 Sucesso dos Estados em Matria de Tratados 1985 Direito dos Tratados entre Estados e OI ou entre OI X OI. Aps 2 Guerra: Alm do Tridimens ional. Espao ultraterrestre, lua, corpos celestes.
12
13
1.6. DEFINIES DO D.I.P. 1.6.1. PREMBULO a)- PRESSUPOSTOS PARA A EXISTNCIA DO DIP 2 : 1)- Pluralidade de Estados soberanos Regula as relaes entre Estados com autodeterminao, ou seja, estados soberanos. Sem que houvesse ao menos alguns poucos Estados, no haveria necessidade de se ter um direito regulando essas relaes. 2)- Comrcio Internacional A existncia de relaes de comrcio provoca imediatamente o aparecimento de normas para regul-la. O comrcio foi o grande motivador para as viagens, a busca de novos mercados e ampliao dos j existentes. Tal fenmeno contnuo, como se v, hoje, com a globalizao. c)- Princpios Jurdicos Coincidentes. Se no existissem valores comuns no poderia haver o DIP. Reconhece-se que h uma base comum que se poderia chamar de Princpios Gerais do Direito, a qual possibilita tal convergncia.
B)- CONTRADIES: a)- a soberania e a necessidade de cooperao : especialmente quando se defendia solenemente a chamada soberania absoluta ou a exacerbao da soberania, em que se achava que a soberania quer dizer independncia absoluta e isolamento de quaisquer relaes com outros pases. Entretanto, sem abdicar da soberania, as interaes so necessrias, a cooperao requerida entre as naes. Do ponto de vista do mercado, alis, h que se ter para quem vender; do ponto de vista da convivncia, todos os pases tem algo a dar e receber.
2
Guggenheim, Paul. P. 68.
13
14
b)- O DIP procura a paz e a segurana, mas existem as exigncias revolucionrias nacionais; hoje se reconhece o direito revolucionrio dos pases se libertarem das colnias, das dominaes indevidas por outra potncia. No passado, quando existiam muitas colnias, a luta revolucionria foi reconhecida como legtima, mesmo com o uso da fora. c)- A soberania e a igualdade dos Estados e, por outro lado, o enorme poder dos grandes. Mesmo quando se reconhece a soberania e a igualdade jurdica dos Estados, notria o enorme abismo entre ricos ( desenvolvidos ), remediados (em vias de desenvolvimento ou em desenvolvimento ) e os pobres ( sub-desenvolvidos ). Assim como no direito interno, a igualdade perante a lei, ou a igualdade jurdica, no resolve as diferenas econmico-sociais entre os pases. 1.6.2. DEFINIES A influncia conforme a viso dos autores: Conjunto de regras e princpios que regem as relaes jurdicas entre Estados ( Posio clssica-positivista ) um sistema de princpios e normas que regulam as relaes de coexistncia e de cooperao, frequentemente institucionalizadas, alm de certas relaes comunitrias entre Estados, dotados de diferentes graus de desenvolvimentos socioeconmico e de poder ( Dez de Velasco ) o conjunto de regras que regem as relaes entre os Estados ( Ren-Jean Dupuy ) o conjuto de normas jurdicas que regulam as relaes mtuas dos Estados e, subsidiariamente, as das demais pessoas internacionais, como determinadas Organizaes, e dos indivduos ( Hildebrando Accioly ) Conjunto de regras que governam as relaes dos homens pertencentes aos vrios grupos nacionais ( Nicolas Politis ) Conjunto de regras que regem as relaes jurdicas entre homem pertencentes a grupos polticos diferentes Conjunto de regras e princpios que regem as relaes jurdicas dos Estado e de outras entidades internacionais personificadas, entre si e com os Estados Conjunto de regras e princpios que regem as relaes jurdicas internacionais, tanto dos Estados ou outras entidades anlogas, quanto dos homens Conjunto de regras e princpios que regem as relaes jurdicas entre pessoas internacionais
14
15
o conjunto de regras e de instituies jurdicas que regem a sociedade internacional e que visam a estabelecer a paz e a justia e a promover o desenvolvimento ( Jean Tuscoz ). Ramo do Direito Pblico que regula as normas convencionais, pactos e costumes jurdicos, visa o ordenamento atravs de acordo realizado por Estados independentes ( Miguel Reale) o ramo do direito chamado a regular as relaes entre Estados soberanos e organismos assimilados (Belfort de Matos) o complexo de normas e princpos que trata da relao entre Estados, pessoas estrangeiras, pessoas fsicas e jurdicas, de cada Estado. ( Chaumont )3 Uma construo no terminada e mutvel, tendo em vista o seu desenvolvimento em virtude da sua aplicao a novos espaos por novos sujeitos de direito e sua codificao. ( Bedjaoui ) 4 O D.I.P. um ramo autnomo do direito que disciplina as relaes entre Estados, as Organizaes Internacionais dotadas de personalidade jurdica e subsidiariamente os direitos do homem exercodps pr omter,[edop dps Estados, ou, em algumas ocasies, diretamente oponveis O Direito Internacional Pblico disciplina a relao entre Estados que se aproximam, que por vezes se unem para eliminar fcronteiras e facilitar o intercmbio de mercadorias e servios, buscando semelhanas e afinidades culturais, idiomtica e religiosa O Direito Internacional se reduz s relaes dos Estados e o produto da vontade destes mesmos Estados ( Bourquin ) 5 o conjunto de regras e de instituies jurdicas que regem a sociedade internacional e que visam estabelecer a paz e a justia e a promover o desenvolvimento ( Jean Touscoz ). Das vrias definies, o que se deve observar: 1)- Abrange os sujeitos do Direito Internacional hoje aceitos? As fontes do direito so referenciadas? 3)- Reflete no s o ordenamento, mas o Direito como um todo? Destas reflexes pode-se fazer uma crtica a cada definio.
1.7. CLASSIFICAES DO DIREITO INTERNACIONAL a)- Quanto ao objeto: Direito da Paz e da Guerra clssica. Hoje em dia a Guerra no vista como algo inevitvel e tambm no vista como instituto dotado de normalidade. A paz a regra, a guerra a exceo. Assim, desejvel ( e juridicamente correto ) que a paz preceda guerra.
Apud MELLO, Celso D. Albuquerque. Direito Internacional Pblico. 12 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 4 Apud Mello, Celso D. Albuquerque . Op. Cit. P. 74. 5 Apud MELLO, Celso D. Albuquerque. Op. Cit. P. 67.
15
16
No mesmo sentido, h quem o denomine, quanto ao objeto, como Direito da Paz e dos Conflitos Armados. 6 b)- Quanto abrangncia Direito Internacional Pblico Geral ou Comum. Direito Internacional Pblico Geral ou Comum: Diz respeito sociedade internacional como um todo ou refere-se s regras que valem para toda a sociedade internacional. Tomando-se como exemplo um tratado internacional, este referir-se- a uma regra dirigida a todos os pases. Direito Internacional Pblico-Particular: refere-se s regras estabelecidas entre dois ou poucos pases, num intuito de regular as relaes especficas entre eles, contudo, no se aplicam Sociedade Internacional como um todo. c)- Ramos ( ou sub-ramos: se o DIP um ramo do direito, suas subdivises sero um sub-ramo ). 1)-RAMOS ANTIGOS: Direito Internacional do Mar ( s vezes apenas chamado Direito do Mar ); Direito e Costumes da Guerra e da Neutralidade. 2)- RAMOS MAIS RECENTES: Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH); Direito Administrativo Internacional; Direito das Organizaes Internacionais; Direito Internacional do Meio Ambiente; Direito Comercial ( ou do Comrcio ) Internacional; Direito Econmico Internacional; Direito Diplomtico; Direito Consular; etc.
1.8. PRINCPIOS QUE ORIENTAM O D.I.P. As Naes Unidas, pela Resoluo 2625 (XXV) de 24 de outubro de l970, aprovou a Declarao sobre os Princpios de Direito Internacional Referentes Relaes Amistosas e a Cooperao entre os Estados de Conformidade com a Carta das Naes Unidas. Neste campo, tal procedimento tem um valor relativo, pois gerado dentro da principal Organizao Internacional de carter universal atualmente existente. Contudo, no se pode apegar s mesmas como sendo algo consagrado e aceito por todos os membros da Sociedade Internacional, muito menos ser algo consagrado no Sistema Normativo Internacional ou no Direito aceito. Observar que muito dos Princpios listados, falam de um direito desejvel, buscado, no propriamente o que aplicado. Em tal Resoluo da ONU, os Estados firmaram os seguintes Princpios, aqui apontados de forma livre: 1)-O PRINCPIO QUE OS ESTADOS, EM SUAS RELAES INTERNACIONAIS, SE ABSTERO DE RECORRER AMEAA OU AO USO DA FORA CONTRA A INTEGRIDADE TERRITORIAL OU A INDEPENDNCIA POLTICA DE QUALQUER ESTADO, OU EM QUALQUER OUTRA FORMA INCOMPATVEIS COM OS PROPSITOS DAS NAES UNIDAS. 2)-O PRINCPIO DE QUE OS ESTADOS RESOLVERO SUAS CONTROVRSIAS INTERNACIONAIS POR MEIOS PACFICOS
6
MELLO, Celso D. Albuquerque. Op. Cit. P. 71.
16
17
DE TAL MANEIRA QUE NO SE PONHA EM PERIGO NEM A PAZ NEM A SEGURANA INTERNACIONAL NEM A JUSTIA. 3)-O PRINCPIO RELATIVO A OBRIGAO DE NO INTERVIR NOS ASSUNTOS QUE SO DE JURISDIO INTERNA DOS ESTADOS, DE CONFORMIDADE COM A CARTA. 4)- O PRINCPIO DA OBRIGAO DOS ESTADOS DE COOPERAR ENTRE SI DE CONFORMIDADE COM A CARTA. 5)- O PRINCPIO DA IGUALDADE SOBERANA DOS ESTADOS. 5)-O PRINCPIO DA IGUALDADE DE DIREITOS E A LIVRE DETERMINAO DOS POVOS. 6)- O PRINCPIO DE QUE OS ESTADOS CUMPRIRO DE BOA F AS OBRIGAES CONTRADAS POR ELES DE CONFORMIDADE COM A CARTA. Outra classificao dos Princpios do D.I.P.: 1Responsabilidade Coletiva; 2- Cumprimento das Obrigaes Internacionais; 3-Efetividade; 4-Reciprocidade; 5-Coordenao;6- Relatividade A Constituio Federal de l988 em seu artigo 4, ainda que se refira a uma postura unilateral do Brasil e ao mbito de sua jurisdio interna, posiciona-se da seguinte maneira: A Repblica Federativa do Brasil rege-se nas suas relaes internacionais pelos seguintes princpios: independncia nacional; prevalncia dos direitos humanos; autodeterminao dos povos; no- interveno; igualdade entre os Estados; defesa da paz; soluo pacfica dos conflitos; repdio ao terrorismo e ao racismo; cooperao entre os povos para o progresso da humanidade; concesso do asilo poltico. Pargrafo nico: A Repblica Federativa do Brasil buscar a integrao econmica, poltica, social e cultural dos povos da Amrica Latina, visando a formao de uma comunidade latino-americana de naes.7 H que se considerar que a origem dos Princpios internacionais decorrentes da Resoluo da ONU, enquanto fonte, originam-se de uma Fonte Formal que ser estudada, a Resoluo das Organizaes Internacionais. Reparar ainda que so aplicadas aos Estados, o que as torna restritas em relao aos demais sujeitos do DIP.
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil. 29 ed. So Paulo: Saraiva, 2002.
17
18
1.9. PBLICO
NEGADORES DO DIREITO INTERNACIONAL
Autores: Espinosa, Lasson e Lundstedt ( Para este, falta coercibilidade ao sistema jurdico internacional ). 1. No h lei internacional que regule os direitos e obrigaes. Onde no h cdigo, no h direito; 2. No h juiz ou Tribunal que julgue os Estados. A regra que no encontra sano numa sentena judiciria ineficaz, como se no existisse. 3. No h fora pblica organizada para fazer respeitar o Direito Internacional. 4. O Estado a forma mais elevada de vida social. 5. Os Estados vivem para satisfazer suas necessidades. Assim, qualquer avena internacional que contrarie seus interesses internos pode ser desrespeitado. Refutao: 1. No se pode confundir o Direito com a lei. 2. A ausncia de poder coativo no implica a ausncia de um direito. 3. Existe uma sociedade internacional porque existem relaes contnuas entre as diversas coletividades. 4. O DIP um direito originrio ( no se fundamenta em outro ordenamento positivo ). Tem pouco nmero de membros.
1.10. FUNDAMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL( Fundamento da Obrigatoriedade do Direito Internacional ) 1.10.1. ESCOLA VOLUNTARISTA Tal escola tambm chamada de positivista. A viso bsica que A raiz da sociedade internacional a vontade de se associar 1.10.1.1. Autolimitao Jellinek Vontade metafsica do Estado. Limitao ao poder absoluto. O Estado no direito interno, quando outorga a Constituio aos seus sditos, submete-se aos direitos individuais, princpio de separao de poderes, da no retroatividade das leis. No DI ocorre a autolimitao nos tratados. 1.10.1.2.Vontade comum ( Triepel ). A vontade de um Estado no pode ser o fundamento, nem as leis concorrentes dos Estados. S as vontades de um certo nmero de Estados, juntadas numa unidade volitiva podem constituir o fundamento do D.I. Outro autor afirma que: O Estado no pode submeter-se a newnhuma outra vontade que no a sua prpria (
18
19
p. 16). No mesmo sentido: No apenas um Estado externaria sua vontade, uma uma coletividade deles a vontade livre, desimpedida e soberana ( p. 17 ). O Brasil voluntarista ( art. 5, 4, C.F./88 ), embora haja autgores que o colocam como monistas moderados. Prevalece a primeira afirmativa, ao observar o sistema constitucional brasileiro. 1.10.1.3. Teoria do Consentimento das Naes A diferena para a anterior, ainda que baseada na coletividade, funda-se no na unanimidade, mas a manifestao de vont ade, exercida de maneira livre e desimpedida de qualquer vcio que possa turvar sua limpidez por parte da maioria dos Estados. ( p. 17 )
1.10.2. ESCOLA ANTI-VOLUNTARISTA Teoria Pura ou Objetiva do Direito: As normas encontram seu fundamento na que lhe imediatamente superior. Todo ordenamento jurdico depende da norma-base que lhe d sustentao. Assim, no Direito Interno, cada norma inferior encontra seu fundamento na superior, at chegar norma maior, a Constituio. No Direito Internacional ( visto como superior ao interno, por ter nele o fundamento de todas as normas ), haveria uma norma superior a todas que, inicialmente, seria o PACTA SUNT SERVANDA. (GRUNDNORM). Depois, propugnou-se pelo DIREITO NATURAL. Outros dizem que um postulado, que foge dogmtica jurdica, tornando-se um problema filosfico e no propriamente jurdiconormativo. Hans Kelsen: norma hipottica fundamental Grundnorm. Anzilotti ( Escola Italiana ): A norma-base o pacta sunt servanda 1.11.VALIDADE FORMAL DIREITO INTERNO X DIREITO INTERNACIONAL 1.11.1. AS ESCOLAS DUALISTAS E MONISTAS 1.11.1.1. ESCOLA DUALISTA- Triepel, Oppenheim, e Karl Strupp. O DIP E O D. Interno so dois sistemas distintos, independentes, separados, que no se confundem. A norma internacional s vale quando recebida, isto , transformada em lei interna, no operando, a simples ratificao, esta transformao8 A sociedade interna diferente da sociedade internacional. (idem, p. 99). A norma interna vale independentemente da internacional ( idem, p. 99) Um, trata da relao entre Estados.
8
LITRENTO, Oliveiros. Curso de Direito Internacional Pblico. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p.99.
19
20
Outro, regras entre indivduos. O DIP depende da vontade comum de vrios Estados. O D. Interno: vontade unilateral do Estado. 1.11.1.2. ESCOLA MONISTA O Direito um s. uma norma superior. Representantes: Kelsen; Scelle (monismo sociolgico). Correntes: 1Primado do Direito Internacional (Kelsen) Decerto que somente o Direito internacional capaz de limitar o poder estatal, de modo que o Estado no possa impor sua vontade aos rgos da ordem jurdica internacional. A obrigatoriedade de uma lei oposta ao Direito Internacional s existe para efeitos internos e, quase sempre, provisrios. O Estado prejudicado est autorizado pelo Direito internacional comum a exigir a derrogao da mesma lei, ou sua no-aplicao, e as satisfaes, se no for atendido, no caso de que haja danos materiais ou morais a reparar. 9 Chamado de Monismo radical. O Tratado sobrepe-se norma interna, inclusive Constituio. Para a Corte Internacional de Justia: os doutrinadores vem a prevalncia da primazia do DIP sobre o direito interno dos pases, conforme a leitura do art. 27 da Conveno de Viena sobre o Direito dos Tratados.: uma parte no pode invocar as disposies do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um Tratado Primado do Direito Interno : representado pelo constitucionalismo nacionalista doutrinrio que tem suas bases filosficas no sistema de Hegel, em que se justifica a soberania absoluta, incontrolvel do Estado. Nesta concepo, o Direito internacional no passa de um Direito estatal pblico externo, o que significa nega- lo, tal como o encaramos, ou reduzi- lo a uma mera fonte de regras polticas ou morais. Justifica-se a teoria, historicamente, pela anterioridade do Estado e, formalmente, pelo processo de criao das regras de Direito internacional.10 Em outro trecho, informa o autor citado: Sendo dado que a lei interna se define pela vontade do Estado, pode-se dizer tambm que o Direito internacional fundamenta-se na vontade do Es tado e vlido graas a essa vontade. vlido graas ao Estado, para o Estado e contra o Estado. vlido com a mesma autoridade que todo outro Direito que emane do Estado.11 ( p. 143 ). O Tratado equivale lei ordinria, subordinada a norma constitucio nal do direito interno. A norma internacional contida numa Conveno da qual o Brasil seja signatrio no dispe de qualquer vigncia ou eficcia no direito interno brasileiro ( Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional, p. 591 ).
BOSON, Gerson de Britto Mello. Direito Internacional Pblico. 3 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 144. 10 BOSON, Gerson de Britto Mello. Op. cit. p. 142, 143, com omisses propositais. 11 Idem, p. 143.
20
21
CONSEQNCIAS NAS FORMAS DE RECEPO DO DIREITO INTERNACIONAL PELO DIREITO INTERNO a)- Sistema de Transformao : O Estado recusa em absoluto a vigncia do D.I.). Tipifica a viso dualista e voluntarista do direito. Ex.: Brasil. b)- Sistema de clusula geral de recepo plena ou Sistema de Recepo Automtico. O Estado reconhece a plena vigncia de todo o D.I. na ordem interna. Aponta para uma viso anti-voluntarista e monista do direito. Exemplos explcitos so encontradios nas Constituies de alguns pases no ps-2 Guerra Mundial . Neste sentido, Exemplifique-se com o que ocorreu com os textos constitucionais da Frana em seu art. 26 preceitua que tratados diplomticos regularmente ratificados e publicados tm fora de lei, ainda mesmo que sejam contrrios s leis internas francesas -, da Itlia art. 10 ( o Estado italiano se conforma s normas do direito internacional geralmente reconhecidas)- e da Alemanha art. 25 (As regras do direito internacional fazem parte integrante do direito federal. Primam sobre as leis e fazem nascer diretamente direitos e obrigaes para os habitantes do territrio federal.) 12 c)- Sistema Misto: O Estado no reconhece a vigncia automtica de todo o D.Y., mas reconhece-o sobre certas matrias ( sistema de clusula geral de recepo semiplena ). H recepo plena para certas matrias definidas e, para outras, h que se fazer a transformao) 1.12.VALIDADE MATERIAL 1. Competncia do Direito Internacional ( Art. 2, alnea 7 da Carta da Organizao das Naes Unidas ): Nenhum dispositivo da presente Carta autorizar as Naes Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdio de qualquer Estado ou obrigar os membros a submeterem tais assuntos a uma soluo, nos termos da presente Carta; este princpio, porm, no prejudicar a aplicao das medidas coercitivas constantes do Captulo VII. 2.Domnio Reservado dos Estados ( ou Assuntos Domsticos dos Estados ): mbito de alcance da jurisdio interna dos Estados soberanos, normalmente delineada na Constituio Fundamental do Pas. 3. Mista: Hoje h reas em que o D.I.P. tem invadido a esfera dos Estados soberanos. As situaes mais tpicas nota-se no Direito Internacional dos Direitos Humanos, no Direito Internacional do Meio Ambiente e quando um Estado ameaa ou quebra a paz mundial sem fundamento.
12
Miliauskas, Cleide. Interveno da ONU no Domnio Econmico de seus EstadosMembros A Questo do Iraque. In: Revista de Direito Internacional Econmico: Porto Alegre: Snte4se/INCE, v. 2, n. 1, out/dez.2002. p. 79.
21
22
CAPTULO II FONTES DO PBLICO DIREITO INTERNACIONAL
CONCEITO 2.1. FONTES MATERIAIS DO D.I.P. As fontes materiais dizem respeito aos fatores sociais, poltico, econmicos, histricos e outros que induzem o nascimento da norma positivada. No caso do Direito Internacional, estes fatores estariam imediatamente ligados ao surgimento ora do costume, ora de uma Convenes internacional. 2.2. AS FONTES FORMAIS SEGUNDO A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIA OU TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTIA. As fontes formais, ao revs das materiais, j so aquelas onde se v a norma revelada, estabelecida, positivada. Dentre as vrias fontes formais, pode-se apontar as principais: a)- COSTUME INTERNACIONAL b)- CONVENES OU TRATADOS INTERNACIONAIS c)- PRINCPIOS GERAIS DO DIREITO Textualmente, o artigo 38 do Estatuto da C.I.J. assim enuncia: 2.2.1. COSTUME INTERNACIONAL: Algumas regras entre os Estados j existiam de modo prtico, como um direito consuetudinrio. O costume internacional, tambm denominado usos e costumes internacionais prtica internacional ou ainda Direito internacional no escrito ( jus non scriptum ) ou Direito Internacional Geral ou Direito Internacional Comum ou ainda Direito Internacional Consuetudinrio, consiste numa das mais importantes fontes do Direito Internacional Pblico, ainda nos dias correntes, dada a ausncia de um centro unificado de produo de normas jurdicas nas relaes internacionais. (SILVA SOARES, 80,81 ) Conforme a tradio, a unanimidade da doutrina internacionalista e inmeros precedentes de tribunais internacionais para que um comportamento comissivo ou omissivo seja considerado como um costume jurdico internacional, torna-se necessria a presente de dois elementos constitutivos: (a) um elemento material, a consuetudo, ou seja, uma prtica reiterada de comportamentos, que, no incio de sua formao, pode ser um simples uso ou prtica; e (b) um elemento psicolgico, ou subjetivo, a opinio juris vel necessitatis ou seja, a certeza de que tais comportamentos so obrigatrios, em virtude de representarem valores essenciais e exigveis de todos os agentes da comunidade dos Estados. ( idem, 82 ). O costume internacional vem a ser o conjunto de normas consagradas por longo uso e observadas nas relaes internacionais como obrigatrias. Da ltima definio constatamos que o uso forma de proceder uniforme e constante aceita e adotada pelos membros da sociedade internacional nas suas relaes mtuas. Logo, vem a ser o primeiro elemento do costume internacional. O segundo a opinio jris vel necessitatis, que o elemento psicolgico, convico de obrigatoriedade, que distingue, essencialmente, o costume internacional da comitas gentium
22
23
ou cortesia internacional, no obrigatria.13 Quatro elementos compe o Costume: 1)- Repetio da conduta; 2)- crena no costume como conduta; 3)- impreciso do incio; 4)- prazo considervel. OBS.: No se concebe o costume instantneo ( Gario, Jos Maria. Temas de Derecho Internacional Publico. P. 36 ).. O elemento psicolgico ou imaterial do costume orienta-se pela idia de que assim se procede por ser necessrio, justo e conseqentemente jurdico. ( Rezek, p. 113 ). Tambm chamado de usos e costumes internacionais. 2.2.2. TRATADOS INTERNACIONAIS: Sabe-se que os tratados e convenes internacionais so a manifestao expressa de um acordo de vontade entre Estados ou entre sujeitos de Direito Internacional e destinados a produzir efeitos de Direito. Como bem explica H. Accioly, essa manifestao surge sob duas formas: a de tratados especiais ou tratadoscontratos (que outros Autores denominam de particulares ou bilaterais) e de tratados gerais ou tratados- leis, tambm chamados normativos, por outros ainda chamados coletivos ou plurilaterais. Estes ltimos exprimem vontades paralelas enquanto que os primeiros supem acordo de vontade primitivamente divergentes. Mais adiante, o mesmo autor explica: Rigorosamente falando, s os tratados- leis ou normativos constituem fonte direta de Direito Internacional. 14 2.2.3. PRINCPIOS GERAIS DO DIREITO: Litrento afirma que muitos autores identificam com o prprio Direito Natural.15 Socorremo- nos do que diz SILVA SOARES: existe uma discusso terica, que se arrasta desde a entrada em vigor do primitivo Estatuto da CPJI, quanto natureza jurdica dos referidos princpios gerais de direito: a)- se so aqueles princpios gerais vigentes na maioria dos direitos internos das naes da atualidade ( e ento aquela adjetivao teria sentido, porm sem a palavra civilizadas, mas ainda remanescendo uma discusso do que se entende por nao, se eventualmente sinnimo de Estado, ou se um conceito mais geral de povos; ou b)- se aqueles princpios gerais vigentes unicamente no ordenamento internacional ( e, na verdade, alguns princpios, como o da igualdade dos Estados, ou o do direito subjetivo independncia, ou ainda o direito de passagem inocentes para os navios mercantes em tempo de paz, no teria sentido existir num ordenamento interno dos Estados, concebido como um sistema fechado); ou c)- se aqueles to gerais, presentes em qualquer ordenamento jurdico interno ou internacional, e que se confundiriam com a prpria normatividade ( e, portanto, sua enunciao como fonte de direito, seria intil, pois representariam eles a prpria essncia ontolgica do fenmeno jurdico16 Pode-se dizer que: so os bens jurdicos, que devem ser protegidos, preservados, antes mesmo de se tornarem normas obrigatrias. ( p. 4l ). A Corte internacional de justia denomina-os de Princpio geralmente aceitos. ( p. 41, RRG )
13 14
Litrento, Oliveiros. Op. Cit. 106. Idem, p. 108. 15 Idem, p. 106. 16 SILVA SOARES, Guido Fernando. Direito Internacional do Meio Ambiente. p. 90.
23
24
2.2.4. OUTRAS FONTES FORMAIS: A doutrina aponta ainda, como outras fontes do DIP atualmente: as resolues obrigatrias das Organizaes Internacionais e as Declaraes Unilaterais dos Estados. 2.2.4.1.. RESOLUES OBRIGATRIAS DAS ORGANIZAES INTERNACIONAIS: Na verdade, as organizaes intergovernamentais so, um sujeito de direito internacional, tal como o Estados. O so, porm sem a totalidade das capacidades que estes possuem; uma das restries diz respeito a no poderem integrar como partes um contencioso contra Estados, perante a CIJ, segundo o art. 34 do seu Estatuto,, podendo, no entanto, solicitar- lhe Pareceres Consultivos. Em virtude de serem pessoas coletivas, carregam a nota caractersticas das construes tipificadas como tal, ou seja, o fato de a personalidade da organizao no se confundir com a personalidade de seus membros. Assim, necessria em primeiro lugar, um exame dos tratados-fundaes de cada organizao intergovernamental, para ter-se uma idia da coercitividade e da exigibilidade que os Estados conferiram aos atos unilaterais que expedem; em outras palavras, at que ponto esses tratados multilaterais conferiram ao direito derivado a qualidade de serem fontes do Direito Internacional?(p.119). Alguns colocam as Resolues equivalentes aos Atos Unilaterais dos Estados.
2.2.4.2. ATOS UNILATERAIS DOS ESTADOS: Em sua tipicidade, atos unilaterais so manifestaes de vontade de um nico sujeito e Direito Internacional, o qual produz efeitos jurdicos na esfera da atuao do Direito Internacional Pblico, portanto, erga omnes, na comunidade dos Estados, Conforme j acentuamos, trata-se de manifestaes unilaterais dos principais sujeitos do Direito Internacional Pblico, como os Estados e as organizaes inter- governamentais, as quais no figuram no rol das fontes, conforme contempladas no art. 38 do Estatuto da CPJI, hoje, CIJ. Nem por isso, so tais atos unilaterais desprovidos da fora de gerar normas jurdicas internacionais, exigveis de quaisquer pessoas submetidas ao Direito Internacional. Enquanto os atos unilaterais imputveis dos Estados tem fora normativa autnoma, os imputveis s organizaes intergovernamentais dependem de exame de sua legalidade e legitimidade, em funo dos Estatutos que governam tais entidades. Note-se, desde j, que as manifestaes de vontade imputveis s organizaes inter-governamentais, em que pese sua gnese multilateral, so consideradas como atos unilaterais.. O mesmo autor continua: Por sua vez, os atos unilaterais dos Estados, com efeitos no Direito Internacional, podem ser os praticados com vistas a produzir diretamente tais efeitos, e conformar-se com os usos e costumes internacionais, como o protesto diplomtico, a ratificao de um tratado, a retirada de uma organizao inter- governamental, o reconhecimento formal de uma situao, digamos, de beligerncia ( de modo expresso, como um rompimento formal de relaes diplomticas ou, de modo implcito, como a prtica de atos incompatveis com um tratado de amizade e consulta), ou ser atos tipicamente gerados no ordenamento interno dos Estados e que tm efeitos internacionais ( o exemplo mais
24
25
notvel o da denominada teoria do ato do Estado, Act of State Doctrine, em que atos administrativos, com ou sem a adoo de leis internas de um Estado, tm efeitos no Direito Internacional, como os exemplos das nacionalizaes de bens de sditos estrangeiros. (p. 113 ). Tambm se pode comentar que O ato unilateral a manifestao de vontade de sujeitos de direito internacional capaz de produzir efeitos jurdicos na sociedade internacional ( p. 42, RRG ) Tais atos podem ser tcitos ou expressos. Exemplos: rompimento de relaes diplomticas; advertncias; aquiescncias; oferecimento dos bons ofcios; promessas Como concluso do assunto, impede registrar outras fontes que esto colocadas mais ao nvel da interpretao do direito, pode-se mencionar a doutrina e a jurisprudncia internacionais. Esta refere-se s produzidas pelos tribunais internacionais, ou aque les que, embora sendo tribunais internos dos Estados, tenham decidido sobre matria de interesse internacional ( p. 42 ).
SNTESE DAS FONTES FORMAIS HOJE: COSTUME INTERNACIONAL, TRTADOS INTERNACIONAIS, PRINCPIOS GERAIS DO DIREITO, RESOLUES OBRIGATRIAS DAS ORGANIZAES INTERNACIONAIS E ATOS UNILATERAIS DOS ESTADOS.
2.3. O DIREITO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS Base Normativa: - Conveno de Viena sobre o Direito dos Tratados (l969); - Conveno de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizaes Internacionais ou entre Organizaes Internacionais e O.I. (1986) Conceito: O ato jurdico por meio do qual se manifesta o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas internacionais. Excluem-se, por exemplo, acordos de compra petrolferas, contratos com multinacionais, etc. Sinonmia: Conveno, Protocolo, Pacto, Convnio, Declarao, Ajuste, Carta, Ato, Compromisso, Arranjo, Aliana, Modus Vivendi, Troca de Notas, Estatuto, etc. Concordata: Santa S x outros Estados. (Tratados religiosos) Qualquer que seja a sua denominao, Tratado se refere a um acordo regido pelo direito internacional ( Art.2, I,C.V./1969 ) Formalidade: O Tratado um acordo formal, escrito. Atores: Pessoas jurdicas de direito internacional pblico Nmero de Partes: Conforme seja o nmero de partes envolvidas, os Tratados so designados como: Bilateral ( Estado x O.I; O.I. x O.I. ) (dois Sujeitos).
25
26
Multilateral ( ou Coletivo): 3 ou mais Estados. ( tem clusula de adeso ). Capacidade de concluir tratados: Estados soberanos, as Organizaes Internacionais, os Beligerantes, a Santa S e outros entes internacionais. Tambm: Estados dependentes, membros de uma federao ( em certos casos especiais, sim ) O Direito interno ( Constituio ) pode dar aos Estados federados este direito. Ex.: Sua, Alemanha e Rssia. Os Estados federados da federao americana podem, mas nunca o fizeram. No Canad, s o Governo central. A Santa S sempre teve o direito de firmar tratados. As O.I. tiveram tal direito reconhecido pela C.I.J. Beligerantes e Insurgentes tambm possuem o direito de Conveno, aps o reconhecimento ( oportunismo poltico ). Atualmente, os movimentos de libertao nacional tm concludo tratados. Condies Intrnsecas: Habilitao dos Agentes Signatrios. Tal definido pelo direito interno de cada Estado. A voz externa do Estado, por excelncia, a voz do seu Chefe ( Rezek, p. 34 ). Pode o Chefe de Estado/Governo delegar tal competncia atravs de um documento especfico para tal. feita pelos plenos poderes: que do aos negociadores poderes de negociar e concluir tratados. So os plenipotencirios. Surgiu pela impossibilidade dos Chefes de Estado estarem em todos os tratados. Outra razo: a assinatura do Chefe de Estado dispensa a ratificao. Tal documento dispensado aos Chefes de Estado e de Governo ( no Brasil, competncia privativa do Presidente da Repblica, art. 84, VIII, C.F./88 ), Ministro das Relaes Exteriores (competncia derivada), Chefes de Misses Diplomticas junto ao Estado em que esto acreditados. Nos T. bilaterais: Trocados pelos negociadores. Nos T. multilaterais: A verificao por uma Comisso ou pelo Secretariado e ali so depositados nos arquivos da reunio. Existe o texto original ( primeira verso ) as verses autnticas. a)- Objeto Lcito e Possvel nulo o tratados que viola uma norma imperativa do D.I. ex. Carta da O.N.U. ou o jus cogens. b)-Consentimento mtuo e livre No deve sofrer nenhum vcio ( erro, dolo e coao, viciam o tratado. Fundamento: pacta sunt servanda ( o pactuado deve ser cumprido ), fundamento ltimo no D. Natural. Efeitos: normalmente, limitam-se s partes contratantes. Um Tratado no cria nem obrigao nem direito para um terceiro Estado sem o seu consentimento. ( Art. 34 da C.V. ) No tem efeito temporal retroativo.
26
27
Redao ( ou composio ). Duas partes- Prembulo e Parte Dispositiva e Anexos ( se houver ). Prembulo: Enunciado das finalidades do Tratado e a enumerao das partes. Parte Dispositiva: redigida sob a forma de artigos, sendo nela que esto fixados os direitos e deveres das partes contratantes. Lugar, data e assinatura. O idioma escolhido livremente pelas partes e escrito. No passado, utilizava-se o latim. Depois, o francs; Aps, o ingls. Hoje utilizase tantas lnguas quanto forem os Estados contratantes. Fases, passos ou etapas: Tratado em sentido estrito, tambm chamado Tratado Clssico ( concluso mediata ) : negociao, assinatura, ratificao, promulgao, registro e publicao. H uma unidade de instrumentos jurdicos. So aqueles submetidos ratificao, aps terem sido aprovados pelo Poder Legislativo. Acordo em Forma Simplificada ( concluso imediata ). Tambm chamado de Tratado Executivo: Negociao e assinatura. A negociao deve ser feita de boa f. A assinatura um dos momentos de formular reservas ( ressalvas ) quanto ao cumprimento de determinadas clusula contratual. O poder para firmar a ratificao fixado livremente pelo Direito Constitucional de cada Estado. um assunto do Direito interno. a confirmao do tratado pelo Chefe de Estado. Repare que a Ratificao de um Tratado assunto do Direito Internacional, entretanto, quando se trata da deciso de quem competente para faz- lo pelo pas, uma questo do Direito Interno do Estado, ora a Constituio, ora a lei ordinria. Por isso, quando a dimenso da ratificao transcende o direito interno, ser melhor dizer Ratificao Internacional. O Brasil exige a aprovao do legislativo ( Congresso ). Para tanto, a proposta do Presidente sujeito apreciao da Comisso de Justia, sem modificao do texto, rgo do Congresso Nacional. Segundo o art. 49, I, da C.F./88, o Congresso aprova o tratado e autoriza a ratificao, caso assim o decida, por meio de um decreto legislativo e a promulgao pelo executivo por meio de um decreto, atos que sero publicados no D.O.U. Qual o nvel que aprovado o Tratado? Para a doutrina interna, os Tratados regularmente ratificados, entram no ordenamento jurdico ao nvel de uma lei ordinria ( contra, Pereira, Bruno Yepes. Curso de DIP, p. 74 ). Para outros, especialmente em se tratando de Convenes relativas aos Direitos Humanos, prevista no art. 5, 1, 2 e 3 da Constituio, dever receber o tratamento de Emenda Constitucional ( cuja votao tem que ser feita em dois turnos, com 3/5 do senado e o mesmo quorum na Cmara dos Deputados , conforme alterao da C.F./88 pela emenda 45/2004 ), sendo recepcionado como tal. A ratificao internacional um ato discricionrio do Chefe de Estado, no tem efeito retroativo, no tem prazo para ser efetuada e deve ser sempre expressa. A ratificao irretratvel ( Rezek, 53 ). Em geral, ocorre por Carta de Ratificao.
27
28
Pode haver recusa de ratificar. Adeso e aceitao ( o ato jurdico pelo qual um Estado que no parte de um Tratados, declara-se obrigado por suas disposies ). A Adeso pode ser limitada e ilimitada. Outra definio do que seja Adeso o ato jurdico pelo qual o sujeito do D.I. ingressa em tratados cocnludos entre outros. Tratados bilaterais, h troca de ratificao. Multilaterais: depsito. Publicao e Registro: Todo Tratado internacional dever, logo que possvel, ser registrado no Secretariado e por ele publicado ( Art. 102 Carta da ONU ). Nenhuma parte num Tratado no registrado poder invoc-lo perante qualquer rgo da ONU. Existe tambm a denominada Clusula da Nao mais Favorecida, que permite um terceiro Estdo invoc-la, caso o Estado que consigo firme Tratado, tenha privilegiado algum outro Estado em situao similar. Emenda e Reviso: possvel seguindo-se o que o prprio tratado deliberar. Interpretao dos Tratados: A C.V. l969 e l986 nos arts. 31 a 33 estipulam a regra geral que um tratado deve ser interpretado de boa f. Leva-se em considerao no s o texto, mas tambm o prembulo e os anexos. Reservas Conceito: uma espcie de excluso de uma parcela das obrigaes impostas por um tratado, por parte de um Estado signatrio. (p. 76). Excees quanto ao uso: a)- A reserva seja proibida; b)- O Tratado disponha que s possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais no se inclui a reserva em pauta; c)- Nos casos que sejam previstos nas alneas a e b as reservas sejam incompatveis com a finalidade do Tratado. Controvrsia de Aplicao de Tratados Sucessivos sobre a mesma matria: No caso de conflito entre as obrigaes dos membros das Naes Unidas em virtude da presente carta e as obrigaes resultantes de qualquer outro acordo internacional, prevalecero as obrigaes assumidas em virtude da Carta ( Art. 103 ), Jus cogens ( Art. 53 C.V. l969 ) Nulo o Tratado. Nulidade: Em virtude de erro, dolo, corrupo do Representante do Estado. Coero sobre o Representante ou ameaa ou emprego de fora, desconhecimento do jus cogens. Nulidade relativa: Erro ( art.48) dolo ( art. 49 ) Nulidade absoluta: Coao ( art. 51 e 52 ) e Conflito com o jus cogens ( art. 53 ). Causas de Extino dos Tratados Internacionais: 1)- Execuo integral do tratado: cumprimento do objeto do mesmo.
28
29
2)- Expirao do prazo convencionado (caducidade); Rezek, p. 100, denomina: pr-determinao ab-rogatria. Prazo previamennte fixado ( incio e trmino da vigncia ) 3)- A verificao de uma condio resolutria, prevista expressamente; 4)- Acordo mtuo entre as partes; 5)- A renncia unilateral, por parte do Estado ao qual o tratado beneficia de modo exclusivo; 6)- A impossibilidade de execuo ( clusula rebus sic stantibus: alterao das condies vigentes poca da assinatura. ). Se for temporria, suspende a execuo do Tratado. 7)- A denncia, admitida expressa ou tacitamente pelo prprio tratado; 8)- A inexecuo do Contrato por uma das partes contratantes; 9)- A guerra sobrevinda entre as partes contratantes; 10)- A prescrio liberatria: Extingue a responsabilidade internacional do Estado. Uma vez invocada e havendo silncio do credor durante o espao de tempo mais ou menos longo, est caracterizada a prescrio liberatria.
CAPTULO III: OS SUJEITOS DO D.I.P.
A Sociedade Internacional constituda pelos Estados, Organizaes Internacionais, Coletividade No-Estatais ( como o Estado da Cidade do Vaticano o Comit Internacional da Cruz Vermelha ) e outros sujeitos com ou sem capacidade internacional que nela transitam. Os Sujeitos do D.I.P. apresentam-se conforme este ordenamento o admite. Originalmente, eram s os Estados soberanos admitidos como sujeitos. Depois, admitiu-se as Organizaes Internacionais. Hoje em dia, admite-se que o Homem, mormente quando se aplicam as normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos, deixa de ser simplesmente um sdito do seu pas para tornar-se um sujeito do D.I. podendo assumir reclamaes internacionais. Assim como a sociedade no direito interno, a sociedade internacional dinmica e torna-se cada vez mais abrangente. H inmeras tendncias, tal qual a admisso da HUMANIDADE ser sujeito do D.I. ( veja-se o caso da existncia do Patrimnio Comum da Humanidade, a rea, ou seja, os fundos marinhos; h quem especule sobre a personalidade incipiende das ORGANIZAES NO-GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS ). Por uma questo de origem e de influncia na vida internacional, na seqncia que propomos, o primeiro sujeito do D.I.P. a ser estudado ser o Estado. So os Estados os que originaram a construo do D.I. e que, ainda hoje, lhe do os principais rumos e estabelecem as normas que vo vigorar para a Sociedade Internacional.
29
30
3.1. O ESTADO COMO INTERNACIONAL PBLICO
SUJEITO DO
DIREITO
Introduo- Por mais de 300 anos o DIP s considerou os Estados. Primeira mudana: Vaticano. Atualmente: personalidade das Naes Unidas e de algumas O.I. O SUJEITO ESTADO: SOBRE A SUA FORMAO ORIGEM Domnio da histria, da sociologia, da teoria geral do Estado. O processo primrio: suas origens se perdem no tempo ( migraes, usurpaes, conquistas, partilhas, fuses. O processo secundrio: desenvolvimento do liberalismo democrtico. Genericamente: AQUISIO E PERDA DE TERRITRIO -Descoberta: No passado, as potncias navais adquiriram territrios pela descoberta, seguide de ocupao efetiva ou presumida. O objeto da descoberta era a terra nullius ( ou terra de ningum ), no necessariamente inabitadas, desde que o eventual elemento indgena no oferecesse resistncia. Ex.: O caso do descobrimento do Brasil por Portugal o modelo perfeito do que os europeus da poca e pocas posteriores entendiam como descoberta e apossamento de terra nullius. Terra Derelicta: Outra forma efetuada pelos Estados de intensa presena nos mares era a terra derelicta, ou seja, a terra abandonada pelo seu primitivo descobridor, tornando-a igual ao estatuto da terra nullius. Exemplos: caso da Espanha que abandonou a ilha de Palmas, Malvinas e as Carolinas, ocupada depois pelos Pases Baixos, Gr-Bretanha e Alemanha. Conquista: Emprego de fora unilateral ou como resultado do triunfo no campo de batalha. Exemplos: vrios pontos do continente americano, a Espanha aniquilou o ocupante nativo e era a forma mais rude de conquista. Cesso Onerosa: ( Compra e Venda ou permuta ) Exemplos: EUA compraram a Louisinia da Frana, em 1803, por 60 milhes de francos. Alaska, da Rssia, em 1867, por 7,2 milhes de dlares. Brasil adquiriu o Acre da Bolvia em 1903 por 2 milhes de Libras Esterlinas e a prestao de determinados servios. Cesso Gratuita: Eufemismo. Tpica dos Tratados de Paz. Exemplo: a Frana cedeu gratuitamente a Alscia-Lorena para Alemanha, aps ter sido derrotada na guerra bilateral de 1871. Ao tempo da 1 Guerra, nova cesso gratuita no sentido inverso, em que a Alemanha cedeu gratuitamente a Alscia-Lorena pelo Tratado de Versalhes de 1919. B)-OUTRAS FORMAS DE SURGIMENTO DE UM ESTADO: 1)- SEPARAO DE PARTE DA POPULAO E DO TERRITRIO DO ESTADO, SUBSISTINDO A PERSONALIDADE INTERNACIONAL DA ME-PTRIA. Grande maioria dos Estados do sc. XIX E XX. Situao ocorrida com os EUA, Brasil e demais pases hispano-americanos.
30
31
2)- DISSOLUO TOTAL DO ESTADO, NADA SUBSISTINDO. Gr-Colmbia (1830): Repblica de Nova Granada ( Colmbia, Venezuela e Equador.) URSS: Federao Russa, sede em Moscow. Ucrnia, Gergia e BieloRssia. 3)- FUSO EM TORNO DE UM ESTADO NOVO Pode ocorrer pacficamente ou por conquistas. Ex.: Itlia ( 1860 ): Ducado de Modena, Parma e Toscana e o Reino de Npoles, foram incorporados ao Piemonte. Sujeitos do DIP: toda entidade jurdica que goza de direitos e deveres internacionais e que possua capacidade de exerc-los Enfoques: Clssico: noo de sujeito do D.I. s os Estados; Realista ( ou individualista ): O destinatrio o indivduo. Mista ( no s os Estados e o indivduo com reservas ). Os Estados com capacidade internacional plena so aqueles cuja capacidade no sofre qualquer restrio de carter geral e permanente ( Litrento, op. cit. p. 116). Os Estados so chamados por alguns doutrinadores de: sujeitotipo ( Velasco ); Sujeito por excelncia ( Fausto Quadros e Andr Gonalves Pereira); piv central ( Frank Attar); Sujeito originrio, principal sujeito, o criador dos demais sujeitos do D.I. O D.I. gira em torno das relaes interestatais quase que exclusivamente, defendem alguns doutrinadores. A sua moderna configurao nasceu na Europa ocidental em poca que os grandes Estados Nacionais j estavam formados. 3.2. Elementos Constituintes: 1)- Uma base territorial ( inclui o espao areo ) 2)- Uma comunidade humana estabelecida sobre a rea ( composta por nacionais e estrangeiros ) 3)- Uma forma de governo no subordinada a qualquer autoridade superior 4)- Capacidade de entrar em relao com os demais Estados. A doutrina registra ainda a existncia, quanto capacidade dos Estados, de Estados SEMI-SOBERANOS e Estados NO-SOBERANOS17 . TENDNCIAS MODERNAS ( discusso ): Primeira vertente: v uma tendncia extino dos Estados contemporneos. Os Estados tendem a ser substitudo por foras mais dinmicas. As multinacionais ( ou transnacionais ) ameaam o Estado. Segunda vertente: em sentido inverso est ocorrendo o fortalecimento do Estado contemporneo. Na regionalizao ( atravs dos blocos regionais tipo o MERCOSUL, NAFTA, UNIO EUROPIA ) esta se firmam no ator Estado, sendo este insubstituvel. Assim os blocos econmicos, polticos, militares, longe de levarem extino do Estado, reforariam a importncia da existncia destes. O Governo do Estado o rgo atuante da soberania nacional perante a ordem do Direito das Gentes. (Boson) Nao: em ingls, igual a Estado.
17
Litrento, Oliveiros. Op. cit. p. 116.
31
32
Em Portugus: designa um conjunto de pessoas ligadas pela conscincia de que possuem a mesma origem, tradio e costumes comuns, e geralmente falam a mesma lngua. Mancini: Defende o Princpio das Nacionalidades, segundo o qual os Estados deveriam ser organizados tendo em considerao o fator nao. Populao: Massa de indivduos, nacionais e estrangeiros, que habitam o territrio em um determinado momento histrico; a expresso demogrfica, um conceito aritmtico, quantitativo. Territrio determinado: no deve ser entendido em sentido absoluto. No necessrio que o Estado esteja perfeitamente delimitado. Amrica Latina: os Pases foram reconhecidos antes de estabelecidos os limites exatos. Hoje: frica. A extenso no influi, em virtude do princpio da igualdade jurdica dos Estados. Governo: Governo soberano, no subordinado a qualquer autoridade exterior e compromissos com o D.I. C.VIENA: relaes amistosas entre as naes, independentemente da diversidade dos regimes constitucionais e sociais. 3.1.1. CLASSIFICAO : O D.I. se interessa por sua personalidade internacional, ou seja, sua capacidade de exercer os direitos e as obrigaes por ela enunciados. A)-ESTADO SIMPLES : Plenamente soberanos em relao aos negcios externos e sem divises de autonomias no tocante aos internos. Representam um todo homogneo e indivisvel. Trata-se da forma mais comum de Estado, sendo o tipo existente na maioria dos Estados latino-americanos. Ex. Portugal, Frana ( europa ) Uruguai, Chile e Peru ( Amrica ) Japo e Turquia ( sia ) B)-ESTADO COMPOSTO, ESTADO FEDERAL OU FEDERAO DE ESTADOS: a unio permanente de dois ou mais Estados no qual cada um deles conserva apenas a sua autonomia interna, sendo a soberania externa exercida pr um organismo central, isto , o Governo Federal plenamente soberano nas suas atribuies, entre as quais se salientam a de representar os Estados nas relaes internacionais e de assegurar a defesa externa. Exemplo EUA ( entrada em vigor da C.F. de l789 ) SUIA ( 1848 ). MXICO ( 1875 ). REPBLICA FEDERAL DA ALEMANHA; ARGENTINA ( 1860 ); VENEZUELA ( 1893 ). BRASIL ( 24.2.189
32
33
3.1.2. CASO ESPECIAL: ESTADOS EXGUOS
OS MICRO-ESTADOS OU
Consideraes. Quando foram percebidos foram vistos por parte d doutrina como Estados semi-soberanos. No se nega, em princpio, que sejam soberanos. A)Dispem de um Territrio, ainda que exguos. Exemplos: ANDORRA (Pirineus): 467 KM 2 LIECHTENSTEIN (encravado na Sua): 160 KM 2 SO MARINHO ( situado em territrio italiano ): 61 KM 2 NAURU: 21 KM 2 MNACO (Sul da Frana): MENOS DE 2 KM 2 B)Possuem uma populao ( em geral, todos com menos de 40.000 pessoas ) C)Suas instituies polticas so estveis e seus regimes corretamente estruturados, ainda que, vez por outra, originais. Por serem Estados soberanos, em regra, detm sobre seu suporte fsico-territorial e humano a exclusividade e a plenitude das competncias. Isto quer dizer que o Estado exerce, sem concorrncia, sua Jurisdio Territorial e faz uso de todas as competncias possveis na rbita do Direito pblico. 3.1.2.1.LIMITAES A)-LIMITAES INTERNAS Em razo de sua exigidade e hipossuficincia, partes expressivas de sua competncia so confiadas a outrem, normalmente a um Estado vizinho. Exemplos: MNACO FRANA ( Moeda: Franco Francs ) SO MARINHO ITLIA ( Moeda: Lira Italiana ) LIECHTENSTAIN SUA ( Moeda: Franco Suo ) ANDORRA ( Moeda: Peseta Espanhola e Franco Francs ; NAURU ( Dlar Australiano ) No mbito da Defesa Nacional ( Competncia Expressiva ): eles no a exercitam diretamente. Dispem, no mximo, de uma guarda civil com algumas dezenas de guardas. A Segurana Externa confiadas potncia externa com que cada uma dessas soberanias exguas mantm laos singulares de colaborao, em geral resultantes de Tratados Bilaterais. B).LIMITAES INTERNACIONAIS As demais soberanias vem com reticncias a personalidade internacional dos Micro-Estados pelas naturais conseqncias negativas do vnculo a que so forados a manter com certos Estados de maior vulto.
33
34
Exemplos: Os Micro-Estados admitidos em certos foros internacionais: significa peso 2 voz e voto daquele pas que divide com cada um deles um acervo de competncias. Por longo tempo, houve a restrio de sua aceitao nas Organizaes de carter poltico. Mnaco ( o menor dentre os Estados exguos ) e Andorra, ficaram muito tempo margem das Organizaes Internacionais.
2.ASPECTOS ESPECFICOS 1.1. SO MARINHO ( SAN MARINO ) Situado na Regio Montanhosa com fortalezas medievais bem preservadas e 3 antigos ncleos urbanos: San Marino, Serravalle e Borgo Magiore. um Estado Republicano, admitido em 1992 na ONU. MNACO Nacionalidade: Monegasca. rea: 1,95 km2. um Principado. Dinastia da casa de Grimaldi. Situada na costa mediterrnea francesa ( Cte dAzur ) Populao: 30.000 habitantes. Formado por 4 pequenas cidades: a maior, Monte Carlo com 13.000 habitantes. Lngua Oficial: Francs. Chefe de Estado: Prncipe RAINIER III ANDORRA ( Principado de Andorra ) Situada a 3.000 m de altitude. Vive do Turismo, especialmente dos seus centros de esqui. Seus regentes honorrios so o Presidente da Frana e o Bispo da Diocese de Urgel. Chefe de Governo eleito. Parlamentarista com Co-Principado no hereditrio. Lngua Oficial: Catalo. 12 vezes menor que o DF. Constituio data de 1993 e tornou-se completamente independente. Admitida na ONU em 27/07/1993 e na U.E. em nov./94. 2. LIECHTENSTEIN Situada na divisa entre a Sua e a ustria, nos Alpes. Banhada pelo Rio Reno. um paraso fiscal. uma monarquia parlamentarista Populao com 30.000 habitantes. 160 km2 3. NAURU Ilha da Oceania. A extenso do contorno de todo o pas totaliza 19 km. Situada no Oceano Pacfico, norte da Oceania. Nacionalidade: Nauruana. Repblica Presidencialista: Populao: 10.000 hab.
1.2.
1.3.
34
35
UM CASO ESPECIAL: O ESTADO DA CIDADE DO VATICANO A SANTA S o menor Estado soberano do mundo. A Santa S a cpula governativa da Igreja Catlica, instalada na cidade de Roma. Nome Oficial: Estado da Cidade do Vaticano e a Capital a Cidade do Vaticano. Chefe de Estado: o Papa. No lhe faltam os elementos conformadores da qualidade Estatal ( ainda que de forma peculiar ): Territrio: 44,00 ha ( 0,44 km 2) Populao: menos de 1.000 pessoas. Governo: independente Argumento Teleolgico: no seguem os padres de todo Estado soberano. A Santa S no possui nacionais ( mantm os laos patriais ). O vnculo dessas pessoas lembra o vnculo funcional das Organizaes Internacionais e seu pessoal administrativo, pois no um vnculo nacional. Tem personalidade de Direito Internacional por legado histrico. Visto como um caso nico de personalidade internacional anmala
3.1.3. RECONHECIMENTO DE ESTADOS O reconhecimento de Estado, colocado como um Ato Unilateral do Estado. Quanto sua natureza jurdica, a doutrina tem atribudo ora a ser um Ato Declarativo, ora um Ato Atributivo, ora um Ato Misto, que reuniria as duas condies anteriores. As caractersticas que o ato possui so: 1)- Irregovabilidade; 2)Discricionariedade; 3)- Retroatividade; 4)- Incondicionalidade (p.52,RRG ). 3.1.3.1. RECONHECIMENTO DE ESTADO Reunidos os elementos que constituem um Estado, o governo da nova entidade buscar o seu reconhecimento pelos demais membros da comunidade internacional. Por uma certa viso, O relacionamento com os sujeitos de direito internacional depende do reconhecimento, pois ele que merca o incio das relaes Noutro sentido, h os que afirmam que A existncia poltica do Estado independente do seu reconhecimento pelos outros Estados. Mesmo antes de ser reconhecido, o Estado tem direito de defender a sua integridade e independncia, de promover a sua conservao e prosperidade e, por conseguinte, de se organizar como melhor entender, de legislar sobre os seus interesses administrar seus servios e determinar a jurisdio e a competncia dos seus tribunais. O exerccio desses direitos no tem outros limites seno o de exerccio dos direitos de outros Estados, conforme o direito internacional ( art. 12, Carta da O.E.A., citado por RRG, p. 50,51 ).
35
36
O Reconhecimento uma deciso do governo de um Estado existente de aceitar outra entidade como Estado. J foi um ato poltico-jurdico mais importante. Ex.: Brasil declarou a independncia em 22.09.1822. S obteve o reconhecimento do Rei de Portugal em 29.08.1825, atravs do Tratado de Paz e Aliana. Efeito Atributivo: Ato bilateral. Distingue o nascimento histrico do nascimento da pessoa internacional. Efeito Declarativo: Ato livre, retroativo e unilateral. Mais aceita. Pode ser expresso ou tcito. 3.1.3.2. RECONHECIMENTO DE GOVERNO O reconhecimento de Governo no importa no reconhecimento de sua legitimidade, mas significa apenas que este possui, de fato, o poder de dirigir o Estado e o de o representar internacionalmente. O reconhecimento do Estado comporta automaticamente o do governo que est no poder. Se a forma do governo muda, isto no altera o reconhecimento do Estado. S o novo governo ter necessidade de novo reconhecimento. Expresso: nota diplomtica. Tcito: incio de relaes diplomticas ou celebrao de um tratado. De fato: quando provisrio ou limitado a certas relaes jurdicas.
3.1.3.3. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE BELIGERNIA Precede ao reconhecimento de um Estado. Havendo o reconhecimento do Estado de beligerncia, o beligerante passar a desfrutar das regras do D.I. aplicveis nos casos de neutralidade. Os governos estrangeiros podero por as duas partes em luta no mesmo p de igualdade jurdica, reconhecendo- lhes a qualidade de beligerantes. Efeitos: Se so reconhecidos pela ptria- me como beligerantes ( ou pelo governo legal ), no os pode tratar como rebeldes, mas ao mesmo tempo exonera da responsabilidade decorrente dos danos causados.
3.1.3.4. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE INSURREIO A Insurreio, com fins puramente polticos, deixando de Ter carter de motim e passa a guerra civil ( sem contudo se poder reconhecer o carter jurdico deste), considera-se que existe uma situao de fato que, no podendo ser qualificada de beligerncia, no deve ser qualificada como situao de pura violncia ou banditismo. A este estado de fato d-se o nome de insurgncia. Efeitos: a) no podem ser tratados como piratas ou bandidos pelos governos que os reconheam; b) se reconhecidos pela ptriame ou pelo governo legal, devero ser tratados como prisioneiros de guerra.Os atos dos insurretos no comprometem a Ptria- me ou o governo legal.
36
37
Posio Brasileira: Princpio da Situao de fato. Para apliclo, leva em considerao: a)- a existncia real de um governo aceito e obedecido pelo povo; b)- estabilidade desse governo; c)- a aceitao pelo Estado da aceitao da responsabilidade pelas obrigaes internacionais.
3.1.3.5. PRINCIPAIS DOUTRINAS SOBRE O RECONHECIMENTO As Doutrinas sobre o Reconhecimento A)-A DOUTRINA TOBAR Carlos Tobar, Ministro das Relaes Exteriores do Equador- 1907 No se deve reconhecer governo algum oriundo de golpe de Estado ou de revoluo, enquanto o povo do respectiv o pas, por meio de representantes livremente eleitos no o tenham reorganizado constitucionalmente. A Venezuela ( Anos 60 ), sob o Governo de Betancourt e Ral de Leone, praticou declaradamente a doutrina Tobar. Rompeu relaes diplomticas com o Brasil em 1964 e restabeleceu-a aps dois anos e meio; com a Argentina, 1966 e com o Per, 1968 ( governo de esquerda). Rafael Caldeira assumiu em l969 e repudiu a doutrina Betancourt, sucednea da doutrina Tobar. A doutrina desgastou-se e hoje, a regra pragmtica a da efetividade ( tem ele controle sobre o territrio ? mantm a ordem nas ruas ? honra os tratados internacionais ? ) B)-A DOUTRINA ESTRADA Genaro Estrada ( 1930 ) Secretrio das Relaes Exteriores do Mxico o reconhecimento do governo constitui p rtica afrontosa, que fere a soberania da nao interessada e importa em atitude crtica Esta doutrina restou triunfante. A postura mais comum, se for o caso, a ruptura de relaes diplomticas com um regime que se avalie impalatvel. Concluso: O reconhecimento acaba sendo um ato de convenincia poltica. C)- OUTRAS DOUTRINAS - MENO C1)- DOUTRINA JEFFERSON Levava em conta o apoio popular que o Governo deve ter para ser digno de reconhecimento ( p. 54, RRG ) C2)-DOUTRINA WILSON Era similar doutrina Tobar.
37
38
3.1.4. DIREITO DOS ESTADOS Introduo 1- DIREITO LIBERDADE 2- DIREITO DE IGUALDADE 3- DIREITO DE FIRMAR TRATADOS 4- DIREITO AO RESPEITO MTUO 5- DIREITO DE DEFESA E CONSERVAO 6- DIREITO INTERNACIONAL DESENVOLVIMENTO 7- DIREITO DE JURISDIO
DO
INTRODUO Para Accioly s existe um Direito fundamental: Direito Existncia ( primordial ) e do qual decorrem todos os demais. Para Verdross seriam cinco os direitos dos Estados: Direito Independncia, Direito Conservao, Direito Igualdade, Direito Honra ( ou ao respeito mtuo ) e o Direito a Comerciar. Para Gerson Britto Mello Boson: Direito Fundamental Existncia, Direito Igualdade, Direito ao Respeito Mtuo e Direito ao Comrcio Internacional. A Carta da Organizao dos Estados Americanos-O.E.A.enumera dos arts. 9 ao 22 os direitos e deveres fundamentais. A Comisso de Direito Internacional da O.N.U. apresentou um projeto com uma listagem, o qual foi rejeitado. Uma verificao suscinta na doutrina, permite, inicialmente, apontar os seguintes direitos: ius belli; ius legationis; ius tractuum; ius comercii; ius reclamationis. Fazendo-se um apanhado mais amplo do que a enumerao retro,l a doutrina internacional registra sobre o tema, podemos listar e comentar sobre os seguintes direitos:
3.1.4.1. DIREITO LIBERDADE Confunde-se com a noo de soberania que deixou de ser o direito absoluto e incontestvel de outrora. 1)-Soberania interna: representa o poder do Estado em relao s pessoas e coisas dentro dos limites de sua jurisdio. Tambm chamada autonomia. Compreende os direitos: a)-de organizao poltica ( escolher a forma de governo, adotar uma Constituio poltica, estabelecer sua organizao poltica prpria e modific-la vontade ( contanto que no sejam ofendidos os direitos de outros Estados ); b)-De legislao ( formular suas prprias leis e aplic-las aos nacionais e estrangeiros, dentro, naturalmente, de certos limites ); c)- de jurisdio, ou seja, de submeter ao dos seus prprios tribunais as pessoas e coisas que se achem em seu territrio, bem como o de estabelecer sua organizao judiciria; d)- de domnio, em virtude do qual o Estado possui uma espcie de domnio eminente sobre o prprio territrio. 2)-Soberania externa: afirmao da liberdade do Estado em suas relaes com os demais membros. Confunde-se com a independncia.
38
39
Dentre tais direitos, pode-se mencionar: a)- Ajustar Tratados Internacionais ; b)- De Legao ou de Representao; c)- de fazer guerra e a paz; d)- o de igualdade e o de respeito mtuo. 3.1.4.2. DIREITO DE IGUALDADE Todos os Estados so iguais juridicamente perante o D.I. Prembulo da C.N.U.: A Organizao baseada no princpio da igualdade soberana de todos os seus membros Ressalte-se que A igualdade jurdica no deve ser confundida com a igualdade poltica 18 Conseqncias da igualdade jurdica: a)- qualquer questo que deva ser decidida pela Comunidade Internacional, cada Estado ter direito de voto e o voto do mais fraco valer tanto quanto o do mais forte; b)nenhum Estado tem o direito de reclamar jurisdio sobre outro Estado soberano. Nas relaes internacionais, a igualdade jurdica tenta compensar a desigualdade de poder. De tal direito, derivam outros: a)- nos Congressos e Conferncias, os Estados se assentam e assinam os textos segundo a ordem alfabtica, podendo os seus representantes falar na lngua nacional do pas. ( no impede, contudo, a fixao de uma lngua de trabalho ); b)- em qualquer questo que deva ser decidida pela comunidade internacional, cada Estado, grande ou pequeno, tem direito a um s voto, de igual valor. o princpio democrtico em direito internacional; c) imunidade de jurisdio, em que nenhum Estado pode ter jurisdio sobre os seus pares. As questes em que seja parte um Estado no podem ser levadas aos tribunais de outro, mas to-s aos tribunais internacionais.
DIREITO DE FIRMAR TRATADOS (jus tractuum) Qualquer Estado pode iniciar negociaes com outro ou vrios Estados at chegar a um Tratado. Este direito decorre do fato que os Estados so legisladores, e apenas obedecer s regras que os criam. Um Tratado um acordo entre Estado com o objetivo de produzir efeitos de direito. O Estado tem o direito de recorrer justia internacional, tem legitimidade para isso. A C.I.J. est prevista no art. 92 da Carta da ONU e com sede em Haia. Tem competncia segundo o art. 36 do Estatuto da C.I.J. voluntariedade de submisso. 3.1.4.4.- DIREITO DE RESPEITO MTUO Direito que tem cada Estado de ser tratado com considerao pelos demais Estados e de exigir que os seus legtimos direitos, bem como a sua dignidade moral e a sua personalidade fsica ou poltica, sejam respeitados pelos demais membros da Comunidade Internacional.
18
Oppenheim apud LITRETO, Oliveiros. Op. cit. p. 125.
39
40
Um Estado deve prestar homenagens de praxe e respeitar os smbolos nacionais do outro Estado. 3.1.4.5.- DIREITO DE DEFESA E CONSERVAO Abrange os atos necessrios defesa do Estado contra inimigos internos e externos. A legtima defesa s existe em face de uma agresso injusta e atual., contra a qual o emprego da violncia o nico recurso possvel. Carta da ONU, art. 2, 3: os membros da Organizao se abstm, nas suas relaes internacionais, de recorrer ameaa da fora ou ao emprego da fora. a guerra deixou de ser um ato de soberania do Estado, exercido ao sabor das convenincias deste, para se tornar, exclusivamente, um direito de legtima defesa. Deve ser entendido como tal o direito de fazer a guerra justa, inclusive aquela que for decretada e levada a efeito por um organismo internacional de segurana geral ( p. 254, GBMB ). Algumas aes de fora so consideradas legtimas: legtima defesa, libertao colonial, ao do Conselho de Segurana para eliminar a ameaa da guerra ou a agresso em curso e a ao de polcia da ONU. Neutralidade permanente: Estatut o adotado por vrios Estados. Sua ( Declarao de 20 de maro de 1815 ). ustria ( Constituio de l955). 3.1.4.6. DESENVOLVIMENTO DIREITO INTERNACIONAL DO
Difere do D.I. ao Desenvolvimento, matria afeta aos Direitos Humanos. A Declarao de Concesso de Independncia aos Pases Coloniais e Povos ( 1960 ) abriu as portas a novos membros que no poderiam sobreviver sem o auxlio, principalmente econmico, da Comunidade Internacional. Alguns Estados argumentaram que o reconhecimento do Direito Internacional do Desenvolvimento colidia com os Princpios de Reciprocidade e da No-Discriminao, ambos corolrios da Igualdade Jurdica dos Estados. Da porque passou-se a falar em igualdade jurdica, mas economicamente desiguais. O caso dos microestados. No entanto, a A.G. tomou vrias medidas para apoiar os Estados menos capacitados. 3.1.4.7.- DIREITO DE JURISDIO Todo Estado tem o direito de exercer sua jurisdio no seu territrio e sobre a populao permanente, com as excees estabelecidas no D.I. O Direito do Estado sobre o territrio e os respectivos habitantes exclusivo. Para C. Russeau, a competncia territorial refere-se competncia do Estado em relao aos homens que vivem em seu territrio, s coisas que nele se encontram e aos fatos que a ocorrem.
40
41
O Estado exerce no seu domnio territorial, todas as competncia de ordem legislativa, administrativa e jurisdicional ( F. Rezek). Portanto, ele exerce a generalidade da jurisdio. A exclusividade quer dizer que, no exerccio de sua competncia, o Estado local no enfrenta a concorrncia de qualquer outra soberania. S o Estado pode tomar medidas restritivas contra pessoas, detentor que do monoplio do uso legtimo da fora pblica e previsto na sua legislao. Atos de autoridade ( jure imperii): pessoa pblica ou no exerccio do direito de soberania. Isento da competncia de qualquer tribunal. Atos de simples gesto ( jure gestionis): Executa tal qual uma pessoa privada.
3.1.5. DEVERES DOS ESTADOS Os Estados devem respeitar os direitos fundame ntais dos outros Estados. Na verdade, reconhece-se que um Dever jurdico a obrigao de cada Estado respeitar os direitos dos membros da sociedade internacional ou sujeitos do direito internacional pblico.19 3.1.5.1- OBSERVAR O JUS COGENS ( invariable law, jus necessarium ou ius strictum ). Conjunto de normas internacionais costumeiras que tm por principal particularidade formal o fato de no poderem ser derrogadas por outros atos jurdicos, sob pena destes incorrerem em nulidade absoluta e, por particularidade formal, o fato de tutelarem interesses da Comunidade Internacional no seu conjunto, acarretando a sua violao um ilcito erga ogmnes, isto , em relao a todos os Estados vinculados pela norma Outra definio: Conjunto de normas que, no plano do direito das gentes, impem-se objetivamente aos Estados, a exemplo das normas de ordem pblica que em todo sistema de direitos limitam a liberdade contratual das pessoas. ( Rezek, 111 ). Est no campo dos princpios do D.I. A C. Viena ( art.53 ) o reconhece: a) costume geral internacional ou comum ( por exemplo: liberdade dos mares, coexistncia pacfica, proibio da escravatura ) b) normas internacionais pertencentes ao D.I. geral. c) Princpios constitucionais da Carta da ONU ( uso da fora, condenao da agresso, preservao da paz, pacta sunt servanda ) d) Direito internacional convencional geral sobre os Direitos do Homem.
19
LITRENTO, Oliveiros. Op. cit. p. 130.
41
42
No caso do jus cogens existe uma obrigao que o Estado no pode, em nenhuma hiptese, desconhecer ( art. 64 C.V. se h conflito entre a norma e o jus cogens, a norma nula ).
3.1.5.2.- O DEVER FUNDAMENTAL DA NOINTERVENO O QUE A INTERVENO? Interveno a ingerncia de um Estado nos negcios peculiares, internos ou externos, de outro Estado soberano com o fim de impor a este a sua vontade. Veda ao Estado a ingerncia na jurisdio domstica ou na competncia internacional de outro Estado, impondo-lhe uma vontade que lhe estranha20 Caractersticas da interveno: a)-A Imposio da vontade exclusiva do Estado que a pratica; b)- a existncia de dois ou mais Estados soberanos; c)- Ato abusivo, isto , no baseado em compromisso internacional. 3.1.5.2.1. CASOS DE INTERVENO 1)- EM NOME DO DIREITO DE DEFESA E CONSERVAO Todo Estado tem o direito de tomar todas as medidas visando sua defesa e conservao, dentro dos limites estabelecidos pelo D.I. e pela Carta das Naes Unidas. Tais medidas, entretanto, no podem ensejar um motivo para ocupao definitiva, nem apossamento do territrio de outro pas. Hoje em dia, ao nvel das relaes internacionais, tem-se discutivo a LEGTIMA DEFESA PREVENTIVA, exemplificada pela reao americana ao ataque terrorista de 11 de setembro. Tambm, a ataque e invaso do Lbano pelo Estado de Israel, alegando estar se defendendo do Hizbolah, que na avaliao de Israel um grupo terrorista sediado num pas soberano que, no entanto, no impede as suas aes de ataques a Israel. No h nada assente hoje sobre a legitimidade e a extenso de aes de legtima defesa preventiva.
2)- PARA A PROTEO DOS DIREITOS HUMANOS A questo do Domnio Reservado dos Estados. O reconhecimento internacional dos Direitos Humanos na carta da ONU e na Declarao Universal dos Direitos Humanos foi crescendo com o correr dos anos, a ponto que seu desconhecimento e desrespeito por um Estado justificaria uma interveno no caso de eventuais abusos.
20
Idem, p. 130.
42
43
Qualquer Interveno neste sentido dever ser praticada atravs de uma O.I. da qual todos os Estados envolvidos sejam membros, e, como tais, tenham aceito a adoo da medida. A OTAN bombardeou pontos estratgicos da Srvia com o objetivo de obrigar o governo daquele pas a permitir o estacionamento de suas tropas na provncia do Kosovo para impedir a prtica de violncia contra as minorias de origem albanesa. o exemplo mais recente de interveno de carter humanitrio. Neste caso admite-se o jus belli. 3)- PARA A PROTEO DOS INTERESSES DOS SEUS NACIONAIS Todo Estado tem o direito e o dever de proteger os seus nacionais no exterior. Esse direito reconhecido tradicionalmente e Codificado na Conveno de Viena sobre Relaes Diplomticas de l961. Seu exerccio realizado atravs de misso diplomtica. A prtica americana, tradicionalmente, reserva a ao de intervir militarmente, geralmente na Amrica Central e no Caribe, onde a vida e a propriedade de seus nacionais sejam ameaadas. O Pres. Roosevelt fez um pronunciamento autorizando o envio de marines a vrias naes vizinhas. A prtica tinha cessado, voltou em l965, quando os EUA enviaram tropas para a Repblica Dominicana devido a ameaa aos seus nacionais com a ecloso de uma revoluo interna. Depois, a OEA concordou com o envio de uma fora interamericana ( que inclua tropas brasileiras ), com o objetivo de restabelecer a paz na ilha. Mais tarde, houve interveno no Panam, Granada e Haiti. CLASSIFICAO DA INTERVENO: Diplomtica ; Armada; Individual; Coletiva. Poltica ou Humanitria ( visando a proteo de nacional ).
3.1.6. RESTRIES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS ESTADOS 1. NEUTRALIDADE A neutralidade permanente ou perptua ocorre quando um Estado se compromete a no fazer guerra a nenhum outro, salvo em defesa prpria contra a agresso sofrida. Deve ser reconhecida pelos Estados, que devem garantir, pelo menos, o dever de no violar. Sua, Cidade do Vaticano e ustria. ARRENDAMENTO DE TERRITRIO Em 30.6.1977 Hong Kong deixou de ser uma Colnia Britnica e a 1 de julho voltou a fazer parte da china. Cesso temporria do Porto de Guantnamo, em Cuba, aos Estados Unidos da Amrica. O Estado que permite o arrendamento recebe uma contrapartida financeira.
43
44
2. IMUNIDADE DE JURISDIO ( OU ISENO DE JURISDIO CIVIL E CRIMINAL ) Chama-se tambm de (teoria da fico da) extraterritorialidade pelo costume, contudo no aceita hoje. Imunidade jurisdicional dos funcionrios diplomticos reconhecida por todos os Estados e codificada pela Conveno de Viena sobre Relaes Diplomticas de l961. Gozam de imunidade de jurisdio ou extraterritorialidade : Os Chefes de Estado e Governo; os Agentes Diplomticos; determinadas categorias de cnsules; tropas estrangeiras devidamente autorizadas a atravessar o territrio de um Estado ou de ele se instalar temporariamente; os oficiais e tripulantes de navios de Guerra de um Estado aceitos em guas territoriais de outro; Os oficiais e tripulantes de aeronaves militar autorizadas a pousarem em territrio estrangeiro. 4. SERVIDES INTERNACIONAIS: A jurisdio de um Estado pode sofrer restries em favor de outro ou outros Estados, por analogia ao direito civil, elas podem ser consideradas direitos reais sobre coisa alheia. As servides internacionais so restries que o Estado aceita expressa ou tacitamente quanto ao livre exerccio de sua soberania sobre seu territrio. Pode dar-se pr Tratado ( expressa ) ou pelo Costume Internacional.
3.1.7. RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DOS ESTADOS Princpio de que a violao de um compromisso acarreta a obrigao de reparar o dano por forma adequada ( C.P.J.I. ). Hoje primam os postulados da teoria do direito internacional. O Estado-membro da ONU, no exerccio de suas competncia, pode praticar atos contrrios ao direito internacional, mas incorre em responsabilidade ajuizvel perante os tribunais internacionais, mesmo que o ato entendido como ilcito no mbito do direito internacional no o seja no do direito interno desse Estado.21 Regra: O Estado internacionalmente responsvel por todo o ato ou omisso que lhe seja imputvel e do qual resulte a violao de uma norma jurdica internacional ( extensiva s Organizaes Internacionais ). A responsabilidade pode ser delituosa ou contratual, segundo resulte de atos delituosos ou de inexecuo de compromissos contrados. Em geral, a responsabilidade do Estado ser sempre indireta porque somente pode praticar atos por meio dos seus agentes e, quando responde por atos de particulares no autorizados, no por t-los praticados.
21
Miliauskas, Cleide. Interveno da ONU no Domnio Econmico de seus EstadosMembros. A Questo do Iraque. In: Revista de Direito Internacional e Econmico. Porto Alegre: Sntese/INCE, v. 2, n. 1, out/dez. 2002. p. 79.
44
45
Fundamento: Ato ilcito, no se investiga a culpa subjetiva. bastante que tenha havido afronta a uma norma do direito das gentes e da resulte um dano ao Estado ou O.I. Tambm no se admite a responsabilidade objetiva, independente de qualquer processo faltoso, exceto em casos especiais e tpicos disciplinados por Tratados recentes. A responsabilidade jurdica do Estado pode achar-se comprometida tanto por um dano material quanto por um dano moral. O que importa : 1)- Que haja um dano ao direito alheio. Se no existe o direito lesado, no se pode falar em responsabilidade no sentido em que aqui tomada a palavra. 2)- Que se trate de um ato ilcito. Ato ilcito o que viola os deveres ou as obrigaes internacionais do Estado, quer se trate de um fato positivo, quer se trate de um fato negativo ( omisso ). Tais obrigaes no resultam apenas de Tratados ou Convenes; podem decorrer tambm do costume ou dos princpios gerais do direito. 3)- Que esse ato seja realmente imputvel ao Estado. Quanto imputabilidade, a mesma resulta, naturalmente, de ato ou omisso que possa ser atribuda ao Estado, em virtude do seu comportamento. Nesta categoria esto apenas os atos ou as omisses de indivduos que o representam ou o encarnem. Mas, como a imputabilidade exige certo nexo jurdico entre o agente do dano e o Estado, preciso que aquele tenha praticado o ato na qualidade oficial de rgo do Estado ou com os meios de que dispe em virtude de tal qualidade. A atividade do Estado e de seus rgos mltipla e pode manifestar-se de diversos modos. Situaes: 1)-ATOS DOS RGOS DO ESTADO a)- Atos do rgo executivo ou administrativo So os casos mais comuns. incontestvel que o poder executivo ou as autoridades superiores que o encarnem tm qualidade para comprometer a responsabilidade do Estado. Para isto, basta que um outro Estado ou cidado estrangeiro sofra um dano resultante de ao ou omisso das referidas autoridades incompatveis com as obrigaes internacionais. A ao ou omisso pode apresentar-se de diversas formas: l)- Questes relativas s concesses ou contratos do Estado; 2)- As dvidas pblicas Excees: insolvncia do Estado devedor; riscos do negcio. 3)- As prises ilegais ou injustas. 4)- Falta de proteo devida aos estrangeiros. Governo do Estado no empregou, para proteg- los, a diligncia que, em razes das circunstncias e da qualidade da pessoa em causa, se poderia, razoavelmente, esperar de um Estado civilizado.
b)- Atos dos rgos Legislativos um Estado no pode invocar contra outro Estado sua prpria Constituio para se esquivar a obrigaes que lhe incumbem em virtude do D.I. ou dos Tratados vigentes.
45
46
c)- Atos dos rgos Jud icirios ou relativos s funes judicirias. H muita divergncia. Casos: 1)- Denegao da justia. Ampla: recusa de aplicar justia ou de conceder a algum o que lhe devido. Restrita: ( idia mais corrente no D.I. ) a impossibilidade para um estrangeiro obter justia ou a reparao de uma ofensa. Expresses de Denegao da Justia: a)- quando um Estado no fornece aos estrangeiros a devida assistncia judiciria ou porque no lhes permite acesso a seus tribunais ou porque no possui tribunais adequados; b)- quando as autoridades judicirias se negam a tomar conhecimento das causas que os estrangeiros lhes submetem por meios singulares e a cujo respeito tenham jurisdio. C)- quando ditas autoridades se negam a proferir sentena em tais causas, ou retardam obstinadamente as respectivas sentenas. D)- quando os tribunais do Estado no oferecem aos estrangeiros as garantias necessrias para a boa administrao da justia. 2)- ATOS DE INDIVDUOS O Direito Internacional reconhece a existncia de atos internacionais ilcitos imputveis exclusivamente a indivduos: Pirataria, trfico de drogas e de escravos ( tempo de paz ). Transporte de contrabando e violao de bloqueio em tempos de guerra. Os Atos ilcitos particulares suscetveis de comprometer a responsabilidade internacional do Estados, ou so lesivos a um Estado ou a meros indivduos estrangeiros. a)- Ataques ou atentados contra o Chefe de Estado ou os representantes oficiais de um Estado estrangeiro. b)- insulto bandeira ou emblemas nacionais de um pas estrangeiro; c)- publicaes injuriosas contra um pas estrangeiro. Em nenhum dos casos, o autor ou autores dos atos lesivos possuem a qualidade de rgo ou agente do Estado, nem procedem nessa qualidade. Nisto diferem tais atos dos que determinam a responsabilidade do Estado por provirem dos referidos rgos ou agentes. H vrias teorias que tentam explicar tal obrigatoriedade. Anziloti: Teoria da solidariedade do grupo. O Estado, como uma coletividade cujos membros respondem, individual e coletivamente, pelos atos de qualquer deles, responsvel ( concepo da idade mdia ). Grcio: A responsabilidade do Estado decorreria da cumplicidade com os seus membros ( fundado no Direito Romano ). Atualmente, entende-se que o Estado ser responsvel quando, por ato de particular: 1)- Deixou de cumprir o dever de manter a ordem, isto , de assegurar pessoa e bens do estrangeiro a proteo que lhe devida; 2)- Se foi negligente na represso dos atos ilcitos cometidos contra estrangeiros. O Estado pode e deve regular a condio do estrangeiro em seu territrio. Cumpre-lhe, no entanto, assegurar-lhe certa proteo, isto , reconhecer-lhe um mnimo de direitos, entre os quais, se salientam o direito vida, o direito liberdade individual, o direito de propriedade.
46
47
O Estado responde pela violao de sua obrigao de os assegurar. 3)- ATOS RESULTANTES DE GUERRAS CIVIS responsabilidade por danos resultantes., Teorias antigas: no havia responsabilidade, por confundir-se com casos similares de fora maior ( inundaes, terremotos, erupes vulcnicas ). Hipteses: 1)- danos causados por insurretos ou amotinados ou pela populao. O Estado tem o dever de avisar que falta-lhe possibilidade de exercer seus deveres elementares de preveno ou represso e recomendar a retirada do pas. Deve-se examinar se: A)- O Estado procedeu sem a conveniente diligncia para prevenir os fatos. B)- se deixou de os reprimir, isto , no reagiu contra tais fatos com a devida diligncia. Nos dois casos, a responsabilidade do Estado est comprometida. 2)- Danos causados pelas Foras Armadas ou Autoridades do Estado, na represso da insurreio ou de motins. Confunde-se com a responsabilidade resultante de atos do seu rgo executivo ou administrativo. Assim, se as aes foram contrrias aos seus deveres internacionais. Pode-se responsabilizar o Estado se: a)- houve conivncia de seus agentes ou funcionrios na causa ou na ocorrncia do motim; b)- falta de reparao nos casos de requisies; c)- falta de reparaes por danos causados sem relao direta com a luta armada ou incompatvel com as regras geralmente aceitas pelos Estados civilizados. No caso de GUERRA CIVIL a)- Insurretos Reconhecidos como Beligerantes a responsabilidade do Estado cessa quando reconheceu estes como beligerantes. Cessa tambm em relao aos outros Estados que os reconheceram como tais. b)- Insurretos que se tornaram vitoriosos. O novo governo responsveis pelos dados causados pelos insurretos. - ASPECTOS FUNDAMENTAIS PARA
O PLEITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
a)- ESGOTAMENTO DOS RECURSOS PERMITIDOS PELO DIREITO INTERNO. Tal regra universalmente admitida. necessrio o esgotamento prvio de todos os recursos locais. Tais recursos podem mostrar: a)- juridicamente, no houve dano ou ofensa; b)- H meios de defesa adequados; c)- pode ser obtida a reparao sem reclamao internacional ou reclamao diplomtica. Todo Estado que possua tribunais adequados e acessveis aos estrangeiros tem o direito de exigir que nenhuma reclamao lhe seja
47
48
apresentada por via diplomtica, antes que sua ltima instncia se pronuncie definitivamente. b)- OUTORGA DA PROTEO DIPLOMTICA DE UM ESTADO A UM PARTICULAR. Denomina-se endosso. Com isso, o Estado passa a ser o dominus litis. No podem t- la: os aptridas e os cidados com dupla nacionalidade em reclamaes contra as mesmas. No caso das O.I. a outorga de proteo diplomtica, denominase proteo funcional, outorgada aos funcionrios ao seu servio. Em qualquer dos casos, o Estado ou a O.I. faz se quiser e, de outro lado, pode faz-lo independentemente do pedido do nacional e adotar o procedimento que lhe convier.
EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL Casos: 1)- Aqueles em que o ato perde o carter ilcito, transformando-se no exerccio de um direito reconhecido. Ex. Legtima defesa 2)- Aqueles em que o ato determinante da responsabilidade, apesar de lcito em si mesmo, no pode acarretar as conseqncias naturais dos atos ilcitos. Ex.: represlias que se justificam como o nico meio de combater outros atos igualmente ilcitos. 3)-Aqueles em que o decurso do tempo extingue a responsabilidade. Ex.: prescrio liberatria. Silncio do credor durante um espao de tempo mais ou menos longo. S aplicada quando invocada. 4)-Aqueles que representam a conseqncia direta do comportamento inconveniente e censurvel do indivduo lesado. Quando o indivduo a prpria causa do fato gerador ou contribui fortemente para isso. Outros casos: Casos dos contratos particulares com um Governo estrangeiro, em que o particular se compromete a no recorrer proteo diplomtica do seu prprio governo em qualquer das disposies de tal contrato ( Clusula Calvo ). Cabe exceo: Denegao de justia ou injustia manifesta.
48
49
CONSEQUNCIAS RESPONSABILIDADE
JURDICAS
DA
A responsabilidade do Estado comporta a obrigao de reparar os danos causados e, eventualmente, dar uma satisfao adequada. Ao Estado lesado ( ou do qual um nacional tenha sido lesado ) pertence o direito reparao ou satisfao. Reparao: implcita a de dano material e do restabelecimento das coisas no estado anterior ou em sua primitiva integridade ( Se no possvel, dever haver uma indenizao equivalente ). Satisfao: implcita compensao moral, proporcional ao dano. Visa os danos no materiais ou ext ra-patrimoniais. Reparao por prejuzos Formas: direta restituio do estado anterior. Indireta indenizao ou compensao equivalente. Regra aceita: dano emergente e lucro cessante tal qual no direito civil comum. Casos de satisfao: Desaprovao de atos contrrios honra e dignidade do Estado. Devem ser pblicas. Formas mais comuns: apresentao de desculpas, a manifestao de pesar, a saudao bandeira do Estado ofendido. A destituio do autor ou autores da ofensa. Deve ter relao com a gravidade e natureza das ofensas.
RGOS DE RELAES ENTRE ESTADOS ( DIREITO DIPLOMTICO E DIREITO CONSULAR )
3.1.8. So os seguintes os rgos de Relaes entre Estados: 1)- Chefe de Estado ou Chefe de Governo 2)- Ministro das Relaes Exteriores 3)- Agentes Diplomticos 4)- Agentes Consulares ( sem representao ) 5)- Delegados junto s Organizaes Internacionais. 3.1.7.1.- O CHEFE DE ESTADO Para o DIP, o Chefe de Estado ( quer se intitule imperador, rei, Presidente da Repblica ou Chefe de Governo ) , salvo declarao formal em contrrio, o rgo encarregado das Relaes Internacionais dos Estados. Aspectos: - No cabe aos outros Estados opinarem sobre a legitimidade do mesmo; - Cabe ao respectivo Estado comunicar oficialmente. - No Brasil, a Constituio clara ao dispor que compete privativamente ao Presidente da Repblica manter relaes com os Estados estrangeiros e acreditar seus Representantes Diplomticos, bem como celebrar tratados internacionais com os mesmos, sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
49
50
No regime presidencial republicano, os poderes do Chefe de Estado costumam ser maiores do que os dos monarcas, pois so responsveis pela sua poltica exterior.
Em territrio estrangeiro, os Chefes de Estado gozam de certas prerrogativas e imunidades, que os autores antigos, em geral, diziam decorrer da fico da extraterritorialidade. Segundo a doutrina mais aceita atualmente, o fundamento para tais prerrogativas e imunidades reside nas consideraes de cortesia, de convenincia recproca e at de necessidade. Se o Chefe de Estado viaja incgnito, ele ser tratado como qualquer indivduo particular. Bastar que revele a sua qualidade para que lhe seja reconhecido o privilgio de imunidade. Entre tais privilgios, figuram: a)- a prerrogativa de inviolabilidade, que cobre a pessoa do Chefe de Estado, os seus documentos, a sua carruagem, a casa de residncia; b)- iseno de direitos aduaneiros e impostos diretos; c)- iseno de jurisdio territorial, tanto em matria penal, quanto em matria civil. A inviolabilidade pessoal, no entanto, no exclui o direito de legtima defesa. Neste aspecto, cabe registrar as seguintes excees: - Na aceitao do Chefe de Estado voluntariamente da jurisdio territorial ; - No de ao sobre imvel situado em territrio estrangeiro; )- No de ao proposta contra o Chefe de Estado, no pas em que se encontra, se tal ao se funda na sua qualidade de herdeiro. A imunidade extensiva aos membros de sua famlia e de sua comitiva. Obs.: O Chefe de Estado que tenha sido deposto ou abdicado, deixa de gozar os privilgios e imunidades reconhecidos aos titulares em exerccio. Dois exemplos, esto a trazer uma reflexo sobre o carter absoluto do Princpio da Inviolabilidade do Chefe de Estado e de Governo: 1)-Em 1998, Augusto Pinochet, a pedido de um juiz espanhol Baltazar Garzn foi denunciado por genocdio, tortura, seqestro, assassinato e desaparecimento de pessoas, solicitando a sua deteno e eventual extradio para julgamento, enquanto ele estava na Inglaterra. A Cmara dos Lordes acolheu o pedido, mas no no tocante aos atos por ele praticados quando do exerccio da presidncia. 2)- Em 1999, a Promotora-Geral do Tribunal Internacional de Haia para julgamento dos crimes praticados na Iugoslvia, indiciou o Presidente Slobodan M ilosevic por crimes contra a humanidade. Ele foi preso em 2.001 em sua residncia.
50
51
3.1.7.2.- O MINISTRO DAS RELAES EXTERIORES ( OU MINISTRO DOS NEGCIOS ESTRANGEIROS ) Geralmente denominado Chanceler na Amrica Latina. Funo: Auxiliar o Chefe de Estado na formulao e na execuo da poltica exterior do pas. o Chefe hierrquico dos funcionrios diplomticos e consulares do pas. Na prtica, dentre os rgos internos utilizados pelo D.I., o mais importante na direo da poltica exterior, embora a responsabilidade final seja sempre do Chefe de Estado. Denominao: Alm do ttulo de Ministro das Relaes Exteriores generalizado na Amrica Latina, ainda usa-se a denominao Chanceler e, por analogia, o local onde funciona o Ministrio denomina-se Chancelaria. No mbito internacional: Manter contactos com governos estrangeiros ( atravs do governo diretamente ou atravs de misses diplomticas que lhes so subordinadas ou com as embaixadas e legaes existentes no pas ). Negociaes e assinatura de Tratados Internacionais. Pela Conveno de Viena sobre o Direito dos Tratados de l969, ele no obrigado a apresentar carta de plenos poderes. Reconhecido o status no inferior a de um Embaixador pela Conveno sobre Relaes Diplomticas de 1961 e em matria protocolar, lhe mais favorvel. 3.1.7.3.- OS AGENTES DIPLOMTICOS A Conveno de Viena sobre Relaes Diplomticas de l961 o documento bsico no tocante s Relaes Diplomticas entre Estados. Agente Diplomtico era aplicado apenas ao Chefe da Misso. Hoje, tal ttulo aplicado a todos os demais funcionrios da carreira diplomtica. Funo: As Misses Diplomticas destinam-se a assegurar a manuteno das boas relaes entre o Estado representado e os Estados em que se acham sediadas, bem como proteger os direitos e interesses dos seus nacionais. Todo Estado soberano em o Direito de Legao Ativo ( envio de M.D. ) como tambm o Direito de Legao Passivo ( receber uma M.D. ). A Misso Diplomtica integrada no s pelo Chefe da Misso e pelos demais funcionrios diplomticos, mas tambm pelo pessoal administrativo e tcnico e pelo pessoal de servio. OBS.: Carreira Diplomtica: O ingresso na carreira diplomtica se d mediante concurso
51
52
realizado pelo Instituto Rio Branco, rgo encarregado da seleo e treinamento de diplomatas. Aprovado no concurso, realiza-se um estgio de dois anos, organizado nos moldes de um curso de mestrado, e entra-se para a carreira diplomtica como TERCEIRO SECRETRIO. Os cargos seguintes so os de SEGUNDO SECRETRIO, PRIMEIRO SECRETRIO, CONSELHEIRO, MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE E MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE ( EMBAIXADOR ). Para inscrever-se no concurso de admisso, o candidato deve ser brasileiro nato, estar em dia com o servio militar e com as obrigaes de eleitor; ter bons antecedentes; e ter concludo, antes da inscrio, curso superior reconhecido de graduao plena. O treinamento durante a carreira intenso e contnuo de modo a preparar o diplomata a tratar de uma srie de temas, desde paz e segurana at normas de comrcio e relaes econmicas e financeiras, direitos humanos, meio ambiente, trfico de drogas e fluxos migratrios, passando, naturalmente, por tudo que diga respeito ao fortalecimento dos laos de amizade e cooperao do Brasil com seus parceiros externos. Dominando estes temas, o diplomata dever ser capaz de desempenhar suas funes; representar o Brasil perante a comunidade de naes; colher as informaes necessrias formulao da poltica externa; participar de reunies internacionais e, nelas, negociar em nome do pas; assistir s misses no exterior; proteger os compatriotas e promover a cultura e os valores do povo brasileiro.22 Os funcionrios diplomticos podem ser permanentes ou temporrios. As primeiras Misses Diplomticas surgiram na Itlia, sculo XV, mas a classificao que hoje vigora tem origem na Conveno de Viena de 1815, qual seja: a)- a dos Embaixadores, Legados ou Nncios; b)- a dos enviados, Ministros ou outros agentes acreditados, como os primeiros, junto aos soberanos; c)- dos encarregados de negcios estrangeiros, acreditados junto aos Ministros das Relaes Exteriores. Pela Conveno de Viena, artigo 14, so: a)- Embaixadores e Nncios acreditados perante os Chefes de Estado e outros Chefes de Misses de categoria equivalente; b)- Enviados, Ministros ou Internncios, acreditados perante Chefes de Estado; c)- Encarregado de Negcios Estrangeiros, acreditados perante Ministros das Relaes Exteriores. A precedncia dentro de cada classe estabelecida pela apresentao de credenciais.
22
Disponvel em: www.mre.gov.br/portugues/ministerior;carreira_ext ; Acessado em 08/09/2005. Destaques intencionais.
52
53
O grupo de Agentes Diplomticos acreditados num mesmo Estado, denomina-se Corpo Diplomticos Estrangeiro e este presidido pelo decano ( o mais antigo agente diplomtico ). A Misso Diplomtica composta pelo Chefe da Misso, dos membros do pessoal diplomtico, do pessoal administrativo e tcnico e do pessoal de servio da misso. O pessoal diplomtico abrange o Chefe da Misso, MinistrosConselheiros, Secretrios de Embaixada ou de Legao, Adidos Militares e Adidos Civis. Antes da nomeao, o Governo faz consulta confidencial do pedido de Agreement. Ao ir, o agente diplomtico leva o Passaporte Diplomtico e as Credenciais. PRERROGATIVAS E IMUNIDADES DIPLOMTICAS PRIVILGIOS DIPLOMTICOS: No mbito da Misso Diplomtica, tan to os membros do quadro diplomtico de carreira ( do Embaixador ao Terceiro-Secretrio ), quanto os membros do quadro administrativo e tcnico ( tradutores, contabilistas, etc. ) estes ltimos, desde que oriundos do Estado acreditante, e no recrutados in loco gozam de ampla imunidade de jurisdio penal e civil. So, ademais: Fisicamente inviolveis e em caso algum podem ser obrigados a depor como testemunhas. Reveste-os, alm disso, a imunidade tributria. Excees: 1)- Processo sucessrio, em que o agente esteja a ttulo estritamente privado; 2)- Ao real relativa ao imvel particular. Inclui-se os membros das respectivas famlias que vivam sob sua dependncia e tenham, por isso, sido includos na lista diplomtica. Tambm so fisicamente inviolveis os locais da Misso Diplomtica com todos os bens ali situados, assim como os locais residenciais utilizados pelo quadro diplomtico ou pelo quadro administrativo e tcnico. Tais imveis e os valores mobilirios nele encontrveis, no podem ser objeto de busca, requisio, penhora ou medida qualquer de execuo. Os arquivos e documentos da misso inviolveis so inviolveis onde quer que se encontrem. Deveres das Misses Diplomticas: Deveres junto ao Estado ao qual se acha acreditado: a)- Tratar com respeito e considerao o Governo e as autoridades locais. b)- No intervir em sua poltica interna. c)- No participar de intrigas partidrias. d)- Respeitar as leis e regulamentos locais. Deveres para com o Estado patrial:
53
54
a)- direito de representao: o Agente Diplomtico fala em nome do seu Governo junto ao Estado em que est acreditado. b)- Promove relaes amistosas bem como o intercmbio econmico, cultural e cientfico. Em decorrncia do direito de representao, cabe Misso negociar com o estado acreditado. O Diplomata deve proteger os interesses do seu Estado bem como dos seus nacionais junto s autoridades do pas. Tem o dever de observao. Informar ao respectivo Governo a situao do pas. Termo da Misso Diplomtica: - Ato Administrativo do Estado patrial; - Remoo para outro posto; - Volta Secretaria de Estado; - Demisso ou Aposentadoria; - Se o Chefe da Misso ou qualquer agente considerado persona non grata pelo Estado de residncia. O Estado acreditado poder, a qualquer momento, e sem ser obrigado a justificar a sua deciso, notificar ao Estado acreditante que o Chefe da Misso ou qualquer membro do pessoal diplomtico da misso persona non grata ou que outro membro do pessoal da misso no aceitvel. ( Art. 9, 2___ ). - Ruptura das Relaes Diplomticas - Extino do Estado acreditado - Fechamento da Misso. - Falecimento.
3.1.7.4.- OS AGENTES CONSULARES Consulados: So reparties pblicas estabelecidas pelos Estados em portos ou cidades de outros Estados com a misso de velar pelos seus interesses comerciais, prestar assistncia e proteo aos seus nacionais, legalizar documentos, exercer polcia de navegao e fornecer informes de natureza econmica e comercial sobre o pas ou distrito onde se acham instalados. Codificao: Conveno de Viena sobre Relaes Consulares de 1963 Conveno sobre Agentes Consulares de Havana de 1928 Relaes Consulares: Depende do consentimento mtuo dos Estados interessados. Tipos de Reparties Consulares: Consulado-Geral Consulado Vice-Consulado Agncia Consular
54
55
4 Classes de Cnsules: Cnsules-Gerais, cnsules, vice-cnsules e agentes consulares. Nomeao e Admisso: Depende da aceitao prvia do nome indicado. O Estado por negar o exequatur. Nem todos so funcionrios de carreira. Ao contrrio, a maioria composto de consules honorrios. Cnsule Electi: Cnsul honorrio Cnsule missi: consules profissionais Casos de cassao pelo Estado-patrial: Culpa do Cnsul ( m conduta ), casos de ruptura de relaes diplomticas e consulares entre os Estados. Funes consulares: Constam da legislao interna dos respectivos Estados, dentre elas, pode-se mencionar que os cnsules possuem funo certificante e de autenticao de documentos produzidos por rgos pblicos do Estado estrangeiro perante o qual desempenham as suas atribuies 23 , nos termos da Conveno de Viena sobre Relaes Consulares de l963. No entanto, o Estado receptor tem o direito, ao admitir um funcionrio consular, de comunicar que o exerccio de determinada funo consular no permitida. Exemplo: casamento consular. PRIVILGIOS E IMUNIDADES Bem distintos as exclusivamente do Cnsul e da Repartio. Repartio Consular: a)- Inviolabilidade da repartio, dos arquivos e da correspondncia. b)- Iseno fiscal e aduaneira e imunidade trabalhista. Exceo: Caso de incndio ou outro sinistro que exija medidas imediatas, presume- o consentimento para penetrar na repartio. Cnsules: inviolabilidade pessoal ( s alcana seus atos de ofcio ). Exceo: crimes graves esto sujeitos a priso preventiva. Gozam de imunidade de jurisdio civil em relao a atos praticados no exerccio de suas funes. No se estende aos membros de sua famlia, nem residncia.
23
Jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal in Revista de Direito Internacional e Econmico. Porto Alegre: Sntese/INCE, v. 2, n. 1, out/dez. 2002., p. 141.
55
56
O Cnsul poder ser chamado a depor como testemunha no decorrer de processo judicirio ou administrativo ( obrigatrio ). No entanto, no so obrigados a depor sobre fatos relacionados com o exerccio de sua funo, nem exibir documentos oficiais. Existe iseno fiscal, mas h tantas excees que ela fica enfraquecida. Cnsul honorrio: tem pequenas regalias com as de que possa necessitar em razo da posio oficial TERMO DA FUNO CONSULAR Remoo ao novo posto ou volta ao respectivo pas Demisso ou aposentadoria Falecimento O Estado de residncia pode anular o exequatur, isto , declar-lo persona non grata. Poder ser tomada a qualquer momento, sem explicar os motivos ( pode ser conduta incompatvel ou motivo poltico ). Declarao de Guerra ( mesmo assim, deve haver a cassao do exequatur ).
3.1.7.5. DELEGAES JUNTO S ORGANIZAES INTERNACIONAIS 5.1.Base normativa Conveno de Viena sobre a Representao de Estados em suas relaes com as O.I. de carter universal Abrangncia As Naes Unidas, suas agncias especializadas, a Agncia Internacional de Energia Atmica ou outras organizaes similares cuja responsabilidade e a escolha dos membros seja feita em escala mundial. Consideraes Misses junto as O.I. ( Arts. 5 a 41 ) Delegao junto a rgos e Conferncias ( Arts. 42-70) Observadores junto a rgos e conferncias ( Art. 71 e 72 ). As Misses gozam de inviolabilidade, iseno fiscal, inviolabilidade de arquivos e documentos e liberdade de comunicao. Quanto aos membros, inviolabilidade de residncia e propriedade, imunidade de jurisdio penal, civil e administrativa. Iseno quanto legislao social e trabalhista. Iseno fiscal e aduaneira. Em geral, tm o mesmo status das Misses ordinrias.
56
57
3.1.9. SOLUO PACFICA DOS CONFLITOS INTERNACIONAIS 1. Introduo So alternativas de soluo dos conflitos internacionais, fora do recurso extremo da guerra. Com a evoluo do Direito Internacional, especialmente depois da Carta das Naes Unidas, a guerra tem sido como um ilcito internacional e um recurso inadequado. Propugna-se, atravs do D.I., que os conflitos entre naes sejam resolvidos por meios pacficos, sendo, ao menos, um dever moral dos Estados que tal busquem. Seja como for, , pelo menos, dever moral de todo Estado no recorrer luta armada, antes de tentar qualquer meio pacfico para a soluo de controvrsia que surja entre o mesmo e qualquer outro membro da comunidade internacional ( Hildebrando Acciolly ). Classificao Os conflitos em geral, podem ser agrupados como polticos ou jurdicos. Jurdicos A)- Violao de Tratados e Convenes B)- Desconhecimento, por um Estado, dos direitos do outro C)- Da ofensa de princpios correntes do direito internacional, na pessoa de um cidado estrangeiro. Polticos A)- Choques de interesses polticos ou econmicos B)- Ofensa Honra ou Dignidade de um Estado A Soluo Pacfica dos Conflitos Trs formas so de carter amistoso ( denominados Meios Diplomticos, Meios Jurdicos e Outros Meios ). Outras formas so de carter coercitivo ( no amistoso ) A)-MEIOS DIPLOMTICOS 1)-AS NEGOCIAES DIRETAS ( ENTENDIMENTO DIRETO EM SUA FORMA SIMPLES ) O meio usual, geralmente o de melhores resultados para a soluo de divergncia entre Estados, o da negociao direta entre as partes. Em geral, basta na maioria dos casos um entendimento verbal entre a misso diplomtica e o Ministrio das Relaes Exteriores local. No casos mais graves, a soluo poder ser alcanada mediante entendimentos entre altos funcionrios dos dois governos, os quais podem ser os prprios Ministros das Relaes Exteriores. A soluo da controvrsia constar de uma troca de notas. Pode haver a desistncia, aquiescncia ou a transao.
57
58
2)-CONGRESSOS E CONFERNCIAS Quando a matria ou o assunto em litgio interessa a diversos Estados, ou quando se tem em vista a soluo de um conjunto de questes sobre as quais existem divergncias, recorre-se a um congresso ou a uma conferncia internacional. Atualmente, tais casos so tratados no seio da Assemblia Geral e, no caso da Amrica Latina, no mbito da Organizao dos Estados Americanos. 3)- BONS OFCIOS Tentativa amistosa de uma terceira potncia, ou de vrias, no sentido de levar Estados litigantes a se porem de acordo. O Estado que se oferecerem ou que aceitarem alguma solicitao, no tomam parte diretamente nas negociaes. O oferecimento de bons ofcios no constitui ato inamistoso, to pouco a sua recusa. O terceiro Estado denominado prestador dos bons ofcios. Exemplo: os do governo portugus em 1864, para o restabelecimento de relaes diplomticas com o Brasil e a Gr Bretanha, abaladas pela consequncia da questo Christie. Os do Presidente Theodore Roosevelt dos EUA, em 1905, para a concluso da guerra entre o Japo e a Rssia.
4)- A MEDIAO Consiste na interposio amistosa de um ou mais Estados entre outros Estados, para a soluo pacfica de um litgio. Ao contrrio do que sucede com os bons ofcios, a mediao constitui-se de uma participao direta nas negociaes entre os litigantes. O terceiro Estado toma conhecimento do desacordo e das razes de cada um dos contendores, para finalmente propor-lhes uma soluo. Geralmente um sujeito do direito das gentes ( Estado, O.I., Santa S ou um Estadista associado ao exerccio de uma elevada funo pblica, cuja individualidade seja indissocivel da pessoa jurdica internacional que ele representa.) Exemplos: Inglaterra, entre o Brasil e Portugal, para o reconhecimento da independncia poltica brasileira, consagrado no Tratado de Paz e Amizade celebrado no Rio de Janeiro em 1825; a do Papa Leo XIII, em 1885, no conflito entre a Alemanha e a Espanha sobre as ilhas Carolinas. Joo Paulo II no conflito argentino-chileno do canal de Beagle, em 1981. 5.SISTEMA CONSULTIVO ( Consulta ) Um entendimento direto programado, geralmente previsto em tratado. Define-se como uma troca de opinies, entre dois ou mais governos interessados direta ou indiretamente num litgio internacional, no intuito de alcanarem uma soluo conciliatria. Foi no continente americano que esse sistema desenvolveu-se e adquiriu o carter preciso de meio de soluo pacfica de controvrsia e tambm o de meio de cooperao pacifista internacional.
58
59
Tal como se acha hoje estabelecido, o sistema consultivo interamericano tem, assim, dois aspectos: o de mtodo para soluo pacfica de controvrsias e o do processo para o estudo rpido, em conjunto, de problemas de natureza urgente e de interesse comum para os Estados-membros da OEA. B)- OS MEIOS JURDICOS 1)- OS TRIBUNAIS INTERNACIONAIS PERMANENTES Historicamente, a primeira corte criada foi a Corte CentroAmericana de Justia, criada em 1907. A)-A CORTE PERMANENTE DE JUSTIA INTERNACIONAL ( depois sucedida pela CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIA ( C.I.J. ). Observao: Jurisdio voluntria dos Estados. B)- TRIBUNAL INTERNACIONAL DO DIREITO DO MAR 2)- OS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS: A)- O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DAS NAES UNIDAS ( UNAT ) B)- OUTROS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS: DO BANCO MUNDIAL, DA O.I.T. E DA O.E.A.
C)- OUTROS MEIOS: ARBITRAGEM INTERNACIONAL Era conhecida desde 3.200 A.C. Conceito: a arbitragem internacional tem por objeto resolver os litgios entre Estados por meios de juzes de sua livre escolha e na base do respeito do direito ( Art. 37 da Conveno para soluo pacfica dos conflitos internacionais, assinada em Haia, 1907) Aplicao: qualquer conflito internacional pode ser submetido soluo arbitral. Na realidade, h vrios tipos de arbitragem no direito interno e internacional. Neste, nem todos casos envolver apenas o Direito Internacional Pblico, o que depende dos atores envolvidos. Assim, genericamente, podemos apontar os seguintes atores envolvidos numa arbitragem: I- entre Estados: regida por normas do Direito Internacional Pblico, tendo por fontes, principalmente, os tratados e os costumes internacionais; a arbitragem clssica, encontrada nas relaes internacionais desde a Antigidade remota, a arbitragem internacional entre sujeitos do Direito Internacional; II- entre Estados e o particular nacional: quando o Estado celebra contrato com particular sujeito jurisdio estatal, e o instrumentos prev o emprego da arbitragem, aplicando-se,m via de regra, a lei material do Estado; III- entre Estado e particular estrangeiro: quando o Estado contrata com particular estrangeiro, celebrando contrato internacional, e o instrumento prev o emprego da arbitragem, aplicando-se a lei material previamente estabelecida pelas partes; a chamada arbitragem mista,
59
60
instaurada com freqncia para solucionar litgios surgidos por fora de contratos internacionais ou investimentos estrangeiros, que se encontra na linha divisria do interesse pblico e dos interesses privados; IV entre particulares sujeitos a ordenamentos jurdicos diversos; nesse caso, o contrato guarda correlao com mais de um ordenamento jurdico, devendo a controvrsia ser submetida a normas materiais e procedimentos previamente escolhidos pelas partes; trata-se da arbitragem do Direito Internacional Privado, chamada tambm de arbitragem impropriamente internacional, pois costuma ser feita com base nas leis de um nico pas; e V- entre particulares sujeitos ao mesmo ordenamento jurdico; a arbitragem aplica-se a controvrsias entre partes sujeitas a um nico sistema jurdico, o nacional. As quatro ltimas espcies configuram, portanto, a arbitragem comercial, nacional ou internacional, da qual nos ocupamos detalhadamente alhures, mas que no ser enfocada neste estudo, voltado para a arbitragem internacional entre sujeitos do DIP, em especial, no contexto da Organizao Mundial do Comrcio OMC. 24
Caractersticas: a)- o acordo de vontade dos litigantes no tocante a que o motivo determinante da controvrsia seja soluciona por rbitro ou rbitros de sua livre escolha; b)- que a deciso dos rbitros seja obrigatria para os litigantes. Tipos: a)-Voluntria ou facultativa b)- Obrigatria ou permanente ( em virtude de previso em Tratado, em caso de futuros conflitos) Compromisso: Ato pelo qual os Estados litigantes acordam na entrega da soluo de suas diferenas arbitragem. Competncia para firmar o compromisso: dada pelo direito interno de cada pas. No Brasil essa competncia pertence ao Poder Executivo embora sujeito aprovao posterior do Congresso Nacional, na mesma situao de celebrao de Tratados Internacionais. Escolha dos rbitros: livre. Os interessados podem escolhlos diretamente ou delegar tal faculdade a um Chefe de Estado ou a outras pessoas. Composio do Juzo Arbitral: Pode ser constitudo por um s rbitro ou diversos. Cada litigante pode indicar dois rbitros e os indicados, por sua vez, escolher o super-rbitro ou desempatador. Nulidade da Sentena Arbitral: Se o rbitro ou Tribunal exceder aos poderes conferidos ou se houver cerceamento de defesa, a sentena ser nula.
24
Cretella Neto, Jos. Arbitragem Internacional: O Significado Peculiar do Instituto No Contexto do Mecanismo de Soluo de Controvrsias da Organizao Mundial do Comrcio. In: Revista de Direito Internacional e Econmico. Porto Alegre: Sntese/INCE, v. 2, n. 1, out/dez. 2002. p. 15,16.
60
61
2, INQURITO Ocorrendo um conflito entre dois ou mais Estados, uma comisso estuda os fatos que ensejaram a divergncia, elaborando, em seguida, um relatrio que, se aprovado, servir de base para solucionar o impasse. Embora a concluso do relatrio no seja obrigatria para as partes, estas se comprometem a no iniciar qualquer atividade blica enquanto a Comisso estiver exercendo suas atividades. ( Arajo, Luis Ivani Amorim. Curso de Direito Internacional Pblico ) OS MEIOS COERCITIVOS 1.RETORSO o ato por meio do qual um Estado ofendido aplica ao Estado que tenha sido o seu agressor as mesmas medidas ou os mesmos processos que este empregou ou emprega contra ele. , pois, uma espcie da aplicao da lei de Talio. Exemplos: a interdio de acesso de portos de um Estado aos navios de outro Estado; a concesso de certos privilgios ou vantagens aos nacionais de um Estado, simultaneamente, com a recusa dos mesmos favores aos nacionais de outro Estado, etc. A Retorso medida, certamente, legtima; mas a doutrina e a prtica internacional contempornea lhe so pouco favorveis. A Retorso implica a aplicao, de um Estado, de meios ou processos idnticos aos que ele empregou ou est empregando. A Retorso consiste, em geral, em simples medidas legislativas ou administrativas, ao passo que as Represlias se produzem sob a forma de vias de fato, atos violentos, recursos fora. 2. AS REPRESLIAS As represlias so medidas coercitivas, derrogatrias das regras ordinrias do direito das gentes, tomadas por um Estado em conseqncia de atos ilcitos praticados, em seu prejuzo, por outro Estado e destinadas a impor a este, por meio de um dano, o respeito do direito ( Instituto de Direito Internacional, 1934 ). So medidas mais ou menos violentas e, em geral, contrrias a certas regras ordinrias de direito das gentes, empregadas por um Estado contra outro, que viola ou violou o seu direito ou o do seus nacionais. E no so conforme disse Kelsen um delito, na medida em que se realizam como uma reao contra um delito. Distingue-se da Retorso, por se basearem na existncia de uma injustia ou da violao de um direito; ao passo que a Retorso motivada por um ato que o direito no probe ao Estado estrangeiro, mas que causa prejuzo ao Estado que dela lana mo. 3. O EMBARGO uma forma especial de represlia que consiste, em geral, no seqestro, em plena paz, de navios e cargas de nacionais de um Estado estrangeiro, ancorado nos portos ou em guas territoriais do Estado que lana mo desse meio coercitivo. Foi abandonado pela prtica internacional e condenado pela doutrina.
61
62
4. BLOQUEIO PACFICO O bloqueio pacfico ou bloqueio comercial constitui outra forma de represlia. Consiste em impedir, por meio de fora armada, as comunicaes com os portos ou as costas de um pas ao qual se pretende obrigar a proceder de determinado modo. Conforme foi visto, trata-se de um dos meios de que o Conselho de Segurana das Naes Unidas pode recorrer para obrigar determinado Estado a proceder de acordo com a Carta. 5. A BOICOTAGEM a interrupo de relaes comerciais com um Estado considerado ofensor dos nacionais ou dos interesses de outro Estado. Mais apropriadamente, atualmente se denomina EMBARGO ECONMICOCOMERCIAL. Pode-se afirmar que Hoje primam os postulados da teoria do direito internacional. O Estado-membro da ONU, no exerccio de suas competncias, pode praticar atos contrrios ao direito internacional, mas incorre em responsabilidade ajuizvel perante os tribunais internacionais, mesmo que o ato entendido como ilcito no mbito do direito internacional no o seja no do direito interno desse Estado. No se trata exatamente de supremacia do direito internacional sobre o direito interno, mas da integrao da normatividade dos sistemas interno e internacional por conseqncia das pertinentes determinaes e preceitos do direito constitucional de cada um dos Estados. 6. A RUPTURA DE RELAES DIPLOMTICAS A ruptura de relaes diplomticas ou cessao temporria das relaes oficiais entre os dois Estados pode resultar da violao, por um deles, dos direitos do outro. Mas pode tambm ser empregada como meio de presso de um Estado sobre outro Estado, a fim de o forar a modificar a sua atitude ou chegar a acordo sobre algum dissdio que os separe. Assim, usado como sinal de protesto contra uma ofensa recebida, ou como maneira de decidir o Estado contra o qual se aplica, a adotar procedimento razovel e mais conforme aos intuitos que se tm em vista. No segundo sentido, est prevista no artigo 41 da Carta das Naes Unidas, como uma das medidas que podem ser recomendadas pelo Conselho de Segurana para a aceitao de suas decises, em caso de ameaa contra a paz internacional.
62
63
3.1.10. DA NACIONALIDADE ESTADO )
( DIMENSO PESSOAL DO
CONCEITOS PRVIOS NECESSRIOS POVO: o conjunto de pessoas que fazem parte de um Estado. o seu elemento humano. O povo est unido ao Estado pelo vnculo jurdico da nacionalidade. POPULAO: o conjunto de habitantes de um territrio, de um pas, de uma regio, de uma cidade. Esse conceito e mais extenso que o de povo, pois engloba os nacionais e os estrangeiros, desde que habitantes de um mesmo territrio. NAO: agrupamento humano, em geral numeroso, cujos membros, fixados num territrio, so ligados por laos histricos, culturais, econmicos, lingusticos. CIDADO: o nacional ( brasileiro nato ou naturalizado ) no gozo dos direitos polticos e participantes da vida do Estado. (Alexandre de Morais). Cidado de um Estado no qualquer habitante desse Estado, mas apenas quem possui o direito de cidadania ( Feu Rosa). Cidado, isto , detentor da cidadania, aquela pessoa que se encontra no uso e gozo dos seus direitos polticos. ( idem). Cidado , pois, o eleitor em dia com as suas obrigaes eleitorais. ( Ari F. de Queiroz ). A relao entre o nacional e o cidado que aquele pressuposto deste, vale dizer, no h como ser cidado de um Estado ( Brasil ) sem ser seu nacional ( brasileiro ). S quem pode ter cidadania so as pessoas fsicas. As pessoas jurdicas so entes e adquirem a nacionalidade. Tornam-se empresas nacionais ou associaes nacionais, etc. (Feu Rosa) NACIONALIDADE: o vnculo jurdico-poltico de Direito Pblico interno, que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimenso pessoal do Estado ( Pontes de Miranda ). NACIONAL:(ou da nacionalidade), que pode ser nato ou naturalizado. CIDADO( ou da cidadania) e a do ESTRANGEIRO. POLIPTRIDA: o que tem mais de uma nacionalidade, o que acontece quando sua situao de nascimento se vincula aos dois critrios de determinao de nacionalidade primria. APTRIDA ( ou HEIMATLOS, expresso alem que significa sem ptria ou aptrida )- tambm um efeito possvel da diversidade de critrios adotados pelos Estados na atribuio da nacionalidade. Torna-se, assim, sem nacionalidade.
63
64
3.1.10.2. A NACIONALIDADE um direito fundamental do homem, sendo inadmissvel uma situao, independente da vontade do indivduo, que o prive desse direito. A DUDH bem o reconhece, quando estatui que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade e ningum ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade ( Art. 15 ). ESPCIES DE NACIONALIDADE 1.1.1. ORIGINRIA ( PRIMRIA) Resulta do nascimento, a partir do qual, atravs de critrios sanguneos, territoriais ou mistos, ser estabelecida. Os critrios de atribuio da nacionalidade originria, so basicamente dois: o ius sanguinis e o ius soli, aplicando-se ambos a partir de um fato natural: o nascimento. IUS SANGUINIS ( origem sangnea)- Por esse critrio ser nacional todo o descendente de nacional, independentemente do local do nascimento. IUS SOLI ( origem territorial )- Por esse critrio, ser nacional o nascido no territrio do Estado, independentemente da nacionalidade de sua ascendncia. A Constituio brasileira adotou-o em regra. BRASILEIROS ORIGINRIA NATOS-HIPTESES DE AQUISIO
Previso legal: Constituio Federal, artigo 12, inciso I. A regra adotada, foi o IUS SOLI, mitigada pela adoo do IUS SANGUINIS somado a determinados requisitos. Assim, so brasileiros natos: 1)- os nascidos na Repblica Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes no estejam a servio do seu pas ( IUS SOLI ) Territrio nacional: terras delimitadas pelas fronteiras geogrficas, com rios, lagos, baas, golfos, ilhas, bem como o espao areo, o mar territorial, formando o territrio propriamente dito; os navios e as aeronaves de guerra brasileiros, onde quer que se encontrem; os navios mercantes brasileiros em alto mar ou de passagem em mar territorial estrangeiro; as aeronaves civis brasileiras em vo sobre o alto mar ou de passagem sobre guas territoriais ou espaos areos estrangeiros. Exceo ao IUS SOLI: exclui da nacionalidade brasileira os filhos de estrangeiros que estejam a servio do seu pas. 2)- os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou me brasileira, desde que qualquer deles esteja a servio da Repblica Federativa do Brasil ( IUS SANGUINIS + critrio funcional ).
64
65
Critrios: Ser filho de pai brasileiro ou me brasileira ( IUS SANGUINIS ) O pai ou a me devem estar a servio da Repblica Federativa do Brasil ( critrio funcional ), abrangendo-se o servio diplomtico; servio consular; servio pblico de outra natureza prestado aos rgos da administrao centralizada ou descentralizada ( autarquias, sociedades de economia mista e empresas pblicas ) da Unio, dos Estados-membros, dos Municpios, do Distrito Federal ou dos Territrios. 3)- os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de me brasileira, desde que venham a residir na Repblica Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira ( IUS SANGUINIS + CRITRIO RESIDENCIAL + OPO CONFIRMATIVA) Conhecida por nacionalidade potestativa. Requisitos: Os nascidos de pai brasileiro ou me brasileira; Pai brasileiro ou me brasileira que no estejam a servio do Brasil. Fixao de residncia a qualquer tempo; Realizao de opo a qualquer tempo; OPO: consiste na declarao unilateral de vontade de conservar a nacionalidade brasileira primria, na j vista hiptese de nacionalidade potestativ a. A aquisio, apesar de provisria, d-se com a fixao da residncia( fato gerador), ficando seus efeitos suspensos at que haja a opo confirmativa. Por isso, a opo uma condio confirmativa e no formativa da nacionalidade. A opo feita perante a Justia Federal a qualquer tempo, a qual ter efeito retroativo. Contudo, tal como nas Constituies anteriores, at a maioridade so brasileiros esses indivduos. Alcanando a maioridade, essas pessoas passam a ser brasileiras sob condio suspensiva. Sua condio de brasileiro nato fica suspensa at que seja feita a opo. ADQUIRIDA ( SECUNDRIA ) a que se adquire por vontade prpria, aps o nascimento, e em regra pela naturalizao. O brasileiro naturalizado aquele que adquire a nacionalidade brasileira de forma secundria, ou seja, no pela ocorrncia de um fato natural, mas por um ato voluntrio. A naturalizao o nico meio derivado de aquisio da nacionalidade, permitindo-se ao estrangeiro que detm outra nacionalidade ou ao aptrida ( tambm denominado heimatlos ), que no possui nenhuma, assumir a nacionalidade do pas em que se encontra, mediante a satisfao dos requisitos constitucionais e legais. No existe direito pblico subjetivo obteno da naturalizao, que se configura como ato de soberania estatal, sendo, portanto, ato discricionrio do Chefe do Poder Executivo. A naturalizao pode ser tcita ou expressa.
65
66
DA NATURALIZAO Todos os pases reconhecem o direito de estrangeiros adquirirem por naturalizao sua nacionalidade, desde que determinadas condies sejam preenchidas, condies estas que podem ser mais ou menos severas de conformidade com a poltica demogrfica do pas. 1)- NATURALIZAO TCITA ou GRANDE NATURALIZAO Art. 69, 4 da Constituio de 24 de fevereiro de 1891, previa serem : cidados brazileiros os estrangeiros que, achando-se no Brazil aos 15 de novembro de 1889, no declararem, dentro em seis mezes depois de entrar em vigor a Constituio, o animo de conservar a nacionalidade de origem. Aps tal prazo, deixou de produzir efeitos jurdicos. NATURALIZAO EXPRESSA aquela que depende de requerimento do interessado, demonstrando sua manifestao de vontade em adquirir a nacionalidade brasileira. Divide-se em ordinria e extraordinria. No Brasil, a naturalizao prevista no art. 12, inciso II, que estabelece as seguintes condies: 2.1. ORDINRIA O processo de naturalizao deve respeitar os requisitos legais, bem como apresenta caractersticas administrativas, uma vez que todo o procedimento, at deciso final do Presidente da Repblica ocorre perante o Ministrio da Justia, porm com uma formalidade de carter judicial, uma vez que: a entrega do certificado de naturalizao ao estrangeiro que pretende naturalizar-se brasileiro constitui o momento de efetiva aquisio da nacionalidade brasileira. Este certificado deve ser entregue pelo magistrado competente ( da Justia Federal ). Enquanto no ocorrer tal entrega, o estrangeiro ainda no brasileiro, podendo, inclusive, ser excludo no territrio nacional. 2.1.1. ESTRANGEIROS ( EXCLUDOS OS ORIGINRIOS DOS PASES DE LNGUA PORTUGUESA ) Requisitos ( Estatuto dos Estrangeiros, Lei 6.815 19/8/80) prev: - Capacidade civil segundo a lei brasileira; - Ser registrado como permanente no Brasil ( possuir o visto de permanncia ) - Residncia contnua pelo prazo de 4 ( quatro ) anos - Ler e escrever em portugus - Boa conduta e boa sade - Exerccio de profisso ou posse de bens suficientes manuteno prpria e da famlia; - Bom procedimento;
66
67
- Inexistncia de denncia, pronncia ou condenao no Brasil ou no exterior por crime doloso a que seja cominada pena mnima de priso, abstratamente considerada superior a um ano. OBS.: A simples satisfao dos requisitos no assegura a nacionalizao do estrangeiro, uma vez que a concesso da nacionalidade ato discricionrio do Poder Executivo. 2.1.2. PARA OS ORIGINRIOS DE LNGUA PORTUGUESA, EXCETO PORTUGUESES RESIDENTES NO BRASIL A Constituio prev apenas dois requisitos para os originrios de pases de lngua portuguesa adquirirem a nacionalidade brasileira, quais sejam: A)- Residncia por um ano ininterrupto; B)- Idoneidade moral. Alm disso, exige-se o requisito da capacidade civil, pois a aquisio da nacionalidade secundria decorre de um ato de vontade. 2.1.3. PARA OS PORTUGUESES RESIDENTES NO BRASIL Alm do caso da aquisio igual ao dos originrios dos pases de lngua portuguesa, a Constituio prev a possibilidade de serem atribudos aos portugueses com residncia permanente no pas, os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado, se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Neste caso, eles no perdem a nacionalidade portuguesa. 2.2. QUINZENRIA NATURALIZAO EXTRAORDINRIA OU
Foi uma inovao da C.F. de 1988. Somente so exigidos os seguintes requisitos: a)- residncia fixa no pas h mais de 15 anos; b)- ausncia de condenao penal ; c)- requerimento do interessado; 2.3. OUTROS CASOS: as hipteses abaixo deixaram de constar do texto constitucional em virtude da desnecessidade de especificar hipteses casusticas, que devem ficar a cargo do legislador ordinrio. Tendo sido o Estatuto do Estrangeiro recepcionado pela atual. Constituio, tais casos continuam a existir como hipteses legais de aquisio da nacionalidade secundria. 2.3.1. RADICAO PRECOCE - Podem ser considerados naturalizados os nascidos no estrangeiro, que hajam sido admitidos no brasul durante os primeiros cinco anos de vida, estabelecidos definitivamente no territrio nacional, que para
67
68
preservar a nacionalidade brasileira deveriam manifestar-se por ela, inequivocamente, at dois anos aps atingir a maioridade. 2.3.2. CURSO SUPERIOR Os nascidos no estrangeiro que, vindo a residir no Pas antes de atingida a maioridade, fizessem curso superior em estabelecimento nacional e tivessem requerido a nacionalidade at um ano depois da formatura ( concluso do curso superior ). PERDA DA NACIONALIDADE A perda da nacionalidade s poder ocorrer nas hipteses taxativamente previstas na Constituio Federal, sendo vedada a ampliao de tais hipteses pelo legislador ordinrio, e ser declarada quando o brasileiro: Tiver cancelada sua naturalizao, por sentena judicial, em virtude de atividade nocivas ao interesse nacional ( ao de cancelamento de naturalizao ) Adquirir outra nacionalidade (naturalizao voluntria), salvo nos casos: A)- de reconhecimento de nacionalidade originria pela lei estrangeira; B)- de imposio de naturalizao, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condio para permanncia em seu territrio ou para o exerccio de direitos civis. Obs. Se for adquirida com fraude lei, nos termos da legislao civil ordinria. AO DE CANCELAMENTO DE NATURALIZAO Esta hiptese de perda da nacionalidade tambm conhecida como perda-punio e somente se aplica, obviamente, aos brasileiros naturalizados. Dois requisitos ( prtica de atividade nociva ao interesse nacional; cancelamento por sentena judicial com trnsito em julgado). A ao proposta pelo Ministrio Pblico Federal. Efeitos, no caso de sentena que acate o pedido, ex nunc. A hiptese de se readquirir a naturalizao s poder existir no caso de ao rescisria. NATURALIZAO VOLUNTRIA Conhecida como perda-mudana. ( voluntariedade de conduta; capacidade civil do interessado; aquisio de nacionalidade estrangeira)
68
69
3.1.10.3.TRATAMENTO DIFERENCIADO BRASILEIRO NATO E NATURALIZADO
ENTRE
A Constituio brasileira, em virtude do princpio da igualdade, determina que a lei no poder estabelecer distino entre brasileiros natos e naturalizados. Portanto, as hipteses de tratamento diferenciado so as quatro constitucionais: cargos, funes, extradio e propriedade de empresa jornalstica e de radiodifuso sonora e de sons e imagens. A). CARGOS ( Art. 12, 3 C.F. ) O legislador constituinte fixou dois critrios para definio dos cargos privativos aos brasileiros natos: a chamada linha sucessria e a segurana nacional. Cargos privativos: PRESIDENTE DA REPBLICA, VICE-PRESIDENTE, PRESIDENTE DA CMARA DOS DEPUTADOS; PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL; MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; DA CARREIRA DIPLOMTICA; DE OFICIAL DAS FORAS ARMADAS E DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. No h impedimento para o brasileiro naturalizado ocupar o cargo de Ministro das Relaes Exteriores. B)-FUNO ( art. 89, VII C.F.) A C.F. reserva seis assentos do Conselho da Repblica aos brasileiros natos. O C.R. rgo superior de consulta do P.R. No h impedimento a que um naturalizado faa parte do C.R., observado os cargos para natos. C)-DIREITO DE PROPRIEDADE A propriedade de empresa jornalstica e de radiodifuso sonora e de sons e imagens privativa de brasileiros natos ou naturalizados h mais de dez anos, aos quais caber a responsabilidade por sua administrao e orientao intelectual. D)-EXTRADIO ( ser estudada parte ) 3.1.10.4. CONDIO JURDICA DOS ESTRANGEIROS Nacionais Estrangeiros permanentes Estrangeiros temporrios Os Estrangeiros podem ter nacionalidade estrangeira ou estar na situao de aptrida
69
70
O Direito de Conservao e Segurana do Estado permite- lhe legislar sobre o estrangeiro, desde que respeitados os seus direitos humanos. O estrangeiro goza dos mesmos direitos que os nacionais, excludos aqueles expressamente mencionados na legislao, cabendo- lhes cumprir as mesmas obrigaes que os nacionais. Embora isento do servio militar, poder ser obrigado, como os demais habitantes do pas, a prestar ajuda em caso de incndio ou outras calamidades pblicas, como terremotos, inundaes,etc. Os Direitos que devem ser reconhecidos aos Estrangeiros: 1)- Direitos Humanos ( liberdade individual e a inviolabilidade da pessoa humana, com todas as conseqncias da decorrentes, tais como liberdade de conscincia, de culto, a inviolabilidade do domiclio, direito de comerciar, direito de propriedade.) 2)-Os direitos civis e de famlia. Tais direitos no so absolutos. A Constituio Federal de 1988 enumera os cargos privativos de brasileiros natos, ou seja: Presidente, vice-Presidente da Repblica, Presidente da Cmara e do Senado Federal; Ministro do STF; Carreira diplomtica; oficial das Foras Armadas. O Estado tem o Direito de negar o ingresso de estrangeiros em seu territrio, mas no pode faz- lo por discriminao racial ou religioso. Principal Instrumento de Controle: O Passaporte. Nele colocado o visto de entrada ( varia de pas p/ pas) De maneira geral, so trs as categorias de vistos: permanente, temporria, turista. Entretanto, o Itamarati prev os seguintes vistos: 3.1.11. D A DEPORTAO
A Deportao consiste em devolver ao estrangeiro ao exterior, ou seja, a sada compulsria do estrangeiro. Preliminarmente h que se considerar que o instrumento de controla da entrada de estrangeiros no pas o PASSAPORTE e o visto que ali aposto. H uma diversidade de vistos e estes que determinam o tempo e as atividades permitidas ao estrangeiros. Parte da prorrogao dos vistos atribuda Secretaria de Justia do Ministrio da Justia. Outra parte atribuda Polcia Federal. O pedido de prorrogao deve ser feito com 30 dias de antecedncia sob pena de multa. H casos em que os vistos podem ser transformados de temporrios para permanentes. O Ministrio da Justia, por seu Departamento de Estrangeiros, estabelece os seguintes vistos: 1. De trns ito; 2. De Turista; 3. Temporrio; 4. Permanente; 5. De Cortesia; 6. Oficial; 7. Diplomtico. Em geral, o visto obtido no Consulado no exterior. Admite, dentre estes, os vistos para as seguintes finalidades: TEMPORRIOS: 11. viagem cultural ou misso de estudos; 1.2. viagem de negcios; 1.3. artistas ou desportistas; 1.4. estudantes; 1.5. cientistas, professores, tcnicos ou profissionais de outra
70
71
categoria sob regime de contrato; 1.6. correspondente de jornal, revista, rdio televiso ou agncia noticiosa estrangeira; 1.7. ministro de confisso religios\a ou membro de instituto de vida consagrada e de congregao ou ordem religiosa. Os vistos 1.3;1.4.; 1.5.;1.6. e 1.7 so prorrogados pelo M.J. E os itens 1.1 e 1.3 pela Polcia Federal. Uma situao especfica o caso do estrangeiro inexpulsvel, o qual, mantida as condies para sua noexpulso, poder permanecer no pas. H uma figura denominada IMPEDIMENTO, quando ao Estrangeiro falta justo ttulo. Neste caso, ele no passa da barreira policial de fronteira, porto ou aeroporto. Cabe tal nus ( embarque de volta ) empresa area. , de fato, uma Deportao. A Deportao fundamenta-se no fato de o estrangeiro entrar ou permanecer irregularmente no territrio nacional, no decorrendo da prtica de delito em qualquer territrio, mas do no cumprimento dos requisitos para entrar ou permanecer no territrio. Tal procedimento ser adotado, desde que o estrangeiro no se retire voluntariamente no prazo determinado. A Deportao uma forma de excluso, aps a entrada irregular ( geralmente clandestina ) ou que tenha se tornado irregular ( excesso de prazo ) ou exerccio de trabalho remunerado ( turista ). Tal procedimento feito pelas autoridade locais ( no a cpula de governo ). No Brasil, cabe aos agentes da polcia federal, quando entendam que no lhes cabe regularizar a situao. No propriamente uma pena, pois, sanada a irregularidade, o estrangeiro pode voltar ao pas. Far-se- a deportao para o pas de origem ou de procedncia no estrangeiro, ou para outro que consinta em receb-lo. No se dar a deportao se esta implicar extradio vedada pela lei brasileira. No h deportao de brasileiro. O envio compulsrio de brasileiro para o exterior constitui banimento, proibido constitucionalmente.
3.1.12. D A
EXPULSO
O direito do Estado expulsar os estrangeiros que atentarem contra a segurana nacional ou a tranqilidade pblica admitido pacificamente pelo Direito Internacional. Contudo, o direito de expulso no pode ser exercido arbitrariamente. O Estado tem o Direito de negar o ingresso de estrangeiros em seu territrio, mas no pode faz-lo por discriminao por motivo racial ou religioso. Principal instrumento de Controle: O passaporte. Nele colocado o visto de entrada ( varia de pas para pas). H trs categorias de visto: permanente, temporrio, turista.
71
72
A Extradio o modo de entregar o estrangeiro ao outro Estado por delito nele praticado. A Expulso uma medida tomada pelo Estado, que consiste em retirar foradamente do seu territrio um estrangeiro, que nele entrou ou permanece irregularmente, ou, ainda, que praticou atentados ordem jurdica do pas em que se encontra. A Expulso decorre de atentado segurana nacional, ordem poltica ou social, ou nocividade aos interesses nacionais. Casos prticos: a)- ofensa dignidade nacional; b)- mendicidade e a vagabundagem; c)atos de devassido; d)- atos de propaganda subversiva; e)- provocao de desordens; f)- conspirao; g)- espionagem; g)- entrada ilcita no territrio nacional. A Expulso no exige requerimento de pas estrangeiro algum e tampouco que o atentado ordem jurdica tenha sido praticado no estrangeiro, mas no prprio territrio do pas que pretende expulsar o estrangeiro. um procedimento ex officio da autoridade nacional. Neste caso, o Ministrio da Justia instaurar inqurito para a expulso do estrangeiro. Caber exclusivamente ao Presidente da Repblica resolver sobre a convenincia e oportunidade da expulso ou de sua revogao e o far expedindo o Decreto de Expulso. Discricionaridade mitigada: A inobservncia da estrita legalidade do decreto de expulso poder ser controlada por meio de habeas corpus a ser ajuizado no S.T.F., pois apesar da expulso ser ato discricionrio do Poder Executivo, no se admite ofensa lei e falta de fundamentao. Limitaes expulso: no se admite a expulso se implicar extradio inadmitida pela lei brasileira ou, ainda, quando o estrangeiro tiver cnjuge brasileiro, do qual no esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado h mais de cinco anos; ou, ainda, se tiver filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guardas e dele dependa economicamente. Neste ltimo caso, h que haver a comprovao da dependncia e efetiva assistncia proporcionada pelo estrangeiro prole brasileira, uma vez que a proteo dada famlia do expulsando e no a ele. Nestes casos, a instruo do pedido precedida de sindicncia policial, pela so constatadas a data e o local de nascimento, a existncia fsica do menor, a guarda e a dependncia econmica, a vida em comum do casal, etc.25 A pgina do M.J. registra que: Importante registrar que o abandono do filho, o divrcio ou a separao, de fato ou de direito, no justificammais a permanncia do estrangeiro em territrio nacional. A faculdade conferida ao estrangeiro de permanecer no Brasil, nas condies citadas, resulta de regra que visa beneficiar no ao estrangeiro, mas a famlia brasileira aqui constituda. De registrar ainda que Quanto prole, no basta apenas que ela dependa economicamente do pai estrangeiro. necessrio que a obrigao de sustentar os filhos seja efeitva e se verifique cumulativamente com a guarda dos mesmos. O S.T.F. ao proferir julgamento sobre filhos nascidos e registrados aps o fato criminoso, assim decidiu: FILHOS NASCIDOS E
25
www.mj.gov.br/Estrangeiros/permanncia
72
73
REGISTRADOS APS O FATO CRIMINOSO. Lei 6.815/80, art. 75, 1. O nascimento e registro dos filhos do paciente verificaram-se aps a ocorrncia do fato criminoso que deu ensejo ao decreto de sua expulso. Hiptese que afasta o impedimento de se expulsar o estrangeiro. Ordem denegada. ( obs. Neste caso, a Autoridade Coatora o Presidente da Repblica ). No h expulso de brasileiro. O envio compulsrio de brasileiro para o exterior constitui banimento, proibido constitucionalmente.
3.1.13. D A
EXTRADIO
( Art. 5, LI E LII da Constituio Federal de l988 ) 1)-Definio: o ato pelo qual um Estado entrega um indivduo, acusado de um delito ou j condenado como criminoso, justia do outro, que o reclama, e que competente para julg-lo e pun-lo. 2)-Natureza jurdica: ao de ndole especial, de carter constitutivo, que objetiva a formao de ttulo jurdico apto a legitimar o Poder Executivo da Unio a efetivar, com fundamento em tratado internacional ou em compromisso de reciprocidade, a entrega do sdito reclamado. 3)-Tratamento Diferenciado: LI: nenhum brasileiro ser extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalizao, ou de comprovado envolvimento em trfico ilcito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; LII: No ser concedida a extradio de estrangeiro por crime poltico ou de opinio. Assim, somente nas hipteses constitucionais ser possvel a concesso da extradio, podendo, porm, a legislao federal infraconstitucional ( C.F. art. 22, XV, determinar outros requisitos ). H duas espcies de extradio: Extradio ativa: requerida pelo Brasil a outros Estados soberanos. Extradio passiva: a que se requer ao Brasil, por parte dos Estados soberanos. 4.HIPTESES CONSTITUCIONAIS PARA A EXTRADIO 1. o brasileiro nato nunca ser extraditado; 2. o brasileiro naturalizado somente ser extraditado em dois casos: (Por crime comum, pratico antes da naturalizao; trfico ilcito de entorpecentes ) 3. o portugus equiparado, nos termos do art. 12, 3, da C.F. tem todos os direitos do brasileiro naturalizado ( contudo, somente para Portugal ).
73
74
4. O estrangeiro poder, em regra, ser extraditado, havendo vedao apenas nos crimes polticos ou de opinio. ( soberania nacional e a estrutura poltica ) 5. REQUISITOS INFRACONSTITUCIONAIS PARA A EXTRADIO O Estado estrangeiro que pretender obter a extradio dever fundar seu pedido nas hipteses constitucionais e nos requisitos formais legais, ou seja: - Hipteses materiais: incisos LI E LII da C.F. de l988 - Requisitos formais: Estatuto do Estrangeiro ( Lei 6.815/80, arts. 91 e seguintes ), Lei Federal n 6.964/81 e Regimento Interno do STF ( arts. 207 a 214) entre eles: 1. O pedido extradicional somente ser atendido quando Estado estrangeiro requerente se fundamentar em tratado internacional ou quando, inexistente este, promete reciprocidade de tratamento do Brasil. 2. Competncia exclusiva da Justia do Estado requerente para processar e julgar o extraditando, da qual decorre incompetncia do Brasil para tanto. 3. Existncia de ttulo penal condenatrio ou de mandato de priso emanados de juiz, tribunal ou autoridade competente do Estado estrangeiro; 4. Ocorrncia de dupla tipicidade. Como define o Supremo Tribunal Federal, revela-se essencial, para a exata aferio do respeito ao postulado da dupla incriminao, que os fatos atribudos ao extraditando no obstante a incoincidncia de sua designao formal- revistam-se de tipicidade penal e sejam igualmente punveis tanto pelo ordenamento jurdico domstico quanto pelo sistema de direito positivo do Estado requerente. Precedente RTJ 133/1075. Assim no ser possvel a concesso de extradio se o fato, apesar de crime no ordenamento jurdico estrangeiro, for tipificado como contraveno no ordenamento jurdico brasileiro. 5. inocorrncia de prescrio da pretenso punitiva ou executria, seja pelas leis brasileiras, seja pela lei do Estado estrangeiro. 6. Ausncia de carter poltico da infrao atribuda ao extraditado. ( obs.: Os atos de terrorismo, que vem recebendo repulsa internacional, no tem acolhida no Brasil. No so considerados crimes polticos e autorizam a extradio). 7. No-sujeio do extraditando a julgamento, no Estado requerente, perante tribunal ou juzo de exceo. 8. No cominar a lei brasileira, ao crime, pena igual ou inferior a um ano de priso. 9.Compromisso formal do Estado requerente em: a)- Efetuar a detrao penal, computando o tempo de priso que, no Brasil, foi cumprido por fora da extradio; b)- comutar a pena de morte, ressalvados os casos em que a lei brasileira permite a sua aplicao ( art. 5, XLVII ... salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art.84, XIX), em pena privativa de liberdade.
74
75
c)- no agravar a pena ou a situao do sentenciado por motivos polticos. d)- no efetuar nem conceder a re-extradio ( entrega do extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame). Desta forma, o Estado estrangeiro dever indicar, em sntese objetiva e articulada, os fatos subjacentes extradio, limitando o mbito temtico de sua pretenso. 6. PROCEDIMENTO E DECISO O pedido dever ser feito pelo governo do Estado estrangeiro soberano por via diplomtica, nunca por mera carta rogatria, e endereado ao Presidente da Repblica, autoridade constitucionalmente autorizada a manter relaes com Estados estrangeiros ( art. 84, VII ). Uma vez feito o pedido, ele ser encaminha do ao Supremo Tribunal Federal, pois, no se conceder extradio sem seu prvio pronunciamento sobre a legalidade e a procedncia do pedido, que somente dar prosseguimento ao pedido se o extraditando estiver preso e disposio do Tribunal. Obs.: Era prevista a priso administrativa decretada pelo Ministro da Justia no procedimento de extradio, mas esta no foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Assim, a hiptese de priso do extraditando permanece no ordenamento jurdico, com a denominada priso preventiva para extradio, porm a competncia para a sua decretao ser do Ministro-relator sorteado, que ficar prevento para a conduo do processo extradicional. Uma vez preso o extraditando, dar-se- incio ao processo extradicional, que de carter especial, sem dilao probatria, pois incumbe ao Estado requerente o dever de subsidiar o governo brasileiro, desde o incio, os elementos de instruo documental considerados essenciais. O processo de extradio passiva ostenta, em nosso sistema jurdico, o carter de processo documental. Tem duas fases: a administrativa ( percorrida atravs do Poder Executivo na Chancelaria e no Ministrio da Justia ) e a judicial ( perante o Supremo Tribunal Federal ). No h possibilidade de o extraditando renunciar ao procedimento extradicional, pois mesmo com sua concordncia em retornar ao seu pas , isso no dispensa o controle da legalidade do pedido. Se o STF decidir-se contrrio extradio, vincular o Presidente da Repblica, ficando vedada a extradio. Se, no entanto, a deciso for favorvel, fica o Chefe do Poder Executivo, discricionariamente, com a determinao de extraditar ou no, pois no se pode ser obrigado a concordar com o pedido de extradio, mesmo que legalmente correto e deferido pelo STF, uma vez que o deferimento ou recusa do pedido direito inerente soberania. Ao extraditado sero entregues os documentos do processo e tudo que lhe diga respeito, bem como a comprovao do tempo que esteve preso no nosso pas, ficando disposio do Estado requerente.
75
76
PRISO PREVENTIVA POR EXTRADIO O Estatuto do Estrangeiro, ao dispor sobre a priso do extraditando, determina que esta perdurar at o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, no sendo admitida a liberdade vigiada, a priso domiciliar, nem a priso-albergue ( art. 84, nico ). A priso cautelar do extraditando reveste-se de eficcia temporal limitada, no podendo exceder ao prazo de noventa ( 90 ) dias, ressalvada disposio convencional em contrrio, eis que a existncia de Tratado regulando a extradio, quando em conflito com a lei, sobre ela prevalece, porque contm normas especficas. 8- ATUAO DO JUDICIRIO NA EXTRADIO O sistema extradicional vigente qualifica-se como sistema de controle limitado, com predominncia da atividade jurisdicional, que permite ao STF exercer a fiscalizao concernente legalidade extrnseca do pedido de extradio formulado pelo Estado estrangeiro, mas no no tocante ao mrito, salvo no caso de anlise de ocorrncia de prescrio penal, da observncia do princpio da dupla tipicidade ou da configurao eventualmente poltica do delito imputado ao extraditando. O S.T.F. tem decidido que o fato de o Extraditando possuir famlia constituda ( mulher e filhos brasileiros ) no impede a procedncia do pedido de Extradio ( LEGISLAO PENAL-TERRITORIALIDADE. A regra direciona observncia das normas em vigor no pas em que cometido o crime artigos 5 e 7 do Cdigo Penal. TRFICO DE DROGAS-NCLEO. Para efeito de extradio, considera-se a modalidade ocorrida no pas requerente que, ante o princpio da territorialidade e considerada conveno internacional, possua jurisdio prpria persecuo criminal. EXTRADIO FAMLIA CONSTITUDA ALCANCE. Ao contrrio do que ocorre com o instituto da expulso a existncia de famlia constituda no Brasil no obstculo procedncia do pedido de extradio. ( disponvel em www.stf.gov.br, votao unnime. Acessado em 23/01/05 ). EXTRADIO: PRINCPIO DA ESPECIALIDADE E PEDIDO DE EXTENSO. Princpio da Especialidade: o extraditado somente poder ser processado e julgado pelo pas estrangeiro pelo delito objeto do pedido de extradio, conforme art. 91, I da Lei 6815/80. Pedido de Extenso: consiste na permisso, solicitada pelo pas estrangeiro, de processar pessoa j extraditada por qualquer delito praticado antes da extradio e diversos daquele que motivou o pedido extradicional, desde que o Estado requerido expressamente autorize. Sntese sobre o Processo de Extradio: Os processos de Extradio no tm normas gerais, fixas e inflexveis. So estudados caso a caso, porque a entram em jogo diversos aspectos: 1)- nem sempre os Estados pedem a Extradio; 9.
76
77
2)- os Estados concedem a Extradio mediante estudo de segurana e convenincia, considerando sobretudo seus interesses internos; Em matria de Extradio h, portanto, total insegurana, tanto da parte do que pede como da parte do que concede.
3.1.14. DO ASILO Introduo ( ver tambm item 4.4.5.4.)
Este Instituto pode ser estudado sob a optica de um Direito do Estado, quando h uma interface com a dimenso pessoal do mesmo. De outro lado, o tema pode ser estudado a partir da proteo dos Direitos Humanos e neste aspecto que aqui ele abordado. O Asilo era visto como uma instituio humanitria e no exige reciprocidade. Hoje tem sido includo dentre os Direitos Humanos. O Asilo Territorial no deve ser confundido com o Asilo Diplomtico. Definio A proteo dada por um Estado, em seu territrio, a uma pessoa cuja vida ou liberdade se acha ameaada pelas autoridades de seu pas por estar sendo acusado de haver violado a sua lei penal ou, o que mais frequente, t-lo deixado para livrar-se de perseguio poltica. o acolhimento, pelo Estado, de estrangeiro perseguido alhures geralmente, mas no necessariamente no seu prprio pas patrial - por causa de dissidncia poltica, de delitos de opinio, ou por crimes que, relacionados com a segurana do Estado, no configurem quebra do direito penal comum (Rezek). Previso legal: Artigo XIV da Declarao Universal dos Direitos do Homem: todo homem, vtima de perseguio, tem o direito de procurar e gozar asilo em outros pases 2: no pode ser invocado em caso de perseguio motivada legitimamente por crimes de direito comum ou por atos contrrios aos objetivos e princpios das Naes Unidas. Observao: Fala no direito de procurar Asilo, mas no na obrigao do Estado em conced-lo. Conveno de Havana sobre o Asilo, de 1928. Foi substituda pela Conveno sobre o Asilo Poltico de Montevidu de 1933. Modificada pela Conveno sobre Asilo Diplomtico de Caracas de 1954. Resoluo 3.212 (XXII) de l967 da Assemblia Geral. Diretrizes bsicas do Asilo Territorial: a)- O Asilo um direito do Estado baseado em sua soberania; b)- deve ser concedido a pessoas que sofrem perseguio;
77
78
c)- a concesso de Asilo deve ser respeitada pelos demais Estados e no deve ser motivo de reclamao; d)- a qualificao do delito incumbe ao Estado Asilante, que pode negar o asilo por motivos de segurana nacional; e)- as pessoas que fazem jus ao Asilo no devem Ter a sua entrada proibida pelo pas Asilante nem devem ser expulsas a um Estado onde podem estar sujeitas a perseguio; Disciplina do Asilo Diplomtico 1)- A natureza poltica dos delitos atribudas ao fugitivo; 2)- Atualidade da perseguio ( Estado de urgncia ); 3)- Locais: Misses Diplomticas, isto , no reparties consulares. Via de regra, o embaixador a examinar as situaes acima e, se entender presentes, reclamar da autoridade local a expedio do salvoconduto para deixar o pas. Imveis inviolveis, segundo o costume internacional: navios de guerra acostados no litoral
3.1.15. DOS REFUGIADOS Este tema apenas registrado aqui, numa transcrio, visando um desenvolvimento jurdico futuro. Tal necessrio, para diferenciar-se a figura do asilado e seu estatuto, da figura do estatuto de refugiado. A conseqncia mais visvel da multiplicao dos conflitos interno o crescimento dos conflitos internos o crescimento do nmero dos refugiados, que chega a 21,1 milhes no incio de 2001 um nmero alto, mas que no chega perto do recorde de 27 milhes em 1995. O maior grupo formado pelos 3,8 milhes de palestinos que esto sob mandato da Acnur h dcadas esperando a criao de um Estado prprio. Logo atrs esto os afegos, expulsos dopais pela guerra e pela seca prolongada. Em maio de 2001, antes mesmo dos ataques anglonorte-americanos eles totalizam 3,6 milhes ( contra 2,5 milhes no fim de 2000 ). Isso torna a sia o continente com maior populao de refugiados. A frica que abriga mais da metade dos confrontos armados no mundo vem em seguida.26 O recebimento dos refugiados ato de soberania de cada Estado. Os pases, entretanto, pela ONU, criaram um organismo especfico para cuidar do assunto. o Alto Comissariado das Naes Unidas para os Refugiados-ACNURque possui escritrio no Brasil para cuidar dos casos que surjam neste campo.
26
ALMANAQUE ABRIL: So Paulo: Editora Abril, 2002. p.19.
78
79
3.2. O SUJEITO ORGANIZAO INTERNACIONAL
Alm dos Estados, sujeitos do DIP amplamente estudados, relevante estudar as Organizaes Internacionais, entidades que gozam da subjetividade internacional, isto , so sujeitos do Direito Internacional Pblico. O seu estudo especfico, denominado Direito das Organizaes Internacionais e faz parte do estudo do DIP. - DIREITO DAS ORGANIZAES INTERNACIONAIS -
DEFINIES Entidades criadas sob a gide do Direito Internacional, por acordo de vontades dos diversos sujeitos jurdicos internacionais, para efeito de prosseguirem no mbito da comunidade internacional, autnoma e continuamente, finalidades especficas no lucrativas de interesse pblico comum, atravs de rgos seus com competncia prpria Uma associao de Estados ( ou de outras entidades possuindo personalidade internacional ), estabelecida por meio de um tratado, possuindo uma constituio e rgos comuns e tendo uma personalidade legal distinta dos Estados-membros. As formadas s por Estados, so denominadas tambm Organizaes Intergovernamentais ( O.I.G.) PONTO ESSENCIAL Possuem subjetividade internacional )
internacional
personalidade
RGOS Pelo menos dois rgos so indispensveis em toda estrutura de toda Organizao Internacional: 3.1. ASSEMBLIA GERAL- Onde todos os Estados-membros tenham voz e voto, em condies igualitrias conforme o Tratado Instituidor. Caracteriza-se como sendo o centro de uma competncia legislativa. No permanente. Em geral, rene-se uma vez por ano, podendo ser convocada extraordinariamente. SECRETARIA rgo de administrao, de funcionamento permanente, integrado por servidores neutros em relao poltica dos Estadosmembros, particularmente de seus prprios Estados patriais. Geralmente presidida pelo Secretrio-Geral ou Diretor-Geral. 1.2. Alm dos dois rgos acima, pode ocorrer a existncia de um CONSELHO PERMANENTE ( especialmente nas O.I. de
79
80
vocao poltica ). Tem funcionamento ininterrupto e tende a exercer a competncia executiva, notadamente em situaes de urgncia.
2. SEDE As O.I. so carentes de base territorial e precisam que um Estado soberano faculte a instalao fsica de seus rgos nalgum ponto de seu territrio. Assim, normalmente firma-se um tratado bilateral, a que se d o nome de Acordo de Sede. Ex.: Liga dos Estados rabes (L.E.A.): Cairo. Tambm h casos de uma O.I. dispor de m de uma sede ou ais faa variar a instalao de alguns dos seus rgos. Exemplos: ONU X EUA: Nova Iorque. ONU X Sua : Sede europia da ONU e Escritrios em Genebra. ONU x Pases Baixos: C.I.J. em Haia. REPRESENTAO E GARANTIA A O.I. no goza de privilgios apenas em sua sede. Ela tem o direito de fazer-se representar tanto no territrio de Estados-membros quanto no de Estados estranhos aos seus quadros, mas que com ela pretendam relacionar-se. Em ambos os casos, seus Representantes Exteriores, sero integrantes da Secretaria ( vale dizer, do quadro de funcionrios neutros ). Por isso: a)- tm privilgios semelhantes queles da Misso Diplomtica de qualquer soberania. b)- Suas instalaes e bens tero a inviolabilidade usual em direito diplomtico. 6.FINANAS DA ORGANIZAO Em regra, funcionam com a cotizao dos Estados-membros e no paritria. Antes, levam em conta a capacidade contributiva de cada Estado-membro, levada em conta sua pujana econmica. Exemplo da ONU: EUA: 25% Japo: 12,5 % Rssia: 9,5 % Alemanha: 9 % Frana: 6 % Reino Unido: 5 % Itlia: 4,5 % Canad: 4,0 % Austrlia, Espanha, Pases Baixos, China, Sucia, Brasil e Blgica: entre 1 e 2 %.
80
81
Demais membros da ONU ( 170 ): contribuem com menos de 1% da receita total. Oramento da ONU ( incio dos anos 90 ): superava a cifra de 1 bilho de dlares/ ano. 7-ADMISSO DE NOVOS MEMBROS disciplinada pelo Ato Constitutivo. So levados em conta, trs aspectos capitais: A)- Condies Prvias de Ingresso ( Limites) Os limites da abertura de seu Tratado Constitutivo. Podem ser meramente geogrficos ( Comunidades Europias: s Estados europeus ; Organizao dos Estados Americanos: s Estados americanos ) ou geopoltico ( Liga rabe s Estados rabes ). No caso da ONU ( art. 4 da Carta ): Estado pacfico, que aceite as obrigaes impostas pela Carta e juzo da prpria organizao ). B) Adeso : Condio Fundamental. O interessado expressa sua Adeso ao Tratado Institucional ( desprovida de reserva ). C)- Aceitao A concordncia com a Adeso pelo rgo competente da entidade, conclui o processo de admisso de um novo membro. Carta da ONU: deciso da A.G., mediante recomendao do Conselho de Segurana. SANES A falta aos deveres resultantes de sua qualidade de membro de uma O.I. pode trazer conseqncias. a)- Suspenso de determinados Direitos. Exemplo: Art. 5 da Carta da ONU. Art. 19: Exclui da votao em A.G. quem estiver em atraso com sua cota relativa receita da Organizao. b)- Excluso do Quadro O Estado-membro que viole persistentemente os princpios contidos na presente Carta, poder ser expulso da Organizao pela Assemblia Geral, mediante recomendao do Conselho de Segurana ( Art. 6 ). Observao crtica: caso dos 5 membros permanentes. RETIRADA DE ESTADOS-MEMBROS Dois elementos, quando os textos fundamentais prevem a denncia: A)- Pr-Aviso- Lapso de tempo que deve mediar a manifestao de vontade do Estado retirante e o rompimento efetivo do vnculo jurdico decorrente da sua condio de parte no Tratado. B)- Atualizao das Contas
81
82
10- CLASSIFICAO De alcance universal e finalidade poltica ( busca da paz e segurana ): SDN( 1919-1939 ); ONU ( 1945 ). De alcance universal e finalidade tcnica especfica ( Agncias Especializadas da ONU so O.I. distintas, dotada cada uma delas de personalidade jurdica prpria em direito das gentes ). De alcance Regional, finalidade poltica ( vocao precpua de manuteno da paz entre seus membros ) O.E.A. ( 1951 ) LIGA DOS ESTADOS RABES (L.E.A.)- (1945) ORGANIZAO DA UNIDADE AFRICANA (O.U.A.): (1963 ). De alcance Regional, finalidade tcnica especfica: Neste grupo se inclui as Organizaes Regionais de Cooperao e Integrao Econmica. C.E.E. ( 1957 ); ALADI ( 1981); Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte-NAFTA- ( 1994 ). Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo-OPEP ( 1960 ) Viena MERCOSUL: MERCADO COMUM DO SUL ( 1991 ).
3.2.1. -A ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS ANTECEDENTES A SOCIEDADE DAS NAES (S.D.N.) ou LIGA DAS NAES (L.D.N.) Documento bsico: Pacto da Sociedade das Naes Foi prevista na 1 parte do Tratado de Paz de Versalhes firmado entre os aliados e associados, de um lado, e a Alemanha, de outro, firmado em 28 de junho de 1919. Previa a Assemblia formada por membros da Sociedade e um Conselho. Regra: um pas, um voto. Sede: Genebra Buscava a paz e a segurana das naes. No seu artigo 8 previa um programa de reduo de armamentos. Expressamente, no previa a proibio da guerra. Em 1928 surgiu tal previso no Pacto Briand-Kellogs.
A ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS
82
83
Lei bsica: Carta das Naes Unidas assinada em 26 de junho de 1946. Entrou em vigor em 24 de outubro de 1945. Possui o prembulo e mais 111 artigos e o Estatuto da Corte Internacional de Justia ( C.I.J. ) O Brasil ratificou em 12/09/1945 e o depsito da ratificao deu-se em 21/09/1945. Membros originrios: 51 pases participaram da Conferncia de So Francisco e previamente firmaram a Declarao das Naes Unidas de 1/01/1942. Membros eleitos: so os que so admitidos pela Assemblia Geral, mediante recomendao do Conselho de Segurana. Objetivo: Organizao mundial encarregue de manter a paz e a segurana internacional, constando expressamente que a guerra proscrita. Por isso, suas funes so: 1)- Manuteno da paz e da segurana internacionais; 2)- Cooperao econmico-social internacional; 3)- Proteo dos Direitos do Homem; 4)Descolonizao. Os membros podem ser suspensos e expulsos ( artigo 5). Sede: Sediada numa zona internacional em Nova Iorque. RGOS ASSEMBLIA GERAL Composta por todos os membros da Organizao, cabendo a cada Estado-membro apenas um voto. ( Art. 18, 1). o principal rgo deliberativo da ONU e por isso, visto como seu rgo central. Em 1997 possua 185 membros. Tonga, um pequeno arquiplago do pacfico sul, tornou-se o 188 membro. Rene-se uma vez ao ano ( 1 Tera-feira de setembro ) Sesses extraordinrias: Convocadas pelo Secretrio-Geral, a pedido do Conselho de Segurana ou da maioria dos Estadosmembros. Possui 7 ( sete comisses ) Decises em geral: maioria simples. Decises mais importantes: maioria de 2/3 1.1.1. CONSELHO DE SEGURANA Era originalmente composto por 11 membros, dos quais 5 membros permanentes ( EUA, Reino Unido, Frana, Rssia e China ). A partir de janeiro de 1966 foi a largado para 15 membros, sendo cinco permanentes e dez no permanentes, eleitos de dois em dois anos pela Assemblia Geral, tendo em conta uma repartio geogrfica equitativa ( 5 africanos e asiticos; 1 da europa oriental ; 2 da Amrica Latina; 2 da europa ocidental )
83
84
A votao feita por maioria qualificada, ou seja, nove votos afirmativos em quinze. Nas questes processuais, os votos tm o mesmo peso. Quanto a outras questes, essa maioria tem que ter includa os cinco membros permanentes, os quais tm o direito de veto. A presidncia assegurada rotativamente pelos seus membros pelo perodo de um ms. Competncia: sua competncia a manuteno da paz e segurana internacionais, bem assim, recomendao prvia no caso de admisso, suspenso ou excluso de membros e nomeao do Secretrio Geral para, s ento, ser submetida Assemblia Geral. O C.S. tambm assistido por um Comit de Estado-Maior. O Conselho de Segurana o nico rgo que tem poderes de tomar decises que os membros tm obrigao de aplicar. 1.1.1. O CONSELHO DE TUTELA Foi criado para superintender a administrao dos territrios sob tutela. J teve maior importncia quando havia muitos territrios nesta condio, geralmente subordinados tutela de uma grande potncia, a qual exercia a tutela dum territrio, transitoriamente, at a sua independncia. O CONSELHO ECONMICO E SOCIAL (C.E.S.) Composto por 54 membros eleitos por 3 anos pela Assemblia Geral e est submetido autoridade desta; permitida a reeleio. Rene-se duas vezes por ano ( Nova Iorque e Genebra ) Deciso: maioria dos membros presentes e votantes. Sua competncia desenvolve-se no plano econmico, social, cultural, educacional e dos direitos do homem da ONU e das seus organismos especializados e das diversas instituies que constituem o sistema das Naes Unidas. Tambm desenvolver atividades relativas ao Comrcio Internacional, industrializao, aos recursos naturais, condio da mulher, s questes demogrficas, ao bem-estar social, cincia e tecnologia, preveno do crime e a mltiplas outras questes de ordem econmica e social. Sobre os assuntos que lhe compete, dirige recomendaes Assemblia Geral, aos Estados-membros da ONU e s agncias especializadas. Est em sua competncia ainda, preparar projetos de Convenes, convocar Conferncias Internacionais posto que no tenha poderes prprios de deciso.
A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIA (C.I.J.)
84
85
Sucedeu a Corte Permanente de Justia Internacional ( C.P.J.I. ) Ao tornar-se membro da ONU implica na aceitao integral do Estatuto da C.I.J. Tal Estatuto foi baseado no Estatuto da C.P.J.I. Lnguas oficiais: ingls e francs. composta por quinze ( 15 ) juzes, eleitos por nove anos pela Assemblia geral e pelo Conselho de Segurana de uma lista de pessoas enviadas pelos Estados. Durante o mandato, os membros do Tribunal no podem exercer nenhuma funo pblica ou administrativa, nem to pouco ser advogado, ser agente ou conselheiro em questes judiciais, nem Ter outra ocupao profissional. Podem fazer parte da Corte, um ou dois juzes ad hoc. Rene-se na cidade de Haia, Holanda e esto em sesso permanente. A C.I.J. s est aberto aos Estados-membros da ONU e a outros que a Assemblia Geral e o Conselho de Segurana determinarem, incluindo as instituies especializadas. Tem competncia contenciosa e competncia consultiva. Na contenciosa, julga querelas entre os Estados, quando ento, reveste-se de carcter jurisdicional. Na consultiva, emite pareceres. Sobressai-se por ser o principal rgo jurisdicional das Naes Unidas.
O SECRETARIADO um rgo administrativo e tem sede permanente em Washington. O Secretrio-Geral eleito pela Assemblia Geral mediante recomendao do Conselho de Segurana. Cabe-lhe nomear diretamente os funcionrios segundo as regras fixadas pela A.G. e so funcionrios internacionais. O Secretrio-Geral participa de todas as reunies da Assemblia Geral, do Conselho de Segurana, do Conselho Econmico e Social e do Conselho de Tutela. O Secretrio Geral tem um papel de primeiro plano, e nele que culminam estes dois caracteres fundamentais da ONU: a permanncia e a vontade prpria. O Secretariado assume as funes administrativas da ONU. Est ao servio dos outros rgos e pe em prtica os programas e as polticas que eles aprovam. Secretrio-Geral atual.: Kofi Anan O Secretariado da ONU composto pelo Secretrio-geral, pelo pessoal funcionrios e pelos agentes ao servio da ONU em todo o mundo. um rgo das Naes Unidas. Emprega 50.000 pessoas, das quais 4.800 em sua sede. Forma o maior complexo administrativo existente em Organizaes Internacionais. Lnguas oficiais: rabe, Chins, Espanhol, Francs, Ingls e Russo. Todo tratado firmado pelo Estado-membro dever ser registrado e publicado pelo secretariado, depois de sua entrada em vigor. ORGANISMOS DO SISTEMA DAS NAES UNIDAS
85
86
a)- Semi-Autnomos : UNICEF: Fundo das Naes Unidas para a Infncia, seadio em Nova Iorque. H.C.R. ( Alto Comissariado das Naes Unidas para os Refugiados), sediado em Genebra. A sigla em portugus ACNUR. PNUD ( Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento), sediado em Nova Iorque. CNUCED ( Conferncia Das Naes Unidas sobre o Comrcio e Desenvolvimento ) ONUDI ( Organizao das Naes Unidas para o Desenvolvimento Industrial ) PNUA ( Programa das Naes Unidas para o Ambiente), sediado em Nairobi. CMA ( Conselho Mundial da Alimentao ), juntamente com o FIDA ( Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrcola )e o PAM ( Programa de Alimentao Mundial ) esto sediados em Roma. UNU ( Universidade das Naes Unidas, sediada em Tquio. b) Autnomos Conhecidos como agncias especializadas ou instituies especializadas ligadas direta ou indiretamente Assemblia Geral. Exemplos: AIA: Agncia Internacional de Energia Atmica. FAO: Organizao das Naes Unidas para a Alimentao e Agricultura. UNESCO: Organizao das Naes Unidas para Educao, Cincia e Cultura. OMS: Organizao Mundial de Sade. O.I.T.: Organizao Internacional do Trabalho.* F.M.I.: Fundo Monetrio Internacional U.I.T.: Unio Internacional das Telecomunicaes U.P.U.: Unio Postal Universal G.A.T.T.: Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comrcio. O.M.C.: Organizao Mundial do Comrcio. Sediada em Genebra. O carter essencial de cada instituio especializada sua independncia. Os organismos especializados so organizaes autnomas inter-governamentais que colaboram com as Naes Unidas e, entre si, por intermdio do Conselho Econmico e Social.
86
87
DESTAQUE ESPECIAL: A ORGANIZAO INTERNACIONAL DO TRABALHO-O.I.T. 27
A Organizao Internacional do Trabalho, um organismo especializado das Naes Unidas que procura fomentar a justia social e os direitos humanos e trabalhistas internacionalmente reconhecidos.28 Alguns a denominam como um tipo de Agncia Especializada da ONU29 encarregada de garantir o respeito aos direitos trabalhistas no mundo. Defende a liberdade de associao dos trabalhadores, estabelecimento de um sistema de previdncia social, salrio adequado e proteo contra doenas ocupacionais.30 A O.I.T. , segundo PEREIRA 31 , consolidou-se como foro internacional de discusso de temas trabalhistas, com uma estrutura composta por representantes dos empregados dos trabalhadores e dos governos. Sua sede em Genebra, Sua e sua data de criao remonta a 1919. O Brasil membro fundador. Os gos bsicos so: Conferncia Internacional do Trabalho, o Conselho de Administrao ( 48 membros ) e o Bureau Internacional do Trabalho, encarregado de executar suas decises. 32
Citando Andr Gonalves Pereira e Fausto de Quadros, FONTOURA E GUNTHER citam, existem dois instrumentos jurdicos fundamentais: as convenes e as recomendaes aprovadas pela Assemblia Geral por maioria de 2/3. As primeiras so obrigatrias aps a sua ratificao pelos Estados. As segundas so meramente indicativas.33 Na mesma perspectiva, LOBO XAVIER34 esclarece: As Convenes e as recomendaes so aprovadas na Conferncia por maioria de dois teros. No contm um regime com eficcia imediata nos ordenamentos do Estado, j que este tem o direito de ratificar ou no os textos aprovados, devendo, contudo, em qualquer caso informar periodicamente sobre o estado da legislao e da prtica nacionais quanto aos aspectos focados. As convenes, depois de ratificadas, conduzem os respectivos estados obrigao de as aplicar, conformando a sua legislao e prtica aos princpios nela constantes, ficando tal aplicao sujeita a controle. As recomendaes constituem uma orientao e antecedem, muitas vezes,a elaborao de uma conve no sobre a matria. No mesmo artigo cientfico citado acima, h uma esclarecedora considerao sobre as distines entre as Convenes e as Recomendaes da O.I.T., conforme BALMACEDA:
27 28
International Laboral Organization: ILO. www.ilo.org Idem. 29 ALMANAQUE ABRIL. So Paulo: Editora Abril, 2002. 30 Idem, p. 49. 31 PEREIRA, Bruno Yepes. Curso de Direito Internacional Pblico. So Paulo: Saraiva, 2006. p. 139. 32 Idem, p. 139. 33 FONTOURA, Jorge e GUNTHER, Luiz Eduardo. A Natureza Jurdica e a Efetividade das Recomendaes da OIT. Porto Alegre: Sntese Trabalhista, v. 1. n 1, jul. 1989. 141149, p. 141. 34 Idem, apud FONTOURA, Jorge e GUNTHER, Luiz Eduardo. Op. Cit. P. 142.
87
88
1)-a conveno constitui uma forma de tratado internacional, no assim a recomendao; 2)- a conveno pode ser, por conseguinte, objeto de ratificao pelo correspondente Estado, o que logicamente no pode ocorrer com uma recomendao; 3)- ratificada uma conveno, o Estado tomar as medidas necessrias para efetivar as disposies da dita conveno ( Constituio da OIT, art. 19, n 5, letra d ). Sendo improcedente a ratificao de recomendao, no vigora pois, a seu respeito, dita obrigao por parte dos Estados; 4)- enquanto que no caso das convenes podem apresentar-se diversos problemas de interpretao, entrada em vigor, denncia, reviso e efeitos em caso da retirada de um Estado da OIT, todos derivados da ratificao do instrumento, nenhuma dessas situaes tm lugar no que concerne s recomendaes. 35 Para SSSEKIND, as convenes da OIT, quando rfaticiadas pelo Brasil, constituem autnticas fontes formais de direito. No entanto, as recomendaes aprovadas pela Conferncia Internacional do Trabalho atuam apenas como fontes materiais de direito, porque servem de inspirao e modelo para a atividade legislativa.36 SSSEKIND esclarece que Ao ingressar na OIT e aderir sua Constituio, o Estado contrai a obrigao formal de submeter toda conveno, no prazo mximo de dezoito meses da sua adoo, autoridade nacional competente para sua aprovao ( art. 19, 5, a, da Constituio ). A ratificao do tratado constitui ato de Governo; mas este s poder promov- la depois de aprovado o correspondente texto pela autoridade competente, segundo o direito pblico interno. Por fora do que prescreve o art. 49, I, da Constituio brasileira, essa autoridade o Congresso Nacional, a quem compete resolver, em carter definitivo, sobre a aprovao, ou no, dos tratados. Sem essa aprovao, que se d por Decreto Legislativo, o Presidente da Repblica no poder promover a ratificao. Por seu turno, a eficcia da conveno ratificada no plano nacional, mesmo em se tratando de normas auto-aplicveis, est condicionada publicao oficial do seu texto no idioma portugus, o que se verifica com o Decreto de Promulgao expedido pelo Presidente da Repblica.37 A recepo e o efeito da norma recepcionada so agrupadas em duas teorias. A do CONGLOBAMENTO e a da ACUMULAO. Neste sentido, por sua clareza, transcrevermos o texto de MEDEIROS E LAET 38 a seguir: As teorias do conglobamento e da acumulao foram criadas em decorrncia do estudo da aferio da norma mais favorvel. Pela primeira teoria, o hermenuta, diante de instrumentos jurdicos em conflito, haveria de sopesar qual deles seria o mais benfico ao empregado, tomando
35 36
Idem, apud FONTOURA. Jorge e GUNTHER, Luiz Eduardo, op. Cit. P. 143. Idem, apud FONTOURA, Jorge e GUNTHER, Luiz Eduardo, op. Cit. P. 144. 37 SSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 2 ed. So Paulo: Renovar, 2001. P 73, 74. 38 MEDEIROS, Alexandre Alliprandino e LAET, Flvio Antnio Camargo de. As Novidades no Sistema Jurdico das Frias Individuais A Conveno 132 da O.I.T. Porto Alegre: Sntese Trabalhista, 2001. v. 13, n. 146, ago. 2001, pg. 141.
88
89
por parmetro a totalidade de seus dispositivos. A segunda teoria, por sua vez, sustenta que a aferio da norma mais benfica deve ser feita dispositivo por dispositivo, de sorte que o hermenuta poderia se valer, concomitantemente, de um dispositivo mais favorvel de um sistema legal aliado a outro mais favorvel do sistema jurdico conflitante. Cogita-se, ainda, uma terceira teoria, qual seja, a do conglobamento mitigado, pela qual a apreciao da norma mais benfica h de ser feita instituto por instituto. Assim, tomando por exemplo o objeto do presente estudo, o instituto seria o das frias individuais. O intrprete e aplicador da lei, por conseguinte, haveria de optar pela utilizao integral ou da Conveno 132 ou das normas internas atualmente em vigncia. De qualquer forma, a apreciao da norma mais benfica, como sabido, h de ser feita de acordo com o caso concreto, pelo que as teorias supra podem ou no ser mais vantajosas dependendo das vicissitudes e do estgio de cada contrato de trabalho. Registre-se ainda que importante registrar que as normas das convenes da OIT so formuladas em termos de direitos trabalhistas internacionais mnimos, pelo que, no que respeito interpretao e aplicao de seus dispositivos, h de prevalecer a norma mais favorvel, devidamente manejada segundo os critrios do conglobamento, da acumulao ou do conglobamento mitigado.39
3.2.2. - ORGANIZAO DOS ESTADOS AMERICANOS ( O.E.A. ) Origem: Carta da Organizao dos Estados Americanos De 30/04/0948 de Bogot. Possui princpios escritos consuetudinrios continentais desde 1889. a mais antiga organizao de cunho genrico existente. 1 Conferncia Internacional de Pases Americanos Washington 1889/90Propsitos e Princpios: 1)- Garantir a paz e a segurana do continente. 2)- Assegurar a soluo pacfica de suas controvrsias.
A Carta no prev expulso de nenhum Estado- membro. Estrutura: ASSEMBLIA GERAL rgo supremo da Organizao e todos os Estados- membros fazem-se representar nela. Rene-se anualmente. Cada pas um voto. A primeira A.G. ocorreu em Washington, 1971. CONSELHOS: Conselho Permanente Conselho Interamericano Econmico-social Conselho Interamericano de Educao, Cincia e Cultura Comisso Jurdica Interamericana com sede no Rio de Janeiro.
39
Idem. P. 140.
89
90
Comisso Interamericana de Direitos Humanos Art. 112 da Carta da OEA. Completada pela Conveno Americana sobre a Proteo dos Direitos Humanos. Secretaria-Geral: dirigida pelo Secretrio Geral, eleito por um perodo de 5 anos ( s eleito uma vez ). ORGANISMOS ESPECIALIZADOS: Comisso Interamericana da Mulher (Washington) Instituto Indigenista Americano ( Mxico ) Instituto Interamericano de Cincias Agrcolas (So Jos) Instituto Interamericano da Criana ( Montevidu ) Instituto Panamericano de Geografia e Histria (Mxico) Organizao Pan-Americana de Sade ( Washington )
3.2.3. - DIREITO INTERNACIONAL DE INTEGRAO E A GLOBALIZAO A GLOBALIZAO iniciou-se principalmente a partir da dcada de 80, onde o capitalismo conheceu um processo de acelerao sem precedentes que passou a definir a nova tendncia do mundo atual: a globalizao da economia. Percebe-se, assim, que houve um evoluo do capitalismo desde a sua fase inicial, passando pelo Capitalismo Liberal, Capitalismo Monopolista e o Neoliberalismo. A Globalizao da Economia a expresso mxima do processo de mundializao das relaes entre as naes, ao mesmo tempo em que representa a mudana na concepo do papel dos Estados nacionais. A formao dos Estados nacionais tinha como pressuposto uma unidade territorial, comandada por uma autoridade poltica nica e integrada por uma economia de base nacional. O processo de globalizao, que avana em diferentes tempos para diferentes direes, extremamente contraditrio, porque, assim como promove a modernizao de um pas, tende a formar uma sociedade padronizada, hierarquizada e excludente. A globalizao transforma a economia, a poltica e a cultura de um pas, marcando as sociedades nacionais com uma nova realidade que pode ser constatada por meio: - da presena de inmeras empresas multinacionais e de seus executivos vindos do pas de origem dessas empresas; - das transformaes ocorridas no setor comercial facilmente verificadas pelo aumento de shopping centers; - da variedade de produtos importados encontrados venda; - da disponibilidade e utilizao de modernas tecnologias; - da divulgao de informaes por meio da Internet, de revistas estrangeir as e de jornais escritos e falados que circulam entre os diferentes pases. Obs.: Este processo no ocorre em todo o mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, existem regies na frica e no sul da sia que ainda no foram atingidas.
90
91
O processo de integrao mundial que se intensifica nas ltimas dcadas se baseia na liberao econmica. Com o abandono gradativo de barreiras tarifrias que protegem sua produo da concorrncia estrangeira, os Estados se abrem ao fluxo internacional de bens, servios e capitais. A recente revoluo nas tecnologias da informao contribui de forma decisiva para essa abertura, permitindo uma integrao sem precedentes no planeta. Alm de concorrer com uma crescente homogeneizao cultural, a evoluo e a popularizao das tecnologias de informao( computador, telefone e televisor) so fundamentais para agilizar o comrcio, o fluxo de investimento e a atuao das empresas transnacionais. Em 1960, um cabo de telefone intercontinental conseguia transmitir 138 conversas ao mesmo tempo. Atualmente, os cabos de fibra ptica possuem capacidade para enviar 1,5 milho. Uma ligao telefnica internacional de trs minutos, que custava 244 dlares em 1930, feita em mdia por 2,5 dlares em2.000. A OMC estima em 2.000 a existnciade300 milhes de usurios da internet e transaes comerciais demais de300 bilhes de dlares. Nem todos se beneficiam com os fluxos da globalizao. Muitos vivem ao lado de aeroportos internacionais, um dos ns da rede de fluxos de pessoas e mercadorias, mas dificilmente entraro em um avio. Outros passam todos os dias em frente a grandes hotis outro n do fluxo de pessoas -, mas no tm dinheiro para se hospedar neles. H aqueles ainda que nunca podero investir em aes, participando do fluxo financeiro mundial. As grandes cidades oferecem uma infinidade bens e servio, aos quais boa parte da populao no tem acesso. O fator de limitao o desigual acesso renda. Nem todas as pessoas tm recursos suficientes para adquirir bens e servios cada vez mais disseminados no mundo globalizado. No capitalismo, os investimentos so concentrados em certos lugares e voltados para setores nos quais o retorno maior. Assim, as regies e as populaes mais pobres tendem a ser marginalizadas se no se realizarem investimentos para garantir o desenvolvimento de todos os lugares.40 Os autores deste texto, na mesma obra, desenvolvem o tema dos Principais Fluxos da Globalizao, apontando-os: O Fluxo de Capitais Produtivos ( investimentos estrangeiros ou externos ); O Fluxo de Capitais Especulativos ( busca do lucro financeiro imediato ), estes quase no geram empregos e tendem a tornar vulnerveis as economias dos pases, especialmente dos emergentes. Na maioria das vezes, os operadores das empresas financeiras retiram o dinheiro dos pases no momento em que eles mais precisam de capital. Isto aconteceu na crise asitica, em outubro de 1997 e na brasileira, no incio de 1999 ( Op. Cit. P. 74 ); Os Fluxos de Mercadorias ( responsvel pela crescente mundializao do consumo ); Os Fluxos de Informaes ( Internet; Redes de Televiso, com a CNN; Redes de Rdio ( BBC ); Os Fluxos de Pessoas. Na mesma linha, os autores apontam as chamadas Cidades Globais, para alm das Megacidades. Tal situao, como visto, desuniforme e injusta, no foi aceita genericamente. Aconteceram movimentos de resistncia que, ao inves de trazer a convergncia dos povos, apontou para um distanciamento, um litgio, um conflito. Como exemplo dos movimentos contra a imposio
40
SENE, Eustquio de e MOREIRA, Joo Carlos. (coleo Trilhas da Geografia: espao geogrfico mundial e globalizao ). So Paulo: Scipione, 2000. p. 93.
91
92
de regras, padres de consumo, padres culturais, em suma, o denominado movimento antiglobalizao, pode-se apontar os Movimentos Radicais Islmicos, cujos ramos desembocaram no TERRORISMO; tambm os movimentos nacionalistas; de forma organizada, podemos citar tambm o Frum Social Mundial ( o primeiro, em 2001, em Porto Alegre, Brasil ). 41
1)- Tipos de Integrao 1.1. ZONA DE LIVRE COMRCIO
Caracteriza-se pela reduo ou eliminao das taxas aduaneiras ou restries ao intercmbio. Criao de uma zona em que as mercadorias provenientes dos pases membros podem circular livremente. As tarifas alfandegrias so progressivamente reduzidas e, afinal, eliminadas. H flexibilidade nos padres de produo, controle sanitrio e de fronteiras. Alianas como a Asean e o Nafta esto nesse estgio de integrao.42 Ex. NAFTA. 1.2. UNIO ADUANEIRA
Zona de Livre Comrcio + Taxa Externa Comum (TEC). Alm da zona de livre comrcio, essa etapa envolve e negociao de tarifas alfandegrias comuns para o comrcio realizado com outros pases. O Mercosul se encontra nesse estgio do processo.43 Ex.: Pacto Andino (1969: Bolvia, Colmbia, Equador, Per e Venezuela ) 1.3. MERCADO COMUM a situao de efetiva integrao econmica. Engloba as duas fases anteriores e acrescenta a livre circulao de pessoas, servios e capitais 44 Unio Aduaneira + Livre circulao de bens, servios, pessoas e capitais. Ex.: COMUNIDADE EUROPIA, at 1992. MERCOSUL/1991. 1.4. UNIO MONETRIA Essa fase pressupe a existncia de um mercado comum em pleno funcionamento. Consiste na coordenao das polticas econmicas dos pases membros e na criao de um nico banco central para emitir a moeda que ser utilizada por todos eles. Na Europa unificada, por exemplo, cabe ao Banco Central Europeu emitir a moeda comum .45 Mercado comum + Sistema Monetrio Comum 1.5. UNIO POLTICA ltima etapa da integrao, a unio poltica engloba todas as anteriores e envolve tambm a unificao das polticas de relaes
41 42
MOREIRA, Igor. Espao Geogrfico. So Paulo: editora tica, 2002. MOREIRA, Igor. Op. Cit. p. 54. 43 Idem, p. 54 . 44 Ibidem, p. 54. 45 Op. Cit. p. 54.
92
93
internacionais, defesa, segurana interna ( terrorismo, narcotrfico ) e segurana externa ( guerras ). Em sua meta de unificao, a Unio Europia est voltada para a efetivao desta etapa. 1.6.UM DILEMA: INTEGRAO FEDERALISTA FUNCIONALISTA (gradualismo ): o dilema da Unio Europia. H vrios setores que podem ser includos na Integrao: 1)- ECONMICO: desenvolve-se um processo para eliminar as barreiras alfandegrias entre os Estados- membros ( a ocorre a livre circulao de mercadorias, de pessoas e de capitais ). Podem definir uma poltica econmica comum e nica em relao aos outros Estados. 2)- POLTICO: Uma autoridade transnacional ( exemplo: o europesmo da Unio Europia ). As motivaes seriam: A)- Otimizar a capacidade econmica para competir. menor assimetria em favor dos EUA, lder em produo para exportao. B)- Aumentar o potencial poltico na balana internacional de poder. C)- Eliminar causas de conflitos. 3)- DE SEGURANA E DEFESA: OTAN ( aliana militar dos pases ocidentais para fazer frente ao bloco socialista ) Integrao Federalista Integrao Funcionalista ( gradualismo ) H vrios setores que podem ser includos na integrao: 1-Econmico: desenvolve-se um processo para eliminar as barreiras alfandegrias entre os Estados-membros ( a ocorre a livre circulao de mercadorias, de pessoas e de capitais ). Podem definir uma poltica econmica comum e nica em relao aos outros Estados. 2-Poltico: Uma autoridade transnacional ( exemplo: o europesmo da Unio Europia ). Motivao: 1)- Otimizar a capacidade econmica para competir. Menor assimetria em favor dos EUA, lder em produo para exportao; 2)- Aumentar o potencial poltico da balana internacional de poder. 3)- Eliminar causas de conflito 3-De Segurana e Defesa: OTAN ( aliana militar dos pases ocidentais para fazer frente ao bloco socialista ). X
3.2.4. BLOCOS ECONMICOS Dentro do tema Organizaes Internacionais, h que se destacar a formao dos chamados Blocos que, na realidade, no passam da criao de uma Organizao Internacional, ora nos moldes tradicionais do Direito Internacional Pblico pela forma de relao entre os pases chamada de coordenao ( as soberanias relacionam-se dentro da O.I. como
93
94
soberanias independentes que se unem e formam um bloco, mantendo cada uma a sua personalidade internacional e a O.I. uma nova personalidade ), ora nos moldes que fogem ao direito internacional clssico, que seria a relao entre pases e a nova organizao denominada supranacionalidade em que os rgos de direo da O.I. tm mecanismos de se imporem aos Estados formadores, prevalecendo a sua deciso em bloco vencedora sobre a deciso individual vencida ( caso tpico da Unio Europia ). 1.Definio: So associaes de pases, em geral de uma mesma regio geogrfica, que estabelecem relaes comerciais privilegiadas entre si e atuam de forma conjunta no mercado internacional 2.Histrico O primeiro bloco econmico apareceu na Europa, com a criao em 1957 da Comunidade Econmica Europia ( embrio da atual Unio Europia ). A tendncia de regionalizao da economia s fortalecida nos anos 90, com o desaparecimento dos dois grandes blocos da Guerra Fria liderados pelos EUA E URSS, estimulando a formao de zonas independentes de livre-comrcio, um dos processo da Globalizao. Atualmente, os blocos mais importantes so: a U.E., o NAFTA, o MERCOSUL e a APEC. Em menor grau, esto o PACTO ANDINO (1969, formados pelos pases andinos, menos o Chile que se retirou em 1977), CARICOM ( Comunidade do Caribe e Mercado Comum ), ASEAN ( Associao das Naes do Sudeste Asitico ), CEI ( Comunidade dos Estados Independentes);SADC ( Comunidade da frica Meridional para o Desenvolvimento e COMESA ( Mercado Comum dos Pases do Leste e Sul da frica que inclui dezoito pases: Moambique, Tanznia, Uganda, Etipia, Angola, Qunia,etc.). No plano mundial, as relaes comerciais so reguladas pela Organizao Mundial do Comrcio - O.M.C. que substituiu o GATT ( Acordo Geral de Tarifas e Comrcio ). 3. Destaques: 1)- Um dos aspectos mais importantes na formao dos blocos econmicos a reduo ou a eliminao de alquotas de importao, com vistas criao de livre-comrcio; 2)- Os blocos aumentam a interdependncia das economias dos pases membros; 4-Os Principais Blocos: A)- O MERCOSUL O Mercado Comum do Sul, formado em 1991 pelo Tratado de Assuno, composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, visando estabelecer uma zona de livre comrcio. uma O.I. cuja relao se coloca como de coordenao. Desde a sua criao at hoje, o MERCOSUL promoveu um enorme crescimento no comrcio entre esses quatro pasesmembros, sendo o mais importante mercado comum da Amrica Latina e provavelmente de todo o sul do planeta.
94
95
Congrega 215,9 milhes de pessoas e um PIB um pouco superior a 1,1 trilhes de dlares. Hoje est mais para uma unio aduaneira. Tem como pases associados a Bolvia e o Chile, os quais devero logo fazer parte como membro do bloco. B)- O NAFTA ( North American Free Trading Agreement ou Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte ). Organizao Internacional de Coordenao. A grafia com as iniciais em ingls mantida apenas para facilitao do que a sigla se refere. Fazem parte do bloco os Estados Unidas, o Canad e o Mxico, assinado pelos trs pases em 1993. Em conjunto, eles somam 370 milhes de habitantes, que, normalmente, so consumidores de elevado poder de compra. Possui um PNB superior a 7 trilhes de dlares. Representa uma expresso da denominada Doutrina Monroe ( 1823 ): A Amrica para os Americanos. A tendncia caminhar para o estabelecimento de uma rea de Livre Comrcio em toda a Amrica, a ALCA. Prazo para eliminao das barreiras alfandegrias: 15 anos. C)-A ALCA ( rea de Livre Comrcio para as Amricas ) Surgiu em 1994 visando eliminar as barreiras alfandegrias entre os 34 pases da Amrica, exceto Cuba. O prazo mnimo de sua formao de sete anos, quando poder transformar-se em um dos maiores blocos comerciais do mundo, com um PIB de 10,8 trilhes de dlares e uma populao de 823,2 milhes de habitantes. Os EUA propem a implementao imediata de acordos parciais, com abertura total do mercado em 2.005.O Brasil e o Mercosul prevem grandes dificuldades na adaptao de suas economia a essa integrao e preferem dar incio ao processo em 2.005. D)- COMUNIDADE SUL-AMERICANA DE NAES A primeira reunio de Chefes de Estado da Comunidade SulAmericana de Naes foi realizada em Braslia em 01 de outubro de 2005. Os pases integrantes, por ordem alfabtica: Argentina, Bolvia, Brasil, Chile, Colmbia, Equador, Guiana , Paraguai, Peru. Surinama, Uruguai e Venezuela. Em termos estimativos, tem-se os seguintes dados: 372 milhes de habitantes, alcanando uma superfcie de 17,6 milhes de quilmetros quadrados. O comrcio inter-regional em 2004 alcanou a cifra de 83 bilhes de dlares. O PIB estimado de 1,2 trilhes de dlares e a inflao mdia de 7,2%. As reservas internacionais alcanam 141 bilhes de dlares. Sua agenda prioritria inclui: dilogo poltico; integrao fsica; cooperao na preservao do meio ambiente; integrao energtica; financimaneto; promoo da coeso social; telecomunicaes. 46
E)- A UNIO EUROPIA U.E. (relao supra-nacional) Nascida nos anos cinquenta com o Mercado Comum Europeu, tambm conhecida como C.E.E. Essa associao foi pioneira e forneceu o exemplo a ser seguido pelo resto do mundo. Vrios pases do globo procuraram criar outros mercados regionais, outros exemplos de integrao econmica internacional. Os pases que a compem atualmente
46
www.newsbox.msn.com.br/article. Acessado em 01/10/2005.
95
96
so: Alemanha, Frana, Inglaterra, Itlia, Espanha, Blgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Grcia, Dinamarca, Sucia, ustria, Finlndia e Irlanda do Norte. Est previsto um alargamento a leste, quando outros pases europeus ocidentais e orientais devero fazer parte da mesma. Com tal unificao, as empresas passaram a dispor de um mercado muito mais amplo que a sua nao de origem. So cerca de 375,2 milhes de consumidores de alto poder aquisitivo e um PIB de 8,3 trilhes de dlares. Na verdade, alm de um bloco econmico, a Unio Europia caminha para uma sonhada unificao poltica e adotou um sistema de relaes que superam o direito internacional geral ou comum, pois as decises da U.E. podem sobrepor-se e impor-se sobre a posio contrria de um pas membro o que se denomina de O.I. supranacional. F)- A APEC ( Associao de Cooperao Econmica da sia e do Pacfico ) So quinze membros fundadores da APEC: Japo, Estados Unidos, China, Canad, Tailndia, Taiwan, Hong Kong, Cingapura, Brunei, Malsia, Indonsia, Filipinas, Austrlia, Nova Zelndia e Coria do Sul. Tambm o Mxico e o Chile foram aceitos, mas na condio de futuros membros. Ainda cita-se o Per, Federao Russa e Vietn. Visa a implantao de uma zona de livre comrcio at 2020. Abertura de mercado entre 20 pases. Respondem por metade do PIB mundial e 40% do Comrcio mundial. uma O.I. suja relao de coordenao. G)- A C.E.I. ( Comunidade dos Estados Independentes ) Constituda pelos pases originrios da ex-Unio Socitica ( com exceo das trs naes blticas ), cujos membros totalizam doze Estados: Rssia, Ucrnia, Armnia, Gergia, Casaquistao, Moldvia, Bielo-Rssia e outros. Criada em 1991. uma O.I. de coordenao. Esses pases tentam reconstruir suas economias e criar um mercado comum inspirado no exemplo da Europa, pois a interdependncia que possuem muito grande ( estradas, oleodutos em comum, indstrias que utilizam matrias-primas de pases vizinhos, dcadas de comrcio prioritrio entre si, etc. ). Prev a centralizao das foras armada se uma moeda comum: o rublo. H)- COMUNIDADE DOS PASES DE LNGUA PORTUGUESA Esta comunidade visa uma integrao CULTURAL, baseada na lngua comum dos pases que a compem, qual seja, a lngua portuguesa. A data de sua criao foi 17 de julho de 1996. Possui personalidade jurdica internacional e dotada de autonomia financeira, oriundo da contribuio dos Estados- membros. Os princpios que orientam a CPLP so: Igualdade soberana dos Estados- membros; No-ingerncia nos assuntos internos de cada Estado; Respeito pela identidade nacional; Reciprocidade de tratamento; Primado da paz, da democracia, do estado de direito, dos direitos humanos e da justia social; Respeito pela sua integridade territorial; Promoo do Desenvolvimento; Promoo da cooperao mutuamente vantajosa.
96
97
Os rgos da CPLP so: A Conferncia dos Chefes de Estado e de Governo. O Conselho de Ministros; o Comit de Concertao Permanente; As Reunies Ministeriais Setoriais; a Reunio dos Pontos Focais da Cooperao e o Secretariado Executivo. Tambm foi criado o INSTITUTO INTERNACIONAL DE LNGUA PORTUGUESA, IILP. (2005). Composio: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guin Bissau, Moambique, Portugal e So Tom e Prncipe. Mais tarde, em 2002, o Tirmo Leste foi aceito como pases integrante, aps a sua independncia. Foi estabelecido o dia 05 de maio como o DIA DA CULTURA LUSFONA pelo mundo. Outros comunidades baseados na cultura e na lngua comum procuram disseminar e valorizar as respectivas lngua e, neste sentido, existe a Comunidade Anglfona, Francfona, Hispnica, dentre outras.
CAPTULO IV: O INDIVDUO/PESSOA HUMANA, COMO SUJEITO DO D.I.P.
4.1. Introduo A questo do domnio reservado dos Estados. 4.2.Sinonmia A Constituio brasileira utiliza a expresso direitos fundamentais, mas na doutrina constitucional utiliza como sinnimas as expresses: liberdades pblicas, direitos humanos, direitos subjetivos pblicos e direitos fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais constituem um amplo campo de dispositivos, onde esto reunidos os direitos de defesa do indivduo perante o Estado, os direitos polticos, os relativos nacionalidade, os sociais e os difusos: 4.3.Histrico A)- A primeira declarao de direitos fundamentais da pessoa humana que a histrica registro foi a Magna Carta de 1215, na Inglaterra, tambm conhecida como a Grande Carta das Liberdades Inglesas, assinada pelo rei Joo Sem Terra, embora sua forma definitiva s se deu em 1225, sob Henrique III. Destaques: 1)-Garantia de que A Igreja da Inglaterra seja livre e goze de todos os seus direitos e liberdades.
97
98
2)-No sero tomadas propriedades imveis para pagamento de dvidas, uma vez que os bens mveis apresentados ao credor bastem para liquidar a dvida. 3)-Um homem livre no poder ser punido por um pequeno delito, seno proporcionalmente gravidade do mesmo. 4)-Nenhum homem ser detido, nem encarcerado, nem desapossado de seus bens, nem colocado fora da lei ( out law ), nem exilado, nem molestado, seno em virtude de julgamento legal por seus pares e segundo a lei do pas. B)- Ainda na Inglaterra vieram o Habeas Corpus ( 1679) e o Bill Of Rights ( 1688 ) Nestes documentos, nota-se sempre um processo evolucionista em defesa da liberdade, propriedade privada, segurana, direito de resistncia contra os abusos da Coroa ( Estado ) e liberdade de conscincia e de religio ( Feu Rosa, p. 159 ). C)-EUA: Constituio Federal de 1787, com suas dez primeiras emendas. Abriu caminho, logo seguido pelas Constituies da Virgnia, Pensilvnia e demais Estados americanos. D)- Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado de 26 de agosto de 1789, da Frana. Teve maior repercusso que a Americana. Considerava como direitos fundamentais mais importantes a propriedade, a segurana e o direito de resistncia contra os abusos do Estado. Os ideais da Revoluo Francesa obtiveram rpida aceitao e os princpios e nunciados na Declarao do Homem e do Cidado foram logo incorporados s Constituies de todos os povos do mundo. ( Feu Rosa, 161). Apesar desta evoluo histrica, pode-se afirmar que, at a criao da ONU, no era seguro afirmar que houvesse, em direito internacional pblico, preocupao consciente e organizada sobre o tema dos direitos humanos. 4.4.Documento Bsico Declarao Universal dos Direitos do Homem de 10/12/1948. Expressam normas substanciais pertinentes ao tema e no qual as Convenes supervenientes encontrariam seu princpio e inspirao. uma Resoluo, no uma Conveno. No obrigatria. 4.4.1. Antecedentes da DUDH Comisso de Direitos Humanos presidida pela Sra. Eleonora Roosevelt com 3 encargos: A)- Preparar uma Declarao Universal relativa aos direitos civis, econmicos e sociais do homem; B)- Elaborar um pacto ou uma Conveno, em termos legais, relativo aos direitos civis e polticos, de cumprimento obrigatrio para todos os Estados que a assinassem e ratificassem.
98
99
C)- Propor medidas para implementar os princpios da Declarao e os dispositivos da Conveno e para examinar as peties e reclamaes de indivduos ou grupos. Inspirou-se no Bill of Rights da Constituio dos EUA. Assinada em Paris.
4.4.2.
ADENDOS:
A)-Pacto Internacional de Direitos Civis e PolticosProtocolo facultativo. B)- Pacto Internacional dos Direitos Econmicos, Sociais e Culturais. So direitos que a pessoa deve fruir como membro da sociedade. Ficaram abertos assinatura, ratificao e adeso pela Resoluo da AGNU em 19/12/1966. Brasil ratificou em Janeiro de 1992 e entrou em vigor em julho. So de cumprimento obrigatrio. Contudo, mais que isso, a DUDH tida como direito costumeiro ( jus cogens).
4.4.3. OS SITEMAS REGIONAIS DE PROTEO DOS DIREITOS HUMANOS Coexiste com o mundial. 4.4.3.1. O SISTEMA EUROPEU Conveno Europia para a proteo dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais Roma, 1950 Carta Social Europia de 1961 e os sucessivos protocolos. 4.4.3.1.l. CORTE EUROPIA DE PROTEO AOS DIREITOS HUMANOS Sede: Estrasburgo ( Frana) Atualmente, denncia ou queixa pode ser feita por qualquer pessoa ou grupos de pessoas, as ONG e os Estados-parte diretamente Corte. 4.4.3.1.2. COMISSO EUROPIA DE PROTEO AOS DIREITOS HUMANOS Funciona como uma instncia preliminar, embora no impea a postulao diretamente Corte. 4.4.3.2. O SISTEMA AMERICANO DE PROTEO DOS DIREITOS HUMANOS OU SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEO DOS DIREITOS HUMANOS A BASE NORMATIVA COMPOSTO POR:
99
100
Conveno Americana sobre a Proteo dos Direitos Humanos . S. Jos da Costa Rica 22/11/1969. (Carta de So Jos ) 12 Estados assinaram. 1993: 22 Repblicas americanas, ratificaram ou aderiram. Brasil, setembro de 1992. EUA, no. 54.4.3.2.1. .CORTE INTERAMERICANA DE PROTEO AOS DIREITOS HUMANOS Sede: So Jos da Costa Rica.. 4.4.3.2.2.COMISSO INTERAMERICANA DE PROTEO AOS DIREITOS HUMANOS : Instncia preliminar e tem amplo poder de requisitar informaes, formular recomendaes. Sede: Washington,D.C. (EUA)
4.4.3. O SISTEMA AFRICANO DE PROTEO DOS DIREITOS HUMANOS A base normativa : Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos de 1981. Funciona dentro da Estrutura da Organizao da Unidades Africana. 4.4.4. HUMANOS 6.1.)Direitos de 1 Gerao: Direitos Civis e Polticos. Direito Liberdade tradio individualista. ; Direitos civis e polticos: Direito vida, a uma nacionalidade, a liberdade de movimento, ao direito de asilo. Proibio de tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante. Proibio da escravido. A liberdade de opinio, liberdade de atividades polticas e trabalhistas. Direitos de 2 Gerao: Direitos econmicos, sociais e culturais. como se existisse uma dvida da sociedade para com o indivduo. S podem ser desfrutados com o auxlio do Estado. Direito ao Trabalho em Condies Justas e Favorveis; o Direito Educao e Cultura; Direito a um nvel adequado de Vida; Direito Seguridade e Seguro Social. Direitos sociais so desfrutados de maneira coletiva, ou seja, a soma do indivduo, Estado e outras entidades pblicas e privadas. Direitos de 3 Gerao: Direito de Solidariedade e Direito Humano ao Meio ambiente sadio. Direito Paz, Direito ao Desenvolvimento, Direito aos Bens que constituem o patrimnio comum da humanidade. O problema inerente a esses direitos de terceira gerao o de identificar seus credores e devedores. Art.III da DUDH: todo homem tem direito vida, liberdade e segurana pessoal. GERAES OU DIMENSES DOS DIREITOS
100
101
Direito ao reconhecimento de sua personalidade jurdica e a um processo judicial idneo. A no ser arbitrariamente detido, preso ou desterrado; a gozar presuno de inocncia at que se prove culpado; livre circulao; a uma nacionalidade.
4.4.5. -CONSIDERAES SOBRE VIOLAES MAIS COMUNS DOS DIREITOS HUMANOS 4.4.5.1. A ESCRAVIDO A Declarao Universal dos Direitos Humanos assim proclama: Art.IV: Ningum ser mantido em escravido ou servido; a escravido e o trfico de escravos sero proibidos em todas as suas formas. -Foi admitida na antigidade e praticados por pases civilizados. O trfico de escravos para os pases americanos foi um meio muito empregado para alimentar a escravido. princpio aceito universalmente que o homem no pode constituir propriedade de outro homem nem do Estado. O trfico acha-se condenado h muito mais de um sculo. O Congresso de Viena de 1815 constou a condenao internacional do trfico de escravos atravs de uma declarao de princpios datada de 8 de fevereiro de 1815. Tratado de Paris de 20/11/1815, atravs de um artigo adicional, tambm enfatizou o assunto. No Congresso de Aquisgrama ( aix-la-Chapelle de 1818) e de Verona de 1822, foram aprovadas Declaraes condenando a escravido e o trfico. O Pacto da Liga das Naes Condenou o Trfico de Escravos. Moralmente, a escravido comparada ao trabalho forado, no remunerado. Por isso, a 14 Conferncia Internacional do Trabalho de 1930, adotou uma Conveno que condenava tal espcie de trabalho e recebeu da ratificao de vrios pases.
4.4.5.2. TRFICO DE PESSOAS Hoje em dia, refere-se ao Trfico de Mulheres e ao Trfico de Crianas. Em 18 de maio de 1904 foi firmado um acordo para a represso do trfico de mulheres brancas e em 4 de maio de 1910, foi assinada a Conveno Internacional relativo represso do Trfico de Mulheres Brancas. No programa da Sociedade das Naes (SDN), previa o combate ao trfico de mulheres e crianas. Foi elaborada a Conveno Internacional de Genebra para a Represso do Trfico de Mulheres e Crianas 30/09/1921, complementada em 11/10/33 relativa a mulheres maiores.
101
102
A Carta da Organizao das Naes Unidas foi um retrocesso, pois silencia-se sobre o assunto. Em 1946, a A.G. endossou a sugesto ao comit legal, assumindo para si vrios encargos da SDN, dentre eles, o combate ao trfico de mulheres e crianas. Em 1949, os documentos e tratados anteriores, foram juntados numa s Conveno para o Combate do Trfico de Mulheres e Crianas. No contou com o apoio da maioria dos pases industrializados. Foi aceita pelos pases da europa oriental. Da europa ocidental, recebeu apenas o apoio da Espanha, Frana e Noruega. Da a importncia da Conveno anterior, pois vincula muitos pases industrializados.
4.4.5.3. HUMANAS
CONDIES DE TRABALHO EQITATIVAS E
A DUDH estipula no artigo XXIII, 1: Todo homem tem direito ao trabalho, livre escolha do emprego, a condies justas e favorveis de trabalho e a proteo contra o desemprego 3: o direito a uma remunerao justa e satisfatria, que lhe assegure, assim como sua famlia, uma existncia compatvel com a dignidade humana. Atualmente, vive-se uma fase de retrocesso. Exemplos: A)- O tratamento dado aos trabalhadores estrangeiros para o reerguimento da europa ocidental, especialmente na alemanha. Trabalhadores dos pases europeus mais pobres, principalmente procedentes da Turquia, reergueram a alemanha, mas o direito de permanncia no era reconhecido. Os que permanecem, contentam-se com empregos desprezados pelos nacionais. B)- A Frana com relao aos nacionais do antigo Imprio Colonial Francs, especialmente Argelinos, Marroquinos e Tunisianos. C)- A Inglaterra reconhecia a qualidade de cidado britnico ( isto , distinto do sdito ingls), aos nacionais dos pases que integram a Comunidade Bitnica ( British Commonwealth of Nations ). Depois, deixou de reconhecer as regalias que eram asseguradas, tanto que a imigrao de Jamaicanos, Indianos e Pasquitaneses severamente controlada. No fundo, ocorre uma discriminao pautada em motivos raciais, religiosos e de nacionalidade, condenada taxativamente pela Declarao de 1946. 4.4.5.4. DIREITO DE ASILO
Introduo
Este Instituto pode ser estudado sob a optica de um Direito do Estado, quando h uma interface com a dimenso pessoal do mesmo. De
102
103
outro lado, o tema pode ser estudado a partir da proteo dos Direitos Humanos e neste aspecto que aqui ele abordado. O Asilo era visto como uma instituio humanitria e no exige reciprocidade. Hoje tem sido includo dentre os Direitos Humanos. O Asilo Territorial no deve ser confundido com o Asilo Diplomtico.
Definio A proteo dada por um Estado, em seu territrio, a uma pessoa cuja vida ou liberdade se acha ameaada pelas autoridades de seu pas por estar sendo acusado de haver violado a sua lei penal ou, o que mais frequente, t-lo deixado para livrar-se de perseguio poltica. o acolhimento, pelo Estado, de estrangeiro perseguido alhures geralmente, mas no necessariamente no seu prprio pas patrial - por causa de dissidncia poltica, de delitos de opinio, ou por crimes que, relacionados com a segurana do Estado, no configurem quebra do direito penal comum (Rezek). Previso legal: Artigo XIV da Declarao Universal dos Direitos do Homem: todo homem, vtima de perseguio, tem o direito de procurar e gozar asilo em outros pases 2: no pode ser invocado em caso de perseguio motivada legitimamente por crimes de direito comum ou por atos contrrios aos objetivos e princpios das Naes Unidas. Observao: Fala no direito de procurar Asilo, mas no na obrigao do Estado em conced-lo. Conveno de Havana sobre o Asilo, de 1928. Foi substituda pela Conveno sobre o Asilo Poltico de Montevidu de 1933. Modificada pela Conveno sobre Asilo Diplomtico de Caracas de 1954. Resoluo 3.212 (XXII) de l967 da Assemblia Geral. Diretrizes bsicas do Asilo Territorial: a)- O Asilo um direito do Estado baseado em sua soberania; b)- deve ser concedido a pessoas que sofrem perseguio; c)- a concesso de Asilo deve ser respeitada pelos demais Estados e no deve ser motivo de reclamao; d)- a qualificao do delito incumbe ao Estado Asilante, que pode negar o asilo por motivos de segurana nacional; e)- as pessoas que fazem jus ao Asilo no devem Ter a sua entrada proibida pelo pas Asilante nem devem ser expulsas a um Estado onde podem estar sujeitas a perseguio; Disciplina do Asilo Diplomtico 1)- A natureza poltica dos delitos atribudas ao fugitivo; 2)- Atualidade da perseguio ( Estado de urgncia );
103
104
3)- Locais: Misses Diplomticas, isto , no reparties consulares. Via de regra, o embaixador a examinar as situaes acima e, se entender presentes, reclamar da autoridade local a expedio do salvoconduto para deixar o pas. Imveis inviolveis, segundo o costume internacional: navios de guerra acostados no litoral
CAPTULO V - OUTROS ATORES
5.1.)- AS ORGANIZAES NO GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS ( O.N.G.I. ) Definio: Designam-se organizaes no governamentais por no implicarem uma atividade oficial de colaborao governamental e no terem fins lucrativos. Relao das mais conhecidas: 1)- Sociedade para a Preveno da Crueldade contra os Animais ( Society for the Prevention of Cruelty to Animals )- 1824. Ainda Existente no Reino Unido. 2)-Sierra Club nos Estados Unidos da Amrica (1829) sob o impulso do naturalista John Muir. Ao longo de uma centena de anos, essa associao lanou as bases que viriam a ser adotadas em todo mundo pelas ONG. 3)-Royal Society for the Protection of Bids ( 1889) 4)- Royal Society for the Promotion of Nature Reservas (1912) 5)-Unio Internacional para a Conservao da Natureza(IUCN)-1948. Tem como membro mais de 50 Estados, 100 agncias e 400 ONG. atribuda a IUCN, juntamente com o WWF, a cunhagem do termo desenvolvimento sustentvel. 6)-O World Wide Fund For Nature W.W.F.- hoje a maior organizao mundial de proteo do ambiente com representao em cerca de 30 pases e um oramento anual na ordem de vinte e cinco milhes de contos. 7)-NOS EUA E CANAD foram criados em 1970/71 os Frends of the Earth ( Amigos da Terra e o GREENPEACE. O GREENPEACE INTERNACIONAL talvez a entidade de ao com repercusso mais conhecida, possui trinta escritrios e chegou a movimentar a cifra de 130 milhes de dlares em 1994. Atribui-se ao Greenpeace, os seguintes resultados de sua ao agressiva em defesa do meio ambiente: 1)-Suspenso do alijamento de produtos txicos no Mar do Norte pela Bayer. 2)-No afundamento da plataforma petrolfera Brent Spar, no Atlntico Norte, pela Companhia Shell; 3)-Denncia e posterior deciso da Comisso Baleeira Internacional da suspenso, ao nvel mundial, da caa baleia. Art.71 da Carta da ONU: o C.E.S. pode tomar todas as disposies teis para consultar as Organizaes No Governamentais que se ocupem de questes relacionadas com a sua competncia. As Organizaes, nestas condies, podem enviar observadores s reunies
104
105
pblicas do Conselho e das comisses. Essa poltica generalizou-se a outras Organizaes Internacionais. PONTO CRUCIAL: No so sujeitos do D.I.P. geral nem particular.
5.2)- AS TRANSNACIONAIS OU MULTINACIONAIS Definio: As empresas formadas por um centro de deciso num Estado e centro de atividade, dotado ou no de personalidade jurdica prpria, situado num ou vrios outros Estados, devero ser consideradas como constituindo em direito sociedades transnacionais. PONTO CRUCIAL: No so sujeitos do D.I. So pessoas de direito privado, que tm fim lucrativo e inegvel sua presena na cena internacional
CAPTULO VI: ALGUNS TEMAS RELEVANTES DO D.I.P.
6.1.)- O TRIBUNAL CRIMINAL INTERNACIONAL PERMANENTE ( OU: TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL ) Antecedentes 1)- O PRIMEIRO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL Em 1474 em Breisach, Alemanha, 27 juzes do Sacro Imprio Romano-Germnico, julgaram e condenaram Peter von Haggenbach por violao das leis Divinas e Humanas por autorizar que suas tropas estuprassem, matassem civis inocentes e pilhassem propriedades ( in Arago, Selma Regina, citando Japiass, p. 69. Bibliog.) 2)- O SEGUNDO TRIBUNAL: RELATIVO I GUERRA MUNDIAL : A)- O Tratado de Versalhes estabeleceu que o Kaiser Guilherme II havia violado as leis da guerra e que, por tal violao, deveria ser preso e processado criminalmente. B)- Autorizou o Supremo Tribunal Alemo a promover o julgamento. Os 20.000 (vinte mil) acusados, foram reduzidos para 895, porm, o procurador-geral Alemo concluiu ser impossvel julgar um nmero to grande de rus, e o nmero foi reduzido para 45. Destes 45, somente 21 foram julgados. Destes 21, 13 foram condenados a pena mxima de 3 anos ( Arago, Selma Regina, p.69. v. Bibliografia). C)- A impunidade repetiu-se em relao aos turcos. Os militares turcos foram responsveis pelo massacre de 600.000 ( seiscentos mil ) Armnios, segundo a comisso que investigou as violaes das leis e costumes da guerra. No foram julgados e no Tratado de Lausanne/1927, os militares turcos foram anistiados ( razes de convenincia poltico-
105
106
estratgicas: os turcos eram necessrios para impedir a passagem de navios soviticos para o Mar Mediterrneo ). O TRIBUNAL DE NUREMBERG ( E O TRIBUNAL DE TQUIO) a) Funcionamento: 20 de novembro de 1945 a 30 de setembro de 1946. b) Local: cidade alem de Nuremberg ( cidade das 100 torres ). Foi a Capital espiritual do nazismo. Em 1935 Hitler promulgou ali as leis contra os judeus. Ali Hitler tambm previu que o seu reich duraria mil anos. c)- Delitos colocados em julgamento: 1)-Plano Comum ou Conspirao ( Conspiracy, direito angloamericano ). Equivale formao de quadrilha ou bando no direito brasileiro. 2)-Crimes contra a Paz. Refere-se direo, preparao e ao desenvolvimento de uma guerra de agresso, bem como ao seu prosseguimento ( previsto no Pacto Briand-Kellog firmado em Paris, 1928, mas sem cominao de sano ). 3)Crimes de Guerra: Violao s leis e costumes da guerra. 4)-Crimes contra a Humanidade: referiam-se ao homicdio; extermnio; reduo escravido; deportao ou qualquer outro ato desumano ou cruel cometido contra populaes civis, antes ou durante a guerra, ou ento perseguies por motivos polticos, raciais ou religiososo, quando esses atos tenham sido cometidos em consequncia de qualquer crime que entrasse na competncia do Tribunal ou tivesse conexo com esse crime. Esses crimes, at ento, no eram reconhecidos pela Comunidade Internacional. So a grande inovao do Tribunal de NUREMBERG. d) Caractersticas: Foi implacvel na imposio da pena de morte. e)- Rus: M.Keitel, Comandante Supremo das Foras Armadas Alems; Franz von Papen, ex-Chanceler; Herman Goering: Marechal do Reich; Rudolf Hess, seguidos de Hitler. Joachim von Ribbentrop, ministro das Relaes Exteriores; Ernst Kaltebunnner, Chefe da polcia e da Gestapo. Alfred Rosenberg, idelogo do nazismo; Hans Frank, o carrasco da Polnia. Wilhelm Frick, ministro do Interior e protetor da Bomia e da Morvia. Julius Streicher, editor da revista Der Sturmer, que pregava o extermnio total da raa judia. Walter Funk, ministro das Finanas. Hjalmar Schacht, economista. Karl Doenitz, almirante, Comandante da Marinha, que assinou a rendio alem. Erich Raeder, Almirante, Ministro da Marinha at 1943. Hans Fritszche, ministro da Propaganda. Baldur von Schirach, ex-chefe da juventude hitlerista; Fritz Saukel, organizar do trabalho escravo. Alfred Jodl, Chefe do Exrcito alemo. Arthur SeyssInquart, Chefe do territrio ocupado da Holanda. Albert Speer, ministro da Produo e do Armamento; baro Constantin von Neurath. f) Condenaes: Sentena de morte para 11 rus ( Tod durch den strang: morte pela forca ); 20 anos; 15 anos ( von Neurath); 10 anos ( Almirante Doenitz). Absolvidos: von Papen, Schacht e Fitzsche. Goering: suicidou-se com cianureto.
106
107
Os mortos foram cremados nos fornos cremtios de Dachau, utilizados para o extermnio de milhes de judeus. As cinzas jogadas no rio Isaar, que atravessa a cidade de Munique. g)-CONTROVRSIAS: 1)-Uso da pena de morte; 2)- nulla poena sine lege ( no h pena sem lei ) 3)- Composio injusta do Tribunal ( deveria ser formado por representantes das naes neutras e no por representantes das potncias vencedoras. 4)-Aps a ao dos Tribunais de Nuremberg e Tquio, surgiram objees a um Tribunal Penal Internacional fundado na idia de soberania. 5)-Os aliados tambm execederam: A)-O bombardeio anglo-americano da cidade de Dresden, onde no havia nenhum aparato militar. Foram lanadas 9.900 bombas explosivas e 670 mil bombas incendirias. Mais da metade da cidade foi destruda ( patrimnio cultural da humanidade ). 250 mil pessoas morreram ( foi o maior massacre na histria da Europa ). O rumo da guerra j estava decidido. B)- Bomba Atmica sobre Hirosshima, em 5 de agosto de 1945. Bombardeiro B-59 Enola Gay lanou a bomba apelidada de little boy. 130 mil pessoas morreram imediatamente. A guerra j estava decidida. C)- Bomba Atmica sobre Nagasaqui, 9 de agosto de 1945. 75 mil mortos. Declarao de um General Americano: o emprego dessa arma brbara, tanto em Hiroshima como em Nagasaqui, no nos trouxe qualquer utilidade contra o Japo. Os japoneses j estavam derrotados, dispostos a capitular como consequncia do bloqueio de bombardeiros clssicos. ( Op. cit. p. 85 ). O TRIBUNAL DE TQUIO Julgou os criminosos de guerra japoneses, tomando como base o Tribunal de Nuremberg. Ambos os Tribunais foram aprovados, alm das 4 potncias vencedoras ( EUA, Unio Sovitica, Frana e Inglaterra ) por outros 19 Estados. CONVENO CONTRA O GENOCDIO Assinada aps a 2 Guerra. J previa a criao de uma Corte Criminal Permanente. A conveno foi adotada com facilidade, mas a Corte no foi implementada. A A.G. criou uma Comisso para estudar a viabilidade da criao de uma jurisdio criminal internacional e a Codificao dos crimes contra a paz e a segurana da humanidade. Assim como a criao de uma Cmara Criminal na Corte Internacional de Justia. Em 1951 ficou pronto o projeto de Estatuto para uma Corte Criminal Internacional, que foi modificado em 1953 e assim permaneceu at recentemente. Em 1989 e 1990 a A.G. requisitou CDI que prestasse informao sobre a criao de um Tribunal Penal Internacional para julgar pessoas envolvidas com o Trfico Internacional de Drogas. Nada aconteceu. Em 1992, o C.S., pela Resoluo 780, pediu em 1992 ao Secretrio-Geral, Bouthros Ghali, que constitusse uma Comisso de especialistas para apurar os acontecimentos dramticos na Iugoslvia.
107
108
Na Resoluo 808/93, aps receber o relatrio da Comisso, criou-se provisoriamente um Tribunal Internacional referente a IUGOSLVIA. Pela Resoluo 827/93 foi criado novamente um Tribunal Internacional com o nico objetivo de julgar as pessoas presumidamente responsveis pelas graves violaes cometidas no antigo territrio Iugoslavo entre 1 Janeiro/91 at a data que se celebrasse a paz. Pela mesma resoluo, o Estatuto foi aprovado. Pela Resoluo 955(1994) do C.S., por solicitao do governo de Ruanda, foi criado o Tribunal Penal Internacional Ad Hoc para julgar as pessoas presumidamente responsveis por atos de genocdios e outras graves violaes ao Direito Internacional Humanitrio, cometidos no territrio de RUANDA e por cidados ruandenses cometidos em territrios vizinhos. Pela Resoluo 48/31 da Assemblia Geral da ONU, foi solicitado CDI que acelerasse os estudos do Estatuto e recomendou que fosse convocada uma Conferncia. A Conferncia foi realizada em ROMA, de 15 de junho a 17 de julho/1998. Em 17/07/1998 numa Conferncia Diplomtica das Naes Unidas com representantes de 162 pases, foi estabelecido o TRIBUNAL CRIMINAL INTERNACIONAL PERMANENTE ( 120 votos a favor; 7 contra: EUA, China, Filipinas, ndia, Israel, Sria, Sri Lanka, Turquia; 21 abstenes ). Recursos Financeiros da Corte: a)-Contribuio dos Estados signatrios; b)- Recursos fornecidos pela ONU ( sob reserva da aprovao da A.G. nos casos iniciados a pedido do C.S. ); c)-Contribuies voluntrias de Governos, Organizaes Internacionais, Indivduos, empresas ou outras entidades. Sede: HAIA, HOLANDA. Funo: Julgar crimes de GENOCDIO CONTRA A HUMANIDADE, CRIMES DE GUERRA, ASSIM COMO CRIMES DE AGRESSO. Atuar apenas quando um pas mostrar falta de interesse ou capacidade para levar avante um processo contra o acusado. Obs.: Os soldados no podem ser responsabilizados quando estiverem cumprindo ordens e no souberem que os comandos de seus superiores so ilegais. Os crimes previstos so imprescritveis. Os Estados signatrios do Estatuto esto automaticamente sob jurisdio do Tribunal para casos de GENOCDIO E CRIMES CONTRA A HUMANIDADE. CRIMES DE GUERRA: Os pases podem ficar fora da jurisdio por 7 anos; O Conselho de Segurana poder pedir a interrupo dos processos por 1(um) ano, sujeito a renovao do pedido. Estatuto: 128 artigos. A PRIMEIRA CORTE PERMANENTE. Composio: 18 juzes e 1 Promotor Independente, este com poderes de dar incio a procedimentos de maneira autnoma, sujeito apenas a uma cmara de pr-julgamento a pedido de um pas-membro do Conselho de Segurana. O Estatuto entrar em vigor 60 dias aps o 60 pas o ratificar. Est aberto a adeses at 31/12/2000.
108
109
Outros crimes pretendidos que ficaram de fora: Agresso, Terrorismo, Trfico Ilcito de Drogas, Crimes contra o pessoal da ONU ou ainda Embargos econmicos. Tambm a incluso do uso de Armas Nucleares.
6.2)- ANOTAES SOBRE A QUESTO AMBIENTAL INTERNACIONAL 1)- SITUAES CONVERGENTES A)- Relatrio do Clube de Roma Relatrio U Than Deteco de pesticidas 2)- PROBLEMAS COMUNS A)- O FENMENO DA CHUVA CIDA Contaminao da atmosfera devido presena no ar de compostos de enxofre provenientes da indstrias e dos centros urbanos, especialmente dos veculos. O fenmeno no novo, foi detectado em Manchester, na Inglaterra, no sculo passado e o termo foi criado pelo qumico Roberto Angus Smith. O que novo foi sua constatao como um problema internacional. um tipo de poluio atmosfrica de longa distncia. a chuva, neve ou neblina com alta concentrao de cidos em sua composio, conhecida como chuva cida, um dos grandes problemas ambientais do mundo contemporneo. O xido de nitrognio (NO) e os dixidos de enxofre (SO2), principais componentes da chuva cida, so liberados com a queima de carvo e leo, fontes de energia que movem diversas economia no planeta. Na sia as indstrias de regio lanaram na atmosfera cerca de 34 milhes de toneladas de dixido de enxofre ao ano, 40% do que emitem os EUA, at ento o maior responsvel pela ocorrncia do fenmeno. Estes nmeros devem triplicar at 2010, sobretudo na China, ndia, Tailndia e Coria do sul, tanto por causa do aumento da produo industrial e da frota de veculos como pelo uso constante do carvo para gerar energia. Os efeitos observados vo desde a destruio da vegetao at danos causa dos edifcios e monumentos ( dissoluo do calcrio ), mas inclui a acidificao de rios e sobretudo lagos, causando a morte de peixes. Em termos econmicos, os efeitos da chuva cida em florestas, culturas e
109
110
edifcios do Reino Unido foram estimados em4.500 milhes de Euros/ano e na Alemanha esse valor supera 7.250 milhes de euros. Poluio transfronteiria.
B)- EFEITO ESTUFA Aquecimento da Terra causado pela concentrao de gs carbnico na atmosfera, provocado pela queima de combustveis fsseis. Provoca secas, enchentes, desertificao e subida do nvel dos mares. Dentre os gases, os principais so o dixido de carbono (C02), produzido pela queimada de florestas e pela combusto de produtos como carvo, petrleo e gs natural; o xido nitroso, gerado pela atividade das bactrias do solo; e o metano, produzido pela decomposio de matrias orgnicas. A forma como o efeito estufa se manifestar no fuutro ainda imprevisvel. A longo prazo, o superaquecimento do planeta pode causar problemas ambientais como tufes, furaces e enchentes, em conseqncia do derretimento das geleiras e do aumento da evaporao da gua. Deve atingir tambm a fauna, pois algumas espcies de animais no se adaptam a temperaturas elevadas, alm de comprometer ecossistemas, especialmente mangues, mais sensvel a alteraes do nvel domar. BURACO NA CAMADA DE OZNIO Situada na estratosfera, entre 20-35 km de altitude, a camada de oznio tem certa de 15 m de espessura. Sua constituio, h 400 milhes de anos, foi crucial para o desenvolvimento da vida na terra. Composta de um gs rarefeito, formado por molculas de trs tomos de oxignio- o oznio -,m ela impede a passagem de parte da radiao ultravioleta emitida pelo Sol. A agresso camada de oznio interfere no equilbrio ambiental e na sade humana e animal. Sem sua proteo, diminui a capacidade de fotossntese nas plantas e aumenta o risco do desenvolvimento de doenas como o cncer de pele. Pode Ter efeito mutagnico ( alterao do cdigo gentico ) e teratognico ( aparecimento de deformaes ), podendo levar at mesmo morte. Efeitos em desordens oculares. O impacto do CFC na camada de oznio comeou a ser observado em 1974 pelos qumicos Frank Rowland e Mario Molina, ganhadores do Prmio Nobel de Qumica de 1995. Eles confirmaram que o CFC reage com o oznio, reduzindo a incidncia desse gs e, conseqentemente, a espessura da camada. Na poca, o CFC usado em propelentes de sprays, embalagens de plstico, chips de computador, solventes para a indstria eletrnica e, sobretudo, nos aparelhos de refrigerao, como geladeiras e sistemas de ar condicionada.
D)-ALTERAES CLIMTICAS GLOBAIS
110
111
Os estudo mais importantes sobre o clima envolvem a questo do a aquecimento da Terra. O desmatamento e a emisso de gases tm provocado alteraes no clima mundial, e possvel que a temperatura do planeta aumente 3,5 no sculo XXI de acordo com especialistas da ONU. O aquecimento deve causar mudanas no regime normal da seca e chuva em algumas regies e afetar sobretudo as reas dos plos. Na Antrtica, o maior reservatrio de gua doce da Terra, j se observam indcios de crescimento do degelo. O derretimento do gelo poder elevar o nvel dos oceanos. .
E)- FATOS IMPACTANTES NA OPINIO PBLICA 1)- PROBLEMA DO MERCRIO NA BAA DE MINAMATA Um dos piores casos de intoxicao relatados, saiu suscintamente numa coluna intitulada Morte pela Boca. Conta o artigo que o mercrio presente em resduos industriais despejados durante anos na baa de Minamata, no sul do Japo, contaminou o pescado da regio. De 1953-1997, 12.500 pessoas haviam sido diagnosticadas com o mal de Minamata. um sistema que degenera o sistema nervoso e transmitida geneticamente, acarretando deformao nos fetos. 2)- GRANDES ACIDENTES MARTIMOS MUNDIAIS Acidentes com grandes petroleiros: Atlantic Express ( 1979 ) derramou 276.000 t petrleo bruto; Amoco Cadiz, 282.000t. Torrey Canyon e Exxon Valdez, 240.000 barris. ACIDENTE COM PESTICIDAS E ACIDENTES NUCLEARES 3)- RESPOSTA DA COMUNIDADE INTERNACIONAL 3.1.)- CONFERNCIA DAS NAES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE HUMANO ( CNUMAH ) ESTOCOLMO SUCIA/ 1972. PRINCIPAIS CONSEQNCIAS : A)- CRIAO DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE B)- O PROGRAMA DAS NAES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE ( PNUMA ) C)- O MOVIMENTO AMBIENTALISTA D)- DECLARAO DE ESTOCOLMO (O SOFT-LAW) E)- A QUALIDADE DOMEIO AMBIENTE COMO UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 3.2)- RELATRIO BRUNDTLAND: O NOSSO FUTURO COMUM 3.3)- CONFERNCIA DAS NAES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CNUMAD) RIO DE JANEIRO/ BRASIL/ 1992.
111
112
CONSOLIDAO DA IDIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL COMISSO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL AGENDA XXI DECLARAO DO RIO
BIBLIOGRAFIA 1. LAMBERT, Jean-Marie. Curso de Direito Internacional Pblico. Parte Geral.(Fontes e Sujeitos). Goinia, Kelps, 2002. 2. SOARES, Guido Fernando. Curso de Direito Internacional Pblico. So Paulo: Atlas, 2002. 3. REZEK, Jos Francisco. Direito Internacional Pblico: Curso Elementar. So Paulo: Saraiva, 2002. 4. BOSON, Gerson de Britto Mello. Direito Internacional Pblico. O Estado em Direito das Gentes. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 5. GAMA, Ricardo Rodrigues. Introduo ao Direito Internacional. Campinas(SP): Bookseller, 2002. 6. Accioly, Hildebrando e Silva, G. E. Do Nascimento. Manual de Direito Internacional Pblico. So Paulo: ____, 2002. 7. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Internacional Pblico. So Paulo: Renovar, 2005. 8. SOARES, Guido Fernando. Direito Internacional do Meio Ambiente. Emergncia, Obrigaes e Responsabilidades. So Paulo: Atlas, 2001. 9. PECEQUILO, Cristina Soreanu. Introduo s Relaes Internacionais. Temas, atores e vises. Petrpolis(RJ): Vozes, 2004. 10. PINHEIRO, Carla. Direito Internacional e Direitos Fundamentais. So Paulo: Atlas, 2001. 11. BEDIN, Gilmar Antnio. A Sociedade Internacional e o Sculo XXI. Iju (RS): UNIJU, 2001. 12. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos.Rio de Janeiro: Campus, 1992.
112
113
113
Você também pode gostar
- Guia prático de defesa penal de pessoas em situação de vulnerabilidade perante a Justiça FederalNo EverandGuia prático de defesa penal de pessoas em situação de vulnerabilidade perante a Justiça FederalAinda não há avaliações
- Noções Elementares de Direito Dos Mercados Financeiros.Documento16 páginasNoções Elementares de Direito Dos Mercados Financeiros.Andreia R FreireAinda não há avaliações
- Casos Práticos Interpretação 2015.2016Documento37 páginasCasos Práticos Interpretação 2015.2016Mêlissa FerreiraAinda não há avaliações
- Organização Social e Politica Versao FinalDocumento58 páginasOrganização Social e Politica Versao FinalLeonardo WegnerAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo II - Dir. ConstitucionalDocumento2 páginasExercícios de Fixação - Módulo II - Dir. ConstitucionalPaulo Júnior67% (6)
- Jorge Miranda - Tomo VDocumento9 páginasJorge Miranda - Tomo VAna VicenteAinda não há avaliações
- (Resumos) DIP PDFDocumento30 páginas(Resumos) DIP PDFLuana CamiloAinda não há avaliações
- Dip - Direito Internacional PúblicoDocumento11 páginasDip - Direito Internacional PúblicoCatarina Baptista67% (3)
- Direito Internacional Público - ResumoDocumento7 páginasDireito Internacional Público - Resumomdar138Ainda não há avaliações
- 12 Aula - VIEIRA DE ANDRADE. Os Direitos Fundamentais Na Constituição Portuguesa de 1976Documento59 páginas12 Aula - VIEIRA DE ANDRADE. Os Direitos Fundamentais Na Constituição Portuguesa de 1976Fabricio Dantas Jr.Ainda não há avaliações
- Apostila N. 1 de Direito Internacional PrivadoDocumento21 páginasApostila N. 1 de Direito Internacional Privadogdigar100% (2)
- Escolas Do Pensamento JurídicoDocumento5 páginasEscolas Do Pensamento JurídicoLeandro DomicianoAinda não há avaliações
- Resumo Direito Da União EuropeiaDocumento27 páginasResumo Direito Da União EuropeiaJoana MoreiraAinda não há avaliações
- Direito Internacional PublicoDocumento31 páginasDireito Internacional PublicoOrlei Damazio Silveira100% (1)
- Direito Internacional PúblicoDocumento184 páginasDireito Internacional PúblicoCarlos Filipe Costa / Cláudia Alves100% (3)
- Aulas Direito Constitucional IIDocumento60 páginasAulas Direito Constitucional IIJussara NozariAinda não há avaliações
- Direito Internacional PúblicoDocumento129 páginasDireito Internacional PúblicoBrunoViniciusAinda não há avaliações
- Trabalho de Historia Das Ideias Politicas e Juridicas.Documento6 páginasTrabalho de Historia Das Ideias Politicas e Juridicas.Ayrton Djalma da SilvaAinda não há avaliações
- Direito FiscalDocumento14 páginasDireito FiscalAna DanielaAinda não há avaliações
- 1 Direito Da IntegraÇÃoDocumento8 páginas1 Direito Da IntegraÇÃoanon-239346100% (5)
- Responsabilidade Civil Das Instituicoes BancariasDocumento35 páginasResponsabilidade Civil Das Instituicoes BancariasHax DuceAinda não há avaliações
- DIP-Lima Pinheiro e OutrosDocumento52 páginasDIP-Lima Pinheiro e Outrosagoquint100% (5)
- Apostila de Processo Constitucional PDFDocumento61 páginasApostila de Processo Constitucional PDFdenis lopes100% (1)
- Sebenta Direito Internacional PúblicoDocumento43 páginasSebenta Direito Internacional PúblicoLaísa NogueiraAinda não há avaliações
- 1 - Resumo Direito Administrativo - Volume I DFADocumento81 páginas1 - Resumo Direito Administrativo - Volume I DFASimone Vaz100% (1)
- Programa de Direito Fiscal 2020Documento2 páginasPrograma de Direito Fiscal 2020Dionísio LucasAinda não há avaliações
- As Fontes Volunt - Rias Do D. AdministrativoDocumento13 páginasAs Fontes Volunt - Rias Do D. AdministrativoEdivaldo FaroAinda não há avaliações
- Direito Comércio InternacionalDocumento8 páginasDireito Comércio InternacionalRailson RamosAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Integração Regional O Mercosul - Módulo IDocumento29 páginasFundamentos Da Integração Regional O Mercosul - Módulo IarukdepaulaAinda não há avaliações
- Finanças PúblicasDocumento26 páginasFinanças PúblicasIrina MunteanuAinda não há avaliações
- A Tutela Administrativa Sobre As Autarquias Locais em AngolaDocumento16 páginasA Tutela Administrativa Sobre As Autarquias Locais em AngolaFelizardo CostaAinda não há avaliações
- Jorge Miranda - Tomo IIIDocumento21 páginasJorge Miranda - Tomo IIIAna VicenteAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito Internacional PúblicoDocumento38 páginasApontamentos de Direito Internacional Públicoagoquint50% (4)
- Jorge Miranda - Tomo IDocumento11 páginasJorge Miranda - Tomo IAna VicenteAinda não há avaliações
- Direito de Integração RegionalDocumento14 páginasDireito de Integração RegionalSarmento JoseAinda não há avaliações
- Ciência Política E Direito ConstitucionalDocumento83 páginasCiência Política E Direito ConstitucionalAbel PatacaAinda não há avaliações
- Resolução de Casos - Método de Análise e ResoluçãoDocumento18 páginasResolução de Casos - Método de Análise e ResoluçãoAntónio LeãoAinda não há avaliações
- Teoria Geral Do Direito Civil I - Powerpoint 1Documento25 páginasTeoria Geral Do Direito Civil I - Powerpoint 1joanap2003Ainda não há avaliações
- Manual de Teoria Geral - Mota PintoDocumento105 páginasManual de Teoria Geral - Mota PintoBiche MussaAinda não há avaliações
- Fiscalizacão Da Inconstitucionalidade Por Omissão - Jorge MirandaDocumento32 páginasFiscalizacão Da Inconstitucionalidade Por Omissão - Jorge MirandaFirmino EmilioAinda não há avaliações
- Fiscalização Da ConstituiçãoDocumento30 páginasFiscalização Da Constituiçãovictorra357712Ainda não há avaliações
- História Do Direito Penal PortuguêsDocumento8 páginasHistória Do Direito Penal PortuguêsJoao MatiasAinda não há avaliações
- DIP Exame & Grelha Correcção (19.01.2009)Documento3 páginasDIP Exame & Grelha Correcção (19.01.2009)losriosAinda não há avaliações
- Apontamentos para Teste-1Documento14 páginasApontamentos para Teste-1Kelves piresAinda não há avaliações
- Direito ComunitarioDocumento75 páginasDireito ComunitarioSusana OlivençaAinda não há avaliações
- Aula Fins Do EstadoDocumento22 páginasAula Fins Do EstadojeffersonleleuAinda não há avaliações
- Direito Constitucional CompletoDocumento162 páginasDireito Constitucional Completoivohfa100% (1)
- OMC - Organização Mundial Do ComércioDocumento6 páginasOMC - Organização Mundial Do Comérciormg2010Ainda não há avaliações
- Fichamento Direitos Fundamentais Jose de Melo AlexandrinoDocumento20 páginasFichamento Direitos Fundamentais Jose de Melo AlexandrinoemmanuelruckAinda não há avaliações
- DA I - Paulo Otero - Sebenta SofiaDocumento285 páginasDA I - Paulo Otero - Sebenta SofiaBeatriz SousaAinda não há avaliações
- Direitos Fundamentais - Elementos de Apoio (UM)Documento65 páginasDireitos Fundamentais - Elementos de Apoio (UM)neusa_liquito5545Ainda não há avaliações
- Resumo Direito Da União EuropeiaDocumento16 páginasResumo Direito Da União EuropeiaEmily MelloAinda não há avaliações
- DipDocumento6 páginasDipSantosMazivila0% (1)
- Teoria Geral Do Direito Civil - Matéria CivilistaDocumento4 páginasTeoria Geral Do Direito Civil - Matéria CivilistaMarcioAinda não há avaliações
- Contencioso Administrativo AulasDocumento174 páginasContencioso Administrativo AulasIvânia de OliveiraAinda não há avaliações
- O Estado de Direito (Jorge Miranda)Documento6 páginasO Estado de Direito (Jorge Miranda)Carlos Filipe Costa / Cláudia AlvesAinda não há avaliações
- Economia PolíticaDocumento3 páginasEconomia PolíticaSou VidalAinda não há avaliações
- Princípios Constitucionais Fundamentais Do Estado BrasileiroDocumento11 páginasPrincípios Constitucionais Fundamentais Do Estado BrasileiroFrancisco Cauê100% (15)
- Transparência e legalidade como estratégias de valorização da atividade da autoridade tributáriaNo EverandTransparência e legalidade como estratégias de valorização da atividade da autoridade tributáriaAinda não há avaliações
- Novos estudos de direito internacional contemporâneo - Vol. 1No EverandNovos estudos de direito internacional contemporâneo - Vol. 1Ainda não há avaliações
- Taxa de Justiça OficiosoDocumento10 páginasTaxa de Justiça OficiosoManuelAinda não há avaliações
- Barbas Homem Antonio Pedro Ensino Do Direito e Estado de Direito em AngolaDocumento9 páginasBarbas Homem Antonio Pedro Ensino Do Direito e Estado de Direito em AngolaNelson TolosseAinda não há avaliações
- Jurisprudencia STF - 2015Documento141 páginasJurisprudencia STF - 2015Iuri OliveiraAinda não há avaliações
- Recurso Prova DiscurcivaDocumento5 páginasRecurso Prova DiscurcivaGabriela BoechatAinda não há avaliações
- OAB Direito ConstitucionalDocumento5 páginasOAB Direito ConstitucionalTulio Santos Fonseca100% (1)
- Sistema de PartidosDocumento15 páginasSistema de PartidosPedrozaAinda não há avaliações
- A Matriz Ideologica Da CLTDocumento50 páginasA Matriz Ideologica Da CLTRafael Ricardo VolkartAinda não há avaliações
- Questionário PNRH - IsadoraDocumento5 páginasQuestionário PNRH - IsadoraIsadora PalhanoAinda não há avaliações
- Avaliação Final Direito ConstitucionalDocumento22 páginasAvaliação Final Direito ConstitucionalFabiano Bellon67% (3)
- Edital de Abertura N 02 2022Documento29 páginasEdital de Abertura N 02 2022wellington ladeira soaresAinda não há avaliações
- CF - GrifadaDocumento547 páginasCF - GrifadaSara AlvesAinda não há avaliações
- A Evolução Constitucional Do Brasil - Paulo BonavidesDocumento24 páginasA Evolução Constitucional Do Brasil - Paulo BonavidesCarolina NevesAinda não há avaliações
- O Princípio Da Boa-FéDocumento25 páginasO Princípio Da Boa-FéSteffany MarquesAinda não há avaliações
- Instituto Aocp 2019 See PB Professor Historia ProvaDocumento15 páginasInstituto Aocp 2019 See PB Professor Historia ProvaDaniel Anderson100% (1)
- Direito Civil Contemporâneo - Paulo LoboDocumento22 páginasDireito Civil Contemporâneo - Paulo LoboJoão Pedro Mello100% (1)
- Resumo Apresentação Semana de PsicologiaDocumento4 páginasResumo Apresentação Semana de PsicologiaTiagoCoutinhoAinda não há avaliações
- Adi Material para EstudoDocumento21 páginasAdi Material para EstudoThá OliveiraAinda não há avaliações
- O Agravo de Instrumento CriminalDocumento11 páginasO Agravo de Instrumento CriminalEduardo Librandi JuniorAinda não há avaliações
- Lei N 13 146 2015 Estatuto Parte I E1671057229Documento42 páginasLei N 13 146 2015 Estatuto Parte I E1671057229Gabriel Guedes de AquinoAinda não há avaliações
- 9º ANO PLANO DE CURSO II UnidadeDocumento8 páginas9º ANO PLANO DE CURSO II UnidadeCleidiane LimaAinda não há avaliações
- ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo - O Direito Como Sistema AutopoiéticoDocumento55 páginasALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo - O Direito Como Sistema AutopoiéticoPaulo AlvesAinda não há avaliações
- D - Curso-Direito Cnstitucional-Aula-01Documento157 páginasD - Curso-Direito Cnstitucional-Aula-01marcos Naadison gabrielAinda não há avaliações
- Redução Maioridade PenalDocumento4 páginasRedução Maioridade PenalCristiane FerreiraAinda não há avaliações
- MONOGRAFIA - Terceirização Na Administração Pública - Revisão Da Versão Final PDFDocumento74 páginasMONOGRAFIA - Terceirização Na Administração Pública - Revisão Da Versão Final PDFmichelleericardoAinda não há avaliações
- FCC 2017 Tre PR Tecnico Judiciario Area Administrativa ProvaDocumento17 páginasFCC 2017 Tre PR Tecnico Judiciario Area Administrativa ProvaJonathan LopesAinda não há avaliações
- Direitos Humanos Estratégia PDFDocumento86 páginasDireitos Humanos Estratégia PDFJuliana OliveiraAinda não há avaliações
- As Novas Tendencias Do Federalismo e Seus Reflexos Na Constituicao Brasileira de 1988 Raul Machado Horta PDFDocumento12 páginasAs Novas Tendencias Do Federalismo e Seus Reflexos Na Constituicao Brasileira de 1988 Raul Machado Horta PDFPaulo AmericoAinda não há avaliações