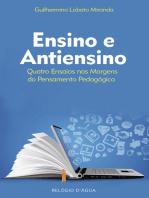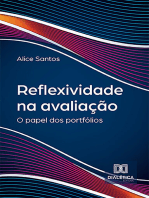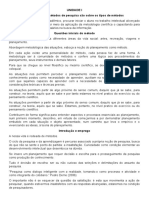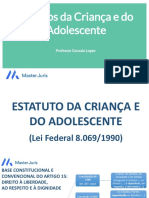Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Papel Das Atividades Investigativas Na Construção Do Conhecimento
Enviado por
Rogerio De Sousa PereiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Papel Das Atividades Investigativas Na Construção Do Conhecimento
Enviado por
Rogerio De Sousa PereiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Conforme Moreira (1983), a resoluo d problemas que leva a uma in vestigao deve estar fundamentada na ao do aluno.
O s alunos devem ter oportunidade de agir e o ensino deve ser acompanhado de aes e demonstra es que o levem a um trabalho prtico. Para que uma atividade possa ser considerada um a atividade de investi gao, a ao do aluno no deve se limitar apenas ao trabalho de manipulao ou observao, ela deve tambm conter caractersticas de um trabalho cient fico: o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dar ao seu trabalho as caractersticas de um a investigao cientfica. Essa investigao, porm, deve ser fundamentada, ou seja, importante que uma atividade de investigao faa sentido para o aluno de m odo que ele saiba o porqu de estar investigando o fenmeno que a ele apresentado. Pa ra isso, fundamental nesse tipo de atividade que o professor apresente um problema sobre o que est sendo estudado. A colocao de um a questo ou problema aberto como ponto de partida ainda um aspecto fundamental pa ra a criao de um novo conhecimento. Bachelard (1996) assinala que todo conhecimento resposta a uma questo . Para Lewin e Lomasclo (1998): A situao de formular hipteses, preparar experincias, realiz-las, reco lher dados, analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de laboratio como projetos de investigao, favorece fortemente a motivao dos es tudantes; fazendo-os adquirir atitudes tais como curiosidade, desejo de experimentar, acostUmar-se a duvidar de certas afirmaes, a confrontar resultados, a obterem profundas mudanas conceituais* metodolgicas e atitudinais. Podemos dizer, portanto, que a aprendizagem d e procedimentos e atitu des se torna, dentro do processo de aprendizagem, to importante quanto a aprendizagem de conceitos e/ou contedos. N o entanto, s haver a aprendizagem e o desenvolvimento desses con tedos - envolvendo a ao e o aprendizado de procedim entos se houver a ao do estudante durante a resoluo de ura problem a: diante de um proble ma colocado pelo professor, o aluno deve refletir, b u scar explicaes e partici par com mais ou menos intensidade (dependendo d a atividade didtica pro posta e de seus objetivos) das etapas de um processo que leve resoluo do
0 PAPEI DAS ATIVIDADES 1NVESTIGAT1VAS NA CONSTRUCO DO CONHECIMENTO
Um a atividade investigativa (no necessariamente de laboratrio) , sem dvi da, um a importante estratgia no ensino de Fsica e de Cincias em geral. M o reira e Lcvandowski (1983) ressaltam que a atividade experimental com po nente indispensvel no ensino da Fsica e que esse tipo de atividade pode ser orientada para a consecuo de diferentes objetivos . preciso que sejam realizadas diferentes atividades, que devem estar acompanhadas de situaes problematizadoras, questionadoras e de dilogo, envolvendo a resoluo de problemas e levando introduo de conceitos pa ra que os alunos possam construir seu conhecimento (Carvalho et al., 1995).
ym >. M J O I X I W I W W W / o A H V lU A U t S t M i>fllfl U t A U t A
problema propqsto, enquanto o professor muda sua postura, deixando de agir como transm issor do conhecimento, passando a agir como um guia. A experim entao baseada na resoluo de problemas no suficiente pa ta a descoberta de um a lei fsica, tampouco achamos necessrio que o aluno passe por todas as etapas do processo de resoluo de maneira autnoma, mas que, com base nos conhecimentos que os alunos j possuem do seu contato cotidiano co m o m undo, o problema proposto e a atividade de ensino criad a partir dele venham despertar o interesse do aluno, estimular sua participa o, apresentar uma questo que possa ser o ponto de partida para a constru o do conhecimento, gerar discusses e levar o aluno a participar das etapas do processo d e resoluo do problema. O utro objetivo na resoluo de problemas proporcionar a participao do aluno de m odo que ele comece a produzir seu conhecimento por meio da interao entre pensar, sentir e fazer. A soluo de problemas pode ser, por tanto, um instrum ento importante no desenvolvimento de habilidades e ca pacidades, com o; raciocnio, flexibilidade, astcia, argumentao e ao. Alm do conhecim ento de fatos e conceitos, adquirido nesse processo, h a aprendizagem de outros contedos: atitudes, valores e normas que favorecem a aprendizagem de fatos e conceitos. N o podemos esquecer que, sc preten demos a construo de um conhecimento, o processo to importante quan to o produto. Utilizar atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a compreenso de conceitos uma forma de levar o aluno a participar de seu processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e comear a perceber e a agir sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com acontecimen tos e buscando as causas dessa relao, procurando, portanto, uma explicao causai para o resultado de suas aes e/ou interaes. O processo de pensar, que c fruto dessa participao, faz com que o alu no comece a construir tambm sua autonomia (Carvalho et aL, 1998). Para Garret (1988), pensar parte do processo de solucionar problemas, e inclui o reconhecimento da existncia de um problema e as aes, que so necessrias para seu enfrentamento, A experimentao, mediante a observao de fen menos em um curso de Cincias, pode ainda ser um instrumento na criao de conflitos cognitivos. Carvalho (1992) define o conflito cognitivo como um a estratgia segundo a qual o aluno aprende se suas concepes espontneas
so colocadas em confronto com os fenmenos ou com resultados experimen tais. Desse modo, por meio da observao e da ao, que so pressupostos b sicos para uma atividade investigativa, os alunos podem perceber que o conhe cimento cientfico se d atravs de uma construo, mostrando assim seu aspecto dinmico e aberto, possibilitando at mesmo que o aluno participe dessa construo, ao contrrio do que descrevem os livros de Cincias, em que o mtodo cientfico mostrado como algo fechado, um a seqncia lgica e rgida, composta de passos a serem seguidos, fazendo com que o aluno pense que a cincia fechada, criada a partir e somente da observao. Gil e Castro (1996) descrevem alguns aspectos da atividade cientfica que podem ser explorados numa atividade investigativa, pois ressaltam a impor tncia dessas atividades. Dentre eles esto: ' 1. apresentar situaes problemticas abertas; 2. favorecer a reflexo dos estudantes sobre a relevncia e o possvel interesse das situaes propostas; 3. potencializar anlises qualitativas significativas, que ajudem a compreender e acatar as situaes planejadas e a formular perguntas operativas sobre o que se busca; 4. considerar a elaborao de hipteses como atividade central da investigao cientfica, sendo esse processo capaz de orientar o tratamento das situ'aes e de fazer explcitas as pr-concepes dos estudantes; 5. considerar as anlises, com ateno nos resultados (sua interpretao fsica, confiabilidade etc.), de acordo com os conhecimentos disponveis, das hi pteses manejadas e dos resultados das demais equipes de estudantes; 6. conceder uma importncia especial s memrias cientficas que reflitam o trabalho realizado e possam ressaltar o papel da comunicao e do debate na atividade cientfica; 7. ressaltar a dimenso coletiva do trabalho cientfico, por meio de grupos de trabalho, que interajam entre si. Podemos dizer tambm que.nesse tipo^de.trabalho h.um envolvimento emocional por parte do aluno, pois ele passa a usar suas estruturas mentais de forma crtica, suas habilidades e tambm suas emoes. Mais um a vez, o pro cesso de aprendizagem mostra-se importante, pois se o objetivo o ensino de procedimentos cientficos, o mtodo contedo.
CAP. 2 - ENSINO POR INVESTIGAO: PROBIEMATIZANDO AS ATIVIDADES EM SAIA DE AUIA
E m 'u m laboratrio tradicional, o aluno deve seguir instrues (de um ma nual ou d o professor) sobre, as quais no tem nenhum poder de deciso. Seguin do um a srie de passos propostos, deve chegar a um objetivo predeterminado. Segundo Carrasco (1991). as aulas de laboratrio devem ser essencialmen te investigaes experimentais pelas quais se pretende resolver um proble ma. Essa uma boa definio para a abordagem do Laboratrio Aberto e pode ser estendida para outras atividades de ensino por investigao. Em uma atividade de laboratrio dentro dessa proposta, o que se busca no a verificao pura e simples de uma lei; Outros objetivos so considerados como de maior importncia, como, por exemplo, mobilizar os alunos pa ra a soluo de um problema cientfico e, a partir da, lev-los a procurar uma metodologia para chegar soluo do problema, s implicaes e s concluses dela advindas. O s objetivos pedaggicos que se procura atingir com essa abordagem po dem ser resum idos na lista de cinco grupos citados por Blosser (1988): habilidades - de manipular, questionar, investigar, organizar, comunicar; conceitos - por exemplo: hiptese, modelo terico, categoria taxionmica; habilidades co gn itiv as-pensamento crtico, soluo de problemas, apli cao, sntese; compreenso da natureza da cincia - empreendimento cientfico, cien tistas e como eles trabalham, a existncia de uma multiplicidade de m todos cientficos, inter-rclaes entre cincia e tecnologia e entre vrias disciplinas cientficas; atitu cles- por exemplo: curiosidade, interesse, correr risco, objetivida de, preciso, perseverana, satisfao, responsabilidade, consenso, cola borao, gostar de cincia.
expositivas, passando a ter grande influncia sobre ela, precisando argumentar, pensar, agir, interferir, questionar, fazer parte da construo de seu conhecimen to. Com isso, deixa de ser apenas um conhecedor de contedos, vindo a apren der atitudes, desenvolver habilidades, como argumentao, interpretao, an lise, entre outras. Observamos que, quando os alunos tm oportunidade de expor suas idias, elaborar hipteses, questionar e defender seus pontos de vis ta, as idias que surgem nas respostas so diferentes, relacionadas s conversas ocorridas nos diferentes grupos de estudantes, ficando o professor com a fun o de acompanhar as discusses, provocar, propondo novas questes e ajudar os alunos a manterem a coerncia de suas idias (Duschl, 1998). Pata isso, muito mais do que saber a matria que est ensinando, o pro fessor que se propuser a fazer de sua atividade didtica um a atividade investigativa deve tornar-se um professor questionador, que argumente, saiba condu zir perguntas, estimular, propor desafios, ou seja, passa de simples expositor a orientador do processo de ensino. Carvalho et al. (1998) descrevem a influn cia do professor num ensino em que o aluno faz parte da construo de seu co nhecimento da seguinte maneira: o professor que prope problemas a serem resolvidos, que iro gerar idias que, sendo discutidas, permitiro a ampliao dos conhecimentos prvios; promove oportunidades para a reflexo, indo alm das atividade!; puramente prticas; estabelece mtodos de trabalho colaborativo e um am biente na sala de aula em que todas as idcias so respeitadas.
AS ATIVIDADES INVESTIGATIVAS
Descreveremos as atividades investigativas que podem ser todas encaradas co mo problemas a serem resolvidos, que foram usadas em sala de aula:
' 0 PROFESSOR E 0 ALUNO NUM A PROPOSTA INVESTIGATIVA
Um aspecto.que fica evidente na anlise feita sobre o papel da investiga o da mudana de atitude que essa metodologia deve proporcionar tanto no alu no como na prtica do professor. N um a proposta que utilize a investigao com os objetivos descritos ante riormente, o aluno deixa de ser apenas um observador das aulas, muitas vezes
Demonstraes investigativas
Geralmente, as demonstraes de experimentos em Cincias so feitas com o ob jetivo de ilustrar uma teoria, ou seja, o fenmeno demonstrado a fim de com provar uma teoria j estudada ou em estudo. Acreditam os. que as demonstraes experimentais podem trazer uma contribuio maior para o ensino de Fsica, des de que envolvam uma investigao acerca dos fenmenos demonstrados.
........tM SAIA DE AULA
' G h am am os de demonstraes experimentais'investigativas as demonstra es que partem da apresentao de um problema ou de um fenmeno a ser estudado e levam investigao a respeito desse fenmeno.
fim de que os alunos possam estabelecer a diferena entre os dois fenmenos usando a Teoria Cintico Molecular. Alm dessas discusses, em todas as atividades experimentais demonstrati vas os alunos tiveram que refletir sobre o que havia acontecido e descrever suas observaes, ou seja, reflexes, discusses, relatos e ponderaes j citados (Car valho et al., 1998). Com isso, a atividade experimental deixa de ser apenas uma ilustrao da teoria e torna-se um instrumento riqussimo do processo de ensino. Aps as discusses e as reflexes, a vez de o professor sistematizar as ex plicaes dadas ao fenmeno, preocupando-se em enfatizar como a cincia o descreve e, algumas vezes, quando necessrio, chegando s representaes ma temticas que expressam o fenmeno. As demonstraes realizadas em sala podem ser cham adas de investigativas, porque o aluno foi levado a participar da formulao de hipteses acerca do problema proposto pelo professor e da anlise dos resultados obtidos, ou seja, foi levado a encarar os trabalhos experimentais desenvolvidos em sala de aula como atividades de investigao (Lewin e Lom asclo, 1998). A anlise das aulas de demonstrao investigativa permitiu que se verifi cassem as contribuies que uma atividade experimental como esta, ligada soluo de problemas e argumentao, pode trazer para o ensino de Fsica. Dentre elas, esto: t
Como trabalhamos as demonstraes investigativos
D e m aneira geral, as demonstraes feitas em sala de aula partem sempre de um problem a. Esse problema proposto classe pelo professor, que por meio de questes feitas aos alunos procura detectar que tipo de pensamento, seja ele intuitivo ou de senso comum, eles possuem sobre o assunto. C om isso, pre tendem os que o aluno exercite suas habilidades de argumentao, chegando m ediante esse processo elaborao do conceito envolvido. Por exemplo: mostra-se uma bexiga vazia acoplada a um erlenmayer e o professor pergunta: O que acontecer com a bexiga quando aquecermos o erlenmayer? Para alguns alunos, muitas vezes a soluo para o problema colocado parece sim ples, isso porque trabalhamos diretamente com questes relaciona das ao cotidiano desse aluno, mas, em geral, nenhum aluno possua um a ex plicao cientfica para o que estava sendo observado. Assim, respondiam ape nas a bexiga enche ou a bexiga vai estourar. O papel do professor o de construir com os alunos essa passagem do sa ber cotidiano para o saber cientfico, por meio da investigao e do prprio questionamento acerca do fenmeno. A partir da formulao do problema e de uma discusso geral com a sala de aula, que se diversificou para cada experincia, a demonstrao era realiza da e, a sim, iniciava-se uma discusso sobre o que havia sido observado e tam bm sobre quais seriam as explicaes cientficas acerca do observado, muitas vezes auxiliadas por textos de histria da Cincia, que mostravam a evoluo do conceito envolvido. No exemplo citado, o professor questiona novamente: por qu?. O s alunos, ento, buscam uma explicao dentro dos conhecimen tos j adquiridos para o fenmeno: alguns acham que ocorre conveco, Ou tros, dilatao, O professor sugere, ento, que se aqe o conjunto de cabe a para baixo , isto , aquecendo a bexiga, a fim de confirmar o u no a conveco. Quando no se confirma a conveco, abre-se espao par pro posta de explicao que a dilatao do ar, e o professor, ento, aprofunda, fa zendo com que expliquem o que est acontecendo com as partculas do ar, a
percepo de concepes espontneas por meio da participao do alu no nas diversas etapas da resoluo de problemas; valorizao de um ensino por investigao; aproximao de uma atividade de investigao cientfica; maior participao e interao do aluno em sala de aula; valorizao da interao do aluno com o objeto de estudo; valorizao da aprendizagem de atitudes e no apenas de contedos; possibilidade da criao de conflitos cognicivos em sala de aula.
Laboratrio Aberto
Uma atividade de laboratrio aberto busca, como.as outras atividades de ensi no por investigao, a soluo de uma questo; que no caso ser respondida por uma experincia. Essa busca de soluo pode ser dividida basicamente em seis momentos:
26
/ ii
______________________
___ ___
r ftu o u / v iA H W im J
A liyiD A D fc S fcM b fllft 0E A U IA
Proposta da problema
O problem a deve ser proposto na forma de uma pergunta que estimule a curio sidade cientfica dos estudantes. importante tambm que essa questo no seja muito especfica, de modo que possa gerar uma discusso bastante ampla. A resposta a essa questo inicial ser o objetivo principal do experimen to. Por exem plo: o que acontece com a temperatura da gua enquanto ns a aquecem os? O que influi no aumento de temperatura? . O u: A partir das suas observaes, como varia a velocidade da bolha de ar no tubo com gua duran te o movimento? O u ser que no varia? O que influi na sua velocidade? .
Aps a montagem do arranjo, devem passar coleta de dados que deve ser feita de acordo com o plano de trabalho elaborado pelo grupo. Nessa fase do trabalho, o professor percorre os grupos, verificando se to dos esto montando o material como combinado, e se esto coletando os da dos e anotando de forma organizada, para o trabalho posterior. Essa fase tambm exige envolvimento no trabalho e possibilita a discus so da importncia do cuidado na obteno de dados, j que diferentes gru pos podem estar testando diferentes hipteses e, se no h compromisso, po de-se chegar a concluses erradas.
Levantamento de hipteses
Proposto o problema, os alunos devem levantar hipteses sobre a soluo do problem a por meio de uma discusso. N o exemplo citado anteriormente: A temperatura d gua aumenta; a temperatura aumenta at 100 C e depois pra de aumentar; a quantidade de gua influi no aumento de temperatura; a quantidade de energia fornecida in flui etc.
Analise dos dados
O btidos os dados, necessrio que estes sejam analisados para que possam for-? necer informaes sobre a questo-problema. Essaetapa inclui a construo de grficos, obteno de equaes e teste das hipteses. Pode ser feita usando pa pel milimetrado e reta mdia, ou usando o Excel, num a sala de informtica. Essa a parte do trabalho em que os alunos apresentam mais dificuldade, pois se trata da traduo grfica ou .algbrica dos resultados obtidos. Cabe ao pro fessor mostrar que essa a parte fundamental do trabalho cientfico, e que a linguagem matemtica ajuda a generalizao do trabalho. <
Elaborao do plano de trabalho
Levantadas as hipteses, deve-se discutir como ser realizado o experimento. Nessa etapa, que chamamos de plano de trabalho, ser decidida a maneira co mo a experincia ser realizada: desde o material necessrio, passando pela m ontagem do arranjo experimental, coleta e anlise de dados. A discusso deve ser feita pelo professor com toda a turma para que se ob serve que nem todas as hipteses podem ser testadas por meio da realizao de um nico experimento, portanto, h vantagem em se ter vrios grupos para rea lizar "o mesmo experimento, testando as diversas hipteses levantadas, median te mudanas controladas nos arranjos experimentais. Decididas quais sero es sas mudanas, cada grupo deve detalhar seu plano de trabalho por escrito.
Concluso
N a concluso, deve-se formalizar uma resposta ao problema inicial discutindo a validade (ou no) das hipteses iniciais e as conseqncias delas derivadas.
Questes Abertas
Chamamos de questes abertas aquelas em que procuramos propor para os alunos fatos relacionados ao seu dia-a-dia, e cuja explicao estivesse ligada ao conceito discutido e construdo nas aulas anteriores. Percebemos sua importncia no desenvolvimento da argumentao dos alunos e da sua redao, isto , que atingia o desenvolvimento de competn cias, hoje requisitadas pelo Enem , como dem onstrar o domnio da norma cul ta da lngu portuguesa e do uso da linguagem cientfica; aplicar conceitos para a corrvpreenso de fenmenos naturais, selecionar e organizar informa es para enfrentar situaes-problema; organizar informaes e conheci
Montagem do arranjo experimental e coleta de dados
Esta a etapa mais prtica do laboratrio: quando os alunos manipulam o material. Essa manipulao extremamente importante para que eles se acos tumem a ver a Fsica como uma cincia experimental.
vo
-.
m H U 0 fl ftS Q U tS E PSLjtlCA
CAP. 2 - ENSINO POR INVESTIGAO: PR0BLEMATI2AND0 AS ATIVIDADES EM SAIA DE AUIA
m entos disponveis em situaes concretas, para a construo de argumenta es consistentes. A s questes abertas.podem ser respondidas em grupos pequenos, ou tam bm po dem ser propostas como desafio para a classe. Por exemplo: Em que situao podemos conseguir uma lata de refrige rante em m enor temperatura: coocando-a em gua a 0 C ou colocando- em gelo a 0 C ? . A s respostas podem ser recolhidas e corrigidas, caso se tenha o objetivo da parte escrita. Se no tiver esse objetivo claro na atividade, pode-se discutir as respostas, em grupo grande, com os alunos colocados em crculo, buscando que u m complete a resposta do outro, e finalizando com o professor redigin do na lousa as idias de cada aluno que conduzem resposta certa. im portante que haja sempre um registro escrito da resposta, de modo que o aluno v organizando uma memria dos fatos e discusses da classe. Questes abertas podem tambm ser colocadas em provas. Nesse caso, os alunos tm que pensar sozinhos e estabelecer ligaes com os assuntos j trata dos. O professor deve buscar entender a resposta dada pelo aluno, pois aparecem respostas que, apesar de erradas, revelam que o aluno conseguiu propor uma so luo coerente para a situao nova, usando os conceitos j discutidos e aprendi dos. O professor, quando discutir a correo da prova, deve mostrar em que e por que a resposta no est correta, salientando a soluo proposta e sua coerncia.
O que se chama normalmente de resolver problemas, em Fsica, resol ver exerccios. Na realidade, no se ensina a resolver problemas, quer dizer, a enfrentarse com situaes desconhecidas, ante as quais aquele que resolve se sente inicialmente perdido, irias sim que ns, professores, explicamos solues que nos so perfeitamente conhecidas e que, evidentemente, no nos ge ram nenhum tipo de dvida nem exigem tentativas. A pretenso do pro fessor que o estudante veja com clareza o caminho a seguir; dito com ou tras palavras, pretendemos converter o problema em um no-problema, (Gil et al. op. cit.). A resoluo de problemas abertos um a atividade bastante demorada, por incluir diversos aspectos. A situao problemtica deve ser interessante para o aluno, e de prefern cia envolver a relao Cincia/Tecnologia/Sociedade. O s alunos vo enfrentar essa situao problemtica aberta primeiro de uma form a qualitativa, buscan do elaborar hipteses, identificar situaes de contorno e limites de suas hip teses. Com o no tm nmeros definidos, os alunos so de certo modo obriga^dos a passar por essa fase, desenvolvendo sua criatividade, e a ordem de seu pensamento. Segundo Einsten:
Nenhum cientista pensa com frmulas. Antes que o cientista comece a cal cular, deve ter em seu crebro o desenvolvimento de seus raciocnios. Es tes ltimos, na maioria dos casos, podem ser expostos com palavras sim ples. Os clculos e as frmulas constituem o passo seguinte. Por exemplo, o professor prope o problem a: O que acontece com a temperatura do leite quando adicionamos caf? O s alunos ento discutem o problema, procurando o que influi no resul tado, ou seja: quais as temperaturas do leite e do caf? Vamos misturar quanti dades iguais ou diferentes? Em que ambiente se dar o fato? O ambiente influi no resultado? A xcara usada influi? O professor deve ento coordenar a discus so, sem responder s questes, para que determ inem as condies de contor no, os limites de validade etc. N o exemplo, podem os considerar que a mistura rpida e o equilbrio trmico conseguido logo, o que diminui a influncia do ambiente, ou ser que vale a pena fazer a m istura em um recipiente isolado? Desse modo, o aluno expressa a estratgia de resoluo, ou as possveis estrat gias, fundamentando sua argumentao, evitando o ensaio e o erro.
Problemas Abertos
Os problemas abertos so situaes gerais apresentadas aos grupos ou classe, nas quais se discute desde as condies de contorno at as possveis solues para a situao apresentada. De forma diferente das questes abertas, que abrangem apenas os conceitos, o problema aberto deve levar matematizao dos resultados. Essa atividade muito diferente da resoluo de exerccios de lpis e pa pel, e a alterao do exerccio de lpis e papel para problema tem sid objeto de m uitas investigaes cientficas e tem encontrado dificuldades muito supe riores associao de prticas de laboratrio com problemas cientficos (Gil et al., 1999).
r "W
ENSINO DE CINCIAS: UNINDO A PESQUISA E A PRTICA
CAP. 2 - ENSINO POR INVESTIGAO: PROBIEMATIZANOO AS ATIVIDADES EM SAIA DE AUIA
A ps essa fase qualitativa, e elaborado o raciocnio, o aluno realiza a re soluo, verbalizando o que faz, analisa os resultados obtidos, confrontando com as h ipteses e as condies de contorno estudadas. Aps determ inar as condies de contorno, a discusso deve ser condu zida de m o d o que os alunos percebam que o que acontece o equilbrio tr m ico e qu e eles j sabem relacionar as quantidades de energia recebidas ou ce didas pelos materiais quando sua temperatura muda. Pode-se, ento, buscar a resoluo algbrica das equaes. C om o isso normalmente no satisfaz os alu nos, pode-se ento conduzi-los para criar um exemplo numrico, atribuindo valores s variveis relevantes no problema: quanto de leite e de caf ser usa do? Q ual a temperatura inicial de cada um. E pedindo que resolvam as equa es para o caso particular que estimaram. Nesse caso, tambm importante discutir essa estimativa, o problema da sensao e da medida, e o fato de a so luo algbrica conter todas as possveis combinaes de acordo com o gos to de cad a um . importante que seja elaborado um registro escrito de todo o processo, pois assim buscam os que ocorra a real apropriao do conhecimento pelo aluno. D adas as atuais circunstncias dos cursos de Fsica, a incluso de um pro blem a aberto no planejamento, apesar de contemplar muitos e importantes objetivos e o desenvolvimento de vrias habilidades, deve ser pensado tendo em vista o nm ero de aulas necessrias para seu completo desenvolvimento, COMENTRIOS FINAIS Podem os perceber que, no ensino por investigao, a tnica da resoluo de problem as est na participao dos alunos e, para isso, o aluno deve sair de uma postura passiva e aprender a pensar, elaborando raciocnios, verbalizando, es crevendo, trocando idias* justificando suas idias. Por outro lado, o professor deve conhecer bem o assunto para poder pro por questes que levem o aluno a pensar, deve ter uma atitude ativl e aberta, estar sem pre atento s respostas dos alunos, valorizando as respostas certas, questionando as erradas, sem excluir do processo o aluno que errou, e sem achar que a sua resposta . a melhor, nem a nica.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BACHELARD, G. Afirmao do esprito cientifico: contribuio para uma psicanli se do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto. 1996. BLOSSER, P. E. O papel do laboratrio no ensino de cincias. Traduo M. A. Morei ra. Cad. Cat. Ens. Fsica, 5 (2), p. 74-78, 1988. CARRASCO, H. J. Experimento de laboratorio: un enfoque sistmico y problematizador. Revista de Ensino de Fsica, 13, p. 77-85, 1991. CARVALHO, A. M. P, Construo do conhecimento e ensino de cincias. Em Aberto, Braslia, ano 11, n55, ju./ sct. 1992. CARVALHO, A. M. P. et al. El papel de las actividades en la construccin dei conocimiento en clase. Investigacin en l Escnela, (25), p. 60-70, 1995. CARVALHO, A. M. P. etal. Cincias no ensino fundamental: o conhecimento fsico. So Paulo: Scipione, 1998. DUSCHL, R. La valorizacin de argumentaciones y explicaeiones: promover estrategias de rctroalimentacin. Enseianza de las Cincias, 16.(1), p. 3-20,1998. GARRET, R. M. Resolucin de problemas y creacividad: implicaciones para el curr culo de cincias. Ensefanza de las Cincias, 6 (3), p. 224-230, 1988. GIL, D.eTORREGROSA, J. M. La resolucin deproblemas defisica. Madri: Mec, 1987. GIL, D. e CASTRO V., P. La orientacin de Ias prcticas de laboratorio como inves tigacin: un ejemplo ilustrativo; Ensehanza De Las Cincias, 14 (2), p. 155*163,1996. GIL, D. et al. Tiene sentido seguir dstinguendo entre aprendizaje de conceptos, re solucin de problemas de lpiz y papel y realizacin de prcticas de laboratorio? Ensenza de las cincias. 17 (2), p. 213-314, 1999. HODSON, D. In Search ofa Meaninfid Relationship\ an exploration of some issues relating to integratin in Science and Science education. International Journal of Science Education. 14(5), p. 541-566,1992. LEWIN, A. M, F. e LO MS CO LO, T. M .M . La metodologia cientfica en Ia cons truccin de conocimientos. Ensenanza de las cincias, 20 (2), p. 147-1510, 1998, MOREIRA, M. A. Uma abordagem cognitivista ao ensino de fisica. Porto Alegre: Edi tora da Universidade, 1983. MOREIRA, M. A. e LEVANDOWSKI, C. E. Diferentes abordagens ao ensino de la boratrio. Porto Alegre: Editora da Universidade, 1983.
Você também pode gostar
- ZABALA, A. A Prática Educativa - Como Ensinar. 1998.Documento9 páginasZABALA, A. A Prática Educativa - Como Ensinar. 1998.gacoroma50% (6)
- 10 Estratégias Didáticas para Usar Nas Suas AulasDocumento13 páginas10 Estratégias Didáticas para Usar Nas Suas AulasAriane S BorgesAinda não há avaliações
- Como Rodar VAR-VEc No EviewsDocumento28 páginasComo Rodar VAR-VEc No EviewsGraciela Profeta100% (1)
- Influência Do Calor Sobre A Saúde e Desempenho Dos TrabalhadoresDocumento4 páginasInfluência Do Calor Sobre A Saúde e Desempenho Dos TrabalhadoresIgor LimaAinda não há avaliações
- Ensino Por Investigação - Formação Continuada Professores de Ciências/biologiaDocumento32 páginasEnsino Por Investigação - Formação Continuada Professores de Ciências/biologiapaulabergantin100% (2)
- AmorDocumento102 páginasAmorGbgu3Ainda não há avaliações
- Elaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoNo EverandElaboração de programas de ensino: material autoinstrutivoAinda não há avaliações
- A Voz HumanaDocumento9 páginasA Voz HumanaelbarvAinda não há avaliações
- Manual Ufcd 7854 PDFDocumento138 páginasManual Ufcd 7854 PDFMaria João Maia100% (1)
- Coordenadas BaricentricasDocumento81 páginasCoordenadas BaricentricasRailândia RochaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento PsicomotorDocumento10 páginasDesenvolvimento PsicomotorSara PereiraAinda não há avaliações
- Georges Duby - A Idade Média Na França de Hugo Capeto A Joana D ArckDocumento51 páginasGeorges Duby - A Idade Média Na França de Hugo Capeto A Joana D Arckromulo100% (3)
- Ensino Por Problemas Nuñez e SilvaDocumento7 páginasEnsino Por Problemas Nuñez e SilvaGerson LimaAinda não há avaliações
- POESIA NO MODERNISMO: Uma Análise Dos Poemas "O Relógio", de João Cabral de Melo Neto, e "Paisagem N. 3", de Mário de AndradeDocumento6 páginasPOESIA NO MODERNISMO: Uma Análise Dos Poemas "O Relógio", de João Cabral de Melo Neto, e "Paisagem N. 3", de Mário de AndradePhillip Felix50% (2)
- CDD Resumida (Em Uso)Documento43 páginasCDD Resumida (Em Uso)keilaAinda não há avaliações
- Resumo: O Ensino Por InvestigaçãoDocumento2 páginasResumo: O Ensino Por InvestigaçãoAnae Gesiel100% (1)
- Solino Ferraz Sasseron 2015 Ensino-Por-Investigacao-Como-Abordagem-Didatica-Desenvolvimento-De-Praticas-Cientificas-EscolaresDocumento6 páginasSolino Ferraz Sasseron 2015 Ensino-Por-Investigacao-Como-Abordagem-Didatica-Desenvolvimento-De-Praticas-Cientificas-EscolaresKarin Salmazzi GuedesAinda não há avaliações
- Ensinar e Aprender Ciências No Ensino Fundamental Com Atividades Investigativas Através Da Resolução de ProblemasDocumento44 páginasEnsinar e Aprender Ciências No Ensino Fundamental Com Atividades Investigativas Através Da Resolução de ProblemasMarcos Vinicius de SousaAinda não há avaliações
- Investigativa e Problematizadora - IzadoraDocumento1 páginaInvestigativa e Problematizadora - Izadoracavalcanteizadora82Ainda não há avaliações
- Resenha Ensino Por Investigação - Andressa RodriguesDocumento3 páginasResenha Ensino Por Investigação - Andressa Rodriguesandressa.rodrigues.santosAinda não há avaliações
- Fernando HernándezDocumento3 páginasFernando HernándezISABEL CRISTINA DIASAinda não há avaliações
- COLL, Cesar. Aprender Conteúdos & Desenvolver CapacidadesDocumento5 páginasCOLL, Cesar. Aprender Conteúdos & Desenvolver CapacidadesWanda Pierasso33% (3)
- Técnicas de Ensino PDFDocumento11 páginasTécnicas de Ensino PDFJaimeAinda não há avaliações
- Experimentacao No Ensino Da Quimica 2 UNICSULDocumento14 páginasExperimentacao No Ensino Da Quimica 2 UNICSULThe Good Girls Pole StudioAinda não há avaliações
- ENSINO POR INVESTIGAÇÃO COMO ABORDAGEM DIDÁTICA SolinoFerrazeSasseron2015Documento7 páginasENSINO POR INVESTIGAÇÃO COMO ABORDAGEM DIDÁTICA SolinoFerrazeSasseron2015PatriciaAinda não há avaliações
- O Ensino Desenvolvimental e A Aprendizagem Do VoleibolDocumento7 páginasO Ensino Desenvolvimental e A Aprendizagem Do VoleibolBraiton antonioAinda não há avaliações
- 3 - Potencialidades Das Atividades Experimentais No Ensino de QumicaDocumento15 páginas3 - Potencialidades Das Atividades Experimentais No Ensino de QumicaGustavo MedeirosAinda não há avaliações
- Aprender Conteúdos e Desenvolver CapacidadesDocumento2 páginasAprender Conteúdos e Desenvolver CapacidadesAllan JamesAinda não há avaliações
- A Prática Educativa - A. ZabalaDocumento9 páginasA Prática Educativa - A. ZabalaveracavinatoAinda não há avaliações
- Resenha Cr-Tica LivroDocumento4 páginasResenha Cr-Tica LivroKlayton Porto100% (2)
- DeiseT0719 1Documento10 páginasDeiseT0719 1Xavier BambaAinda não há avaliações
- EndocrinologiaDocumento3 páginasEndocrinologialuis kianiAinda não há avaliações
- O Que Ensinar em CiênciasDocumento8 páginasO Que Ensinar em CiênciasDanislei BertoniAinda não há avaliações
- Q4ase Fe5taDocumento103 páginasQ4ase Fe5taEdmilson BaptistaAinda não há avaliações
- UntitledDocumento4 páginasUntitledChauale Da Linda ChameAinda não há avaliações
- Reflexividade na avaliação: o papel dos portfóliosNo EverandReflexividade na avaliação: o papel dos portfóliosAinda não há avaliações
- Estrategias de EnsingemDocumento21 páginasEstrategias de Ensingemdavidvieira2Ainda não há avaliações
- A Metodologia Dos 3 Momentos Pedagógicos (3MP) de Delizoicov e AngottiDocumento5 páginasA Metodologia Dos 3 Momentos Pedagógicos (3MP) de Delizoicov e AngottiFatima Suely Ribeiro CunhaAinda não há avaliações
- Abordagem Das Propriedades Coligativas Das Soluções Numa Perspectiva de Ensino Por Situação ProblemaDocumento18 páginasAbordagem Das Propriedades Coligativas Das Soluções Numa Perspectiva de Ensino Por Situação ProblemaMateus Silveira MeloAinda não há avaliações
- RESUMO - ZABALA NovoDocumento3 páginasRESUMO - ZABALA NovoShirley MonteiroAinda não há avaliações
- Livro-Texto - Unidade II SCRDocumento35 páginasLivro-Texto - Unidade II SCRWesley PenteadoAinda não há avaliações
- Métodos de Pesquisa P2Documento5 páginasMétodos de Pesquisa P2Luciana TalianoAinda não há avaliações
- Metodologia Do Ensino de Ciencias PEdagogiaDocumento4 páginasMetodologia Do Ensino de Ciencias PEdagogiaRoberto Dezan VicenteAinda não há avaliações
- Resumo A Prática Educativa Como EnsinarDocumento12 páginasResumo A Prática Educativa Como Ensinarbarbara.navesAinda não há avaliações
- Sebenta de DbiiiDocumento24 páginasSebenta de DbiiiSolomo Maquesson100% (1)
- Estratégias de Ensinagem AnastasiouDocumento42 páginasEstratégias de Ensinagem AnastasiouBrena GuedesAinda não há avaliações
- Aula 11 Estrategias Metologicas Na AprendizagemDocumento31 páginasAula 11 Estrategias Metologicas Na AprendizagemFelisberto Aguiar MuanhaAinda não há avaliações
- Lima e Nacarato (2009) A Investigação Da Própria PráticaDocumento25 páginasLima e Nacarato (2009) A Investigação Da Própria PráticaAlexandre SaulAinda não há avaliações
- Artigo CibeDocumento2 páginasArtigo CibeLuci ElzaAinda não há avaliações
- A Importancia Das Atividades Práticas Na Área de BiologiaDocumento9 páginasA Importancia Das Atividades Práticas Na Área de BiologiaRonilson DuMontAinda não há avaliações
- A Prática Educativa de Zabala - Por Maria Angelica CardosoDocumento5 páginasA Prática Educativa de Zabala - Por Maria Angelica CardosoAline SantanaAinda não há avaliações
- Trabalho 2 Didatica de Fisica. IV. BrochuraDocumento28 páginasTrabalho 2 Didatica de Fisica. IV. BrochuraCelso ChipondeAinda não há avaliações
- Didatica No Ensino Superior3Documento6 páginasDidatica No Ensino Superior3Alecir SilvaAinda não há avaliações
- Texto Procedimentos de EnsinoDocumento13 páginasTexto Procedimentos de EnsinoKlicha BoniAinda não há avaliações
- Ensino Metodologia de CiênciasDocumento5 páginasEnsino Metodologia de CiênciasMario Edson FerrareziAinda não há avaliações
- Resumo Prova MetodologiaDocumento6 páginasResumo Prova MetodologiaEmanuelly FernandesAinda não há avaliações
- Artigo 47Documento13 páginasArtigo 47Yone TrindadeAinda não há avaliações
- The Use of Research Teaching As A Didactic-Pedagogical Tool in Physics EducationDocumento13 páginasThe Use of Research Teaching As A Didactic-Pedagogical Tool in Physics EducationMartival SantosAinda não há avaliações
- Texto 6 - Interações DiscursivasDocumento16 páginasTexto 6 - Interações DiscursivasRamon Veiga FernandezAinda não há avaliações
- Planejamento DidáticoDocumento21 páginasPlanejamento DidáticoJEAN RICARDOAinda não há avaliações
- Pesquisa - TCCDocumento8 páginasPesquisa - TCClucas.moisesAinda não há avaliações
- Conteúdo 26.01.2016Documento147 páginasConteúdo 26.01.2016FERNANDO ENILSON ELIAS VICTORINOAinda não há avaliações
- A Ação Mediada No Ensino de Biologia E Argumentação: Tensões PermanentesDocumento12 páginasA Ação Mediada No Ensino de Biologia E Argumentação: Tensões PermanentesMacilene AraujoAinda não há avaliações
- A Ntureza Como Inspiracao para Projetos TransdisciplinaresDocumento10 páginasA Ntureza Como Inspiracao para Projetos TransdisciplinaresCarlos Eduardo Dias RibeiroAinda não há avaliações
- Abordagem Investigativa QuímicaDocumento6 páginasAbordagem Investigativa Química......Ainda não há avaliações
- Intervenção PedagógicaDocumento17 páginasIntervenção PedagógicaErika Alves BertanholiAinda não há avaliações
- Tema 1 Intrducao A MeicDocumento8 páginasTema 1 Intrducao A MeicErtilia Naftal NhantumboAinda não há avaliações
- Grafismo: uma estratégia de ensino-aprendizagem para estimular a imaginaçãoNo EverandGrafismo: uma estratégia de ensino-aprendizagem para estimular a imaginaçãoAinda não há avaliações
- Estilos de aprendizagem x metodologias de ensino: metodologias de ensino do professor e a relação com os estilos de aprendizagem dos alunosNo EverandEstilos de aprendizagem x metodologias de ensino: metodologias de ensino do professor e a relação com os estilos de aprendizagem dos alunosAinda não há avaliações
- Aula 05Documento81 páginasAula 05Rogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- 105 Dicas Que Vão Mudar A Sua Vida - SOS Solteiros PDFDocumento56 páginas105 Dicas Que Vão Mudar A Sua Vida - SOS Solteiros PDFRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Material Professor Ronaldo-Rocha Resumo-Basico Lei N 8.112Documento2 páginasMaterial Professor Ronaldo-Rocha Resumo-Basico Lei N 8.112Rogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Coisas PraticasDocumento51 páginasCoisas PraticasRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Aula 02Documento34 páginasAula 02Rogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Aula 04Documento39 páginasAula 04Rogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Saúde e Doença em Ambientes Coletivos deDocumento32 páginasSaúde e Doença em Ambientes Coletivos deRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Aula 00Documento38 páginasAula 00Rogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- ANVISA - Aula 02 - Sistema Único de Sa Úde SUS OKDocumento38 páginasANVISA - Aula 02 - Sistema Único de Sa Úde SUS OKDaniel FerreiraAinda não há avaliações
- O Brinquedo Na Educação InfantilDocumento9 páginasO Brinquedo Na Educação InfantilJair PereiraAinda não há avaliações
- Resumo de Fsica PDFDocumento27 páginasResumo de Fsica PDFIvelton SilvaAinda não há avaliações
- Uma Alimentação Saudável Inclui Sucos NaturaisDocumento2 páginasUma Alimentação Saudável Inclui Sucos NaturaisRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Avaliação Da Imagem Mental em Crianças Portadoras de Paralisia Cerebral Através Da História deDocumento11 páginasAvaliação Da Imagem Mental em Crianças Portadoras de Paralisia Cerebral Através Da História deRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- PudimDocumento1 páginaPudimRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Ava Da Aprendizagem e ProvasDocumento12 páginasAva Da Aprendizagem e ProvasRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- TANGRANDocumento11 páginasTANGRANAngela ChristinaAinda não há avaliações
- Educação e Diversidade CulturalDocumento4 páginasEducação e Diversidade CulturalRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Como Montar o Cubo MágicoDocumento5 páginasComo Montar o Cubo MágicoRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Escola Estado e SociedadeDocumento15 páginasEscola Estado e SociedadeRogerio De Sousa PereiraAinda não há avaliações
- Livro "Territórios de Invenção: À Escuta"Documento35 páginasLivro "Territórios de Invenção: À Escuta"Territórios de Invenção100% (4)
- Métodos para Coleta de DadosDocumento10 páginasMétodos para Coleta de DadosEllen Aparecida CostaAinda não há avaliações
- A ForcadaDocumento60 páginasA Forcadadito_neto448767% (3)
- Administracao Grade CurricularDocumento3 páginasAdministracao Grade CurricularJonas AraújoAinda não há avaliações
- As Marcas Do Senhor JesusDocumento2 páginasAs Marcas Do Senhor JesusgeraldogodoyAinda não há avaliações
- Disciplina Linhas de Transmissão PDFDocumento25 páginasDisciplina Linhas de Transmissão PDFantonio kaioAinda não há avaliações
- A Comunicação Na Empresa e Sua Influência Nos ProjetosDocumento12 páginasA Comunicação Na Empresa e Sua Influência Nos ProjetosagnysAinda não há avaliações
- LIVRO Caxambu - MIOLO - LINGUAGEM - D - CULTURA - 221012 PDFDocumento133 páginasLIVRO Caxambu - MIOLO - LINGUAGEM - D - CULTURA - 221012 PDFmrclAinda não há avaliações
- Tributo A Chico Xavier (Jarbas Leone Varanda)Documento148 páginasTributo A Chico Xavier (Jarbas Leone Varanda)Aldo BiancoAinda não há avaliações
- FIS14 2013 Lista05Documento9 páginasFIS14 2013 Lista05chadcooperchadAinda não há avaliações
- MARTÍNEZ ALIER. Da Economia Ecológica Ao Ecologismo Popular (v1.00)Documento8 páginasMARTÍNEZ ALIER. Da Economia Ecológica Ao Ecologismo Popular (v1.00)José100% (1)
- É Noite, É Sempre Noite No Fim Dos Textos: Confissão e Literatura em Alejandro Zambra - Raianny de Andrade AmaralDocumento11 páginasÉ Noite, É Sempre Noite No Fim Dos Textos: Confissão e Literatura em Alejandro Zambra - Raianny de Andrade AmaralRaiannydeAndradeAinda não há avaliações
- A Dinâmica Dos Grupos e o Processo GrupalDocumento9 páginasA Dinâmica Dos Grupos e o Processo GrupalJonathan IuryAinda não há avaliações
- NCRF 27 - Ifrs 9Documento14 páginasNCRF 27 - Ifrs 9Lara MendesAinda não há avaliações
- Cantigas de Amigo e de Amor - Exercício de SistematizaçãoDocumento1 páginaCantigas de Amigo e de Amor - Exercício de SistematizaçãoNatacha CastroAinda não há avaliações
- Representações Míticas Guarani Mbya A Palavra Como Fundamento Da EducaçãoDocumento26 páginasRepresentações Míticas Guarani Mbya A Palavra Como Fundamento Da EducaçãoJackSantoS21Ainda não há avaliações
- Cartilha Sociologia ClássicaDocumento14 páginasCartilha Sociologia Clássica『Happystar』Ainda não há avaliações
- A Cidade Contemporanea PDFDocumento6 páginasA Cidade Contemporanea PDFjgrbclAinda não há avaliações
- Cifras GospelDocumento13 páginasCifras Gospelc_henryque80100% (1)
- Unico Aula 04 Blocos 13 A 16 Dia 21.12 Eca Gonzalo LopezDocumento62 páginasUnico Aula 04 Blocos 13 A 16 Dia 21.12 Eca Gonzalo LopezRicardo LyraAinda não há avaliações
- LinguagemDocumento35 páginasLinguagempatriciaAinda não há avaliações