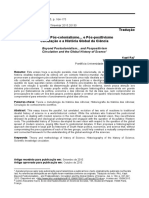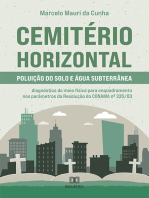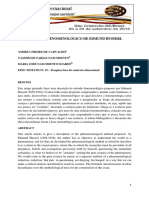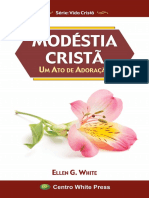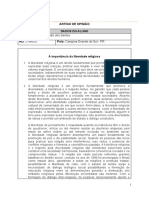Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Modernidade, Racionalidade e Ordem
Enviado por
PedroB24Descrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Modernidade, Racionalidade e Ordem
Enviado por
PedroB24Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Modernidade, racionalidade e ordem
Cynthia Roncaglio
Os preceitos da racionalidade poltica, econmica e cultural da sociedade moderna
questo da razo ou da modernidade inaugurada como O que novo no mundo problema histrico, pode-se dizer, na sociedade europia atual? do final do sculo XVIII, quando Kant,1 em 1784, pergunta-se: o que o Iluminismo? A partir de ento, boa parte do Ser culto refletir sobre a pensamento filosfico ocidental tem sido perseguido por essas modernidade e assumir questes: o que a razo? O que ser moderno? Ser moder- aes que vo propiciar no se colocar questes que os antigos no se colocaram ou modificaes dessa ser moderno pensar na sua prpria civilizao? Michel Fou- civilizao. cault2 (1984, p. 103-112), na dcada de 1980, retoma a questo filosfica colocada por Kant: o que so as Luzes? O que ser Immanuel Kant (1724culto? Est de acordo que ser culto conhecer a si mesmo, mas refletir sobre os 1 1804), filsofo alemo. conhecimentos e os saberes refletir sobre a sua prpria civilizao, refletir sobre sua atualidade. O que novo no mundo atual? Estamos numa sociedade 2Michel Foucault (1926tcnico-cientfica que nos sujeita, somos governados pelo poder tcnico. Ser culto 1984), filsofo francs. refletir sobre a modernidade e assumir aes que vo propiciar modificaes Voltaire (1694-1778), es3 dessa civilizao. critor francs. necessrio construir que saberes para uma civilizao tecnolgica? O sculo XVIII, conhecido como o Sculo das Luzes ou do Iluminismo, o perodo em que surgem as correntes de idias de enciclopedistas como Voltaire3 e Diderot,4 que discutem e propem valores civilizatrios que inauguram a modernidade, no s como projeto filosfico mas tambm como regras e normas a serem adotadas num determinado perodo histrico, quando surgem os herdeiros dessa corrente como o liberalismo e o socialismo, os quais a partir da incorporao de certas idias do Enciclopedismo5, ou da Ilustrao, como tambm denominado levaram a cabo uma proposta de emancipao do homem. Mas quais so os valores civilizatrios propostos pela modernidade? Segundo Srgio Paulo Rouanet, a herana do Iluminismo para a sociedade moderna consiste em trs conceitos fundamentais: universalidade, individualidade e autonomia. A universalidade visa a atingir todos os homens, independentemente de barreiras nacionais, tnicas ou culturais. A individualidade considera os seres humanos como pessoas concretas, e no como integrantes de uma coletividade, e estimula
4 5
Denis Diderot (17131784), escritor francs. Nome dado ao sistema utilizado pelos pensadores do Iluminismo que elaboraram uma obra a Enciclopdia na qual se registrava o conhecimento da humanidade. O projeto, impulsionado por Diderot e DAlembert, contou com a participao de numerosos intelectuais da burguesia francesa que na obra encontravam o espao para expor suas novas e polmicas teorias, contrrias monarquia e Igreja Catlica. A primeira edio da Enciclopdia compunha-se de 35 volumes. O trabalho atravessou a Revoluo Francesa, formando-se um verdadeiro estado de esprito o enciclopedismo.
Sociedade Contempornea e Desenvolvimento Sustentvel
a crescente individualizao. A autonomia baseia-se no princpio de que todos os indivduos so aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela da religio ou de uma ideologia, a agir no espao pblico e pelo seu trabalho adquirir os bens e servios necessrios sobrevivncia material. Cabe observar que Rouanet compreende o Iluminismo no como uma poca ou um movimento, mas como um projeto de civilizao neomoderna capaz de manter o que h de positivo na modernidade e corrigir suas patologias (1993, p. 13). O Iluminismo, portanto, entendido como um campo conceitual, um conjunto de idias que emergiu da Ilustrao no sculo XVIII, este sim um momento na histria cultural do Ocidente e que, assim como o liberalismo e o socialismo, realizou parcialmente os ideais iluministas. Rouanet faz um balano de como a Ilustrao, o liberalismo e o socialismo se apropriaram das trs concepes fundamentais do Iluminismo para fundar a modernidade. Por meio dessa anlise, apresentada aqui sucintamente, pode-se compreender melhor as bases sobre as quais o antropocentrismo dos ltimos dois sculos e meio levou a humanidade a perder de vista que no bastava buscar a emancipao do homem, mas compreender sua dependncia e integrao com a natureza.
Valores iluministas na Ilustrao
Os homens ilustrados ou enciclopedistas atacavam a monarquia e a Igreja Catlica. Defendiam o primado da razo, do progresso, da tolerncia e do humanismo. Todos os homens eram considerados iguais, independentemente da cultura ou da raa. Os homens que abdicavam da razo podiam ser considerados brbaros6 (inclusive os europeus) porque estavam imbudos de uma razo brbara, movidos pela f religiosa. Mas todos os seres humanos podiam transitar da barbrie civilizao, desde os selvagens da Amrica aos europeus. Nenhuma poca foi menos etnocntrica, como diz Rouanet, porque no interessava a cor, o sexo, a origem social. Dentro do princpio da universalidade, h uma natureza humana igualmente universal, no sentido de que os homens tm uma estrutura passional idntica, com afetos e interesses constantes, e uma razo uniforme, independente do lugar ou do tempo em que vivem.
A fora libertadora desse universalismo foi real. Reafirmando a igualdade de todos os seres diante da razo, ela transpe para o terreno secular da luta filosfica e poltica a idia religiosa de que todos so filhos de Deus e iguais diante do Criador, o que teve conseqncias explosivas. (ROUANET, 1993, p. 15).
A palavra brbaro era empregada originalmente pelos gregos para indicar o estrangeiro, aquele que no falava o grego. Depois, passou a ser usada pelos romanos e tambm por outros povos para desqualificar aquele que no possui a mesma lngua, os mesmos costumes e crenas dos povos ditos civilizados.
Esse conceito abstrato de homem, que de certa forma ignorou as diferenas reais entre os homens, foi a fora e a fragilidade do universalismo. Fora porque propiciou a viso revolucionria dos direitos do homem, condenando politicamente toda forma de racismo, colonialismo e sexismo. Fragilidade por no perceber que justamente as diferenas impedem os homens de agir racionalmente. O conceito de individualidade tambm foi importante no enciclopedismo. Nas sociedades tradicionais, o homem s existe como parte do seu cl, da sua comunidade, da sua cidade, da sua nao. Tanto o cristianismo como a Reforma haviam contribudo para o processo de individualizao no plano transcendente da
32
Modernidade, racionalidade e ordem
relao do homem com Deus, mas somente com a Ilustrao o homem se libertou definitivamente da sua matriz coletiva. Partia-se da hiptese de homens isolados, que uniam-se por razes utilitrias para formarem a sociedade civil. O contrato social rege a sociedade. As leis desse contrato podem ser severas e a elas devem se sujeitar todos os indivduos, mas eles continuam sendo pensados como uma agregao mecnica de indivduos e no como uma comunidade orgnica. O individualismo ilustrado gerou conseqncias importantes: o indivduo passou a ter direitos e no s obrigaes. Entre esses direitos, avultava o direito felicidade e auto-realizao. Os homens passaram a se colocar em posio de exterioridade em relao ao mundo social, o que lhes permitia serem observadores e juizes da sua prpria sociedade. Por outro lado, o individualismo confundiu-se, no sculo XVIII, com o interesse pessoal, ignorando-se a sua utilidade coletiva. Perdeu-se de vista tambm que todo indivduo social e que o resultado da individuao crescente s pode ser alcanado socialmente. Quanto autonomia, os enciclopedistas a compreendiam de modo abrangente. A autonomia intelectual baseava-se em libertar a razo do preconceito, isto , da opinio sem julgamento. A religio, ou idias supersticiosas, principalmente, era combatida por aprisionar a liberdade de pensar e por manter o homem num estgio de infantilizao. Nesse sentido, a educao era fundamental na luta contra o obscurantismo. A cincia deveria substituir o dogma pelo saber. J a autonomia poltica consistia na liberdade de ao do homem no espao pblico. Contra a tirania do Estado, era preciso garantir um sistema de proteo (na vertente liberal da Ilustrao) ou contribuir para a formao do governo, fazer parte do governo (vertente democrtica). A autonomia econmica s poderia ser obtida a partir do igualitarismo. Embora se reconhecesse que o estado de civilizao exigia a criao de desigualdades inexistentes no estado de natureza, reconheciase que todos tinham direito de garantir as condies mnimas de sobrevivncia e que para garantir uma ordem social era preciso garantir uma ordem de igualdade que consistiria minimamente, segundo Rousseau,7 em que ningum fosse to pobre que precisasse vender-se nem to rico que pudesse comprar os outros. (apud ROUANET, 1993, p. 18).
Valores iluministas no liberalismo
Para os liberais, a natureza humana era considerada igual em toda parte. Embora alguns povos fossem considerados mais primitivos do que outros, todos tinham seus talentos e sua capacidade de progredir, independentemente do sexo ou da raa. O liberalismo econmico pregava uma comunidade mundial interdependente, baseada na diviso internacional do trabalho. O liberalismo poltico combatia o imperialismo, a imposio da vontade de um povo sobre o outro. Na esfera do saber e da moral, havia uma preocupao com os direitos das mulheres (Stuart Mill apoiava as feministas na Inglaterra), dos negros (campanha contra a escravido nos Estados Unidos da Amrica e no Brasil) e dos povos subjugados, colocando-se contra o colonialismo. Na prtica, porm, esse universalismo tornou-se extremamente problemtico: propagaram-se teorias baseadas numa suposta hierarquia, separando os povos europeus no topo da escala dos povos no europeus. Legitimou-se a supe-
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), f ilsofo francs.
33
Sociedade Contempornea e Desenvolvimento Sustentvel
rioridade da raa branca, o cosmopolitismo ilustrado deu lugar aos nacionalismos, o feminismo do sculo XVIII foi abafado pela moral burguesa, que sustentava a inferioridade da mulher. O pacifismo foi substitudo pela prtica da guerra. Quanto individualidade, as sociedades liberal-democrticas concretizaram em grande parte o ideal individualista do enciclopedismo. Com o triunfo da burguesia, a individualidade deixou de ser um privilgio de classe e, com a propagao da ideologia liberal em todos os pases, a mobilidade social parecia em muitos casos, especialmente nos Estados Unidos da Amrica um sonho passvel de ser realizado. Um dos mitos da ideologia liberal norte-americana que, dependendo de sua capacidade, um office-boy poderia ocupar o principal cargo da Casa Branca. Na prtica, porm, evidenciou-se que os herdeiros das grandes fortunas teriam mais chances de chegar presidncia dos Estados Unidos da Amrica do que os self-made men.8 A autonomia poltica nas sociedades liberal-democrticas foi a princpio restrita, tendo menos nfase a democracia do que a garantia contra a ao arbitrria do Estado (havia mais preocupao com o direito do cidado de ir e vir, de expressar opinies, de se associar com outros). O acesso liberdade poltica era tambm restrito aos proprietrios ou aos homens instrudos. A primeira gerao de liberais, como Benjamim Constant9 e Tocqueville,10 temia a democracia medo que a tirania de um s fosse substituda pela tirania da vontade geral. Mas tal receio diminuiu medida que o conceito de representao das minorias ganhava legitimidade contra o temor da tirania majoritria. A instituio do sufrgio universal tambm no propiciou grandes alteraes do status quo,11 temidas pelos liberais, nem foi capaz de provocar as transformaes sonhadas pelos democratas. Afinal, a liberdade de votar, por si s, como se sabe, no suficiente para garantir autonomia poltica. Como disse Tocqueville, os indivduos consolam-se de estar sob tutela, pensando que escolheram eles prprios os seus tutores (apud ROUANET, 1993, p. 25). A autonomia econmica, por sua vez, na perspectiva liberal, pressupunha o livre exerccio da atividade econmica. Os liberais contemporneos da Revoluo Industrial no ignoravam a extrema pobreza das classes trabalhadoras do incio do sculo XIX, mas acreditavam que, se grande parte da massa de assalariados estava excluda do progresso econmico, a nica sada seria eliminar todas as restries ao dos capitalistas e dos operrios. O desenvolvimento da indstria, a livre concorrncia e o prprio mercado regulariam as atividades econmicas e permitiriam aumentos do salrio real e melhores condies de vida para os operrios. Certos liberais, como Ricardo e Malthus, eram pessimistas em relao a essa ascenso econmica, pois acreditavam que o progresso econmico levaria exploso demogrfica, o que impeliria os salrio ao seu nvel natural, ou seja, o estritamente necessrio para garantir a sobrevivncia dos trabalhadores. As previses pessimistas de alguns economistas liberais do sculo XIX no se efetivaram. O capitalismo mantm-se dinmico e, por meio do movimento sindical e da interveno do Estado, conseguiu evitar uma pauperizao irreversvel, bem como elevar o padro de vida mdio em muitos pases, sobretudo nos de capitalismo avanado. Porm, paradoxalmente, persistem os contrastes de renda entre os pases ricos e pobres, como tambm dentro dos prprios pases desenvolvidos
8 9
Pessoas que se fazem por si mesmas, isto , que alcanam uma situao social superior graas aos seus pr prios esforos.
Benjamim Constant de Rebecque (1767-1830), escritor e poltico francs.
10 11
34
Charles Alexis Henri Clrel de Tocqueville (1805-1859), poltico e historiador francs. Significa o estado em que se achava anteriormente certa questo.
Modernidade, racionalidade e ordem
e subdesenvolvidos. De acordo com Rouanet (1993, p. 27-28),
assim como explora a mo-de-obra sem reservas ticas, o capitalismo explora a natureza sem escrpulos ambientais. Segundo seus crticos, ele se baseia num modelo produtivista intrinsecamente perdulrio e destrutivo dos recursos naturais e dos ecossistemas. A despeito do extraordinrio progresso material ocorrido nos pases industrializados, portanto, podemos dizer que globalmente o modelo liberal-capitalista est muito longe de ter aproximado a humanidade como um todo da autonomia econmica.
Valores iluministas no socialismo
Para o socialismo, a universalidade no uma categoria genrica, como definida pela Ilustrao, nem o elo estabelecido entre indivduo e nao sob a gide de nao livre proposta pelo liberalismo, mas uma universalidade mediada pela classe social. Tambm para o marxismo o homem tem uma natureza universal, mas a unidade do homem no um dado, mas sim uma conquista. Nesta perspectiva, o proletariado12 encarnava a classe universal, cujos interesses transcendiam as fronteiras nacionais. E a sua misso, segundo Marx, era abolir sua prpria condio de classe trabalhadora para assim abolir em geral a sociedade de classes, emancipando o gnero humano enquanto sujeito unitrio da histria (ROUANET, 1993, p. 28). J a individualidade, ao contrrio do que se poderia supor, era considerada importante para os principais socialistas. A crtica de Marx ao indivduo egosta das declaraes dos direitos humanos13 no envolve crtica ao conceito de indivduo. O que ele critica uma concepo de indivduo que ignora o fato de que sempre se est inserido num conjunto definido de relaes sociais. Na sociedade capitalista, essas relaes levam ao declnio do indivduo e atrofia das suas potencialidades. No se trata, portanto, de ignorar ou desfazer o indivduo, mas desfazer uma certa sociedade para emancipar o indivduo. O ideal da individualizao socialista, na prtica, foi deturpado pelo socialismo real.14 Nos pases socialistas, assim como no Ocidente, prevaleceu o antiindividualismo e o hiperindividualismo. O antiindividualismo consiste na idia de que cada homem membro da sua classe antes de ser um indivduo, sua vontade subordinase do partido, e cada membro do partido funcionrio do todo. O hiperindividualismo consiste no oportunismo, no carreirismo e no consumo exacerbado. O socialismo real assumiu em parte a bandeira da autonomia intelectual. Essa autonomia se afirma por meio da crtica religio, por exemplo. Mas, para uma sociedade que se v como marxista, a crtica no se faz s tradio (seja ela religiosa ou secular), mas tambm classe que condena a razo a uma falsa conscincia. A autonomia s pode ser alcanada pela classe proletria que tomar conscincia de si e pelos membros de outras classes que assumirem a perspectiva proletria. A crtica da tradio se torna, portanto, a crtica da ideologia entendida como um conjunto de idias que apresenta a realidade como ela parece ser e no como . O socialismo critica inclusive a ideologia ilustrada e liberal, cujos ideais so compreendidos como expresses particularistas de interesses de classe nos quais esto imersos. Sob o ponto de vista terico, a crtica ideologia significou um avano. Na prtica, porm, a autonomia intelectual foi apenas parcialmente conquistada, se
Na acepo marxista, o nome dado aos assalariados industriais e agrcolas cujo trabalho, explorado pelo capital, provoca antagonismo e contradies com a categoria social que possui o capital no caso, a burguesia.
12
13
Refere-se aqui ao conjunto de princpios presentes tanto na declarao de direitos oriunda da Revoluo Americana (1776) quanto na declarao oriunda da Revoluo Francesa (1789).
O socialismo, embora historicamente tenha se subdividido em vrias correntes tericas e polticas, possui alguns traos comuns, como a crena no predomnio do bem comum em detrimento do individual, a planificao da economia, a eliminao das classes so ciais, a manuteno de certa modalidade de propriedade. O socialismo real conside rado aqui no a teoria ou a poltica ideal, mas o socialismo praticado nas sociedades que tentaram implantar esse sistema social, como o caso da URSS.
14
35
Sociedade Contempornea e Desenvolvimento Sustentvel
for considerado, por exemplo, o significativo desenvolvimento cientfico da URSS nas reas das cincias exatas e biomdicas e da pesquisa espacial. Mas se no campo da cincia a autonomia intelectual foi estimulada, em outras reas, como educao e artes, foi cerceada. Numa sociedade totalitria, como se mostrou ser a sovitica, o ideal da razo livre foi submetido ideologia do partido, que definia o que ou quanto a populao deveria saber. Sobre a autonomia econmica, a principal contribuio do socialismo foi ter questionado a idia da igualdade de condies a priori de cada indivduo para crescer e se desenvolver. Isso quer dizer, em tese, que qualquer indivduo pode adquirir uma manso em Miami ou comprar uma rede de hotis em Las Vegas, desde que enfrente a livre concorrncia do mercado. Em vez desse conceito de autonomia como liberdade, o socialismo considera o conceito de autonomia como segurana: autnomo no quem tem o direito abstrato de atuar como agente econmico, mas quem tem poder efetivo de obter pelo trabalho os bens necessrios prpria sobrevivncia. (ROUANET, 1993, p. 31). Esse entendimento de que mais importante do que uma liberdade abstrata era a segurana de obter moradia, educao, sade e emprego para todos mobilizou, em vrias partes do mundo, as esperanas dos cidados, imbudos de um pensamento progressista, na Revoluo Russa. Mesmo quando o regime sovitico mostrou sua face totalitria, ainda acreditava-se que mais importante do que a autonomia intelectual e poltica eram as conquistas sociais a serem obtidas. Todavia, o que aconteceu foi que no se obteve nem autonomia econmica nem segurana econmica, pois este conceito no inclui apenas as conquistas sociais mas tambm o acesso a bens e servios. E nesse ponto o regime socialista falhou: no conseguiu produzir mercadorias em escala comparvel do capitalismo, como tambm no eliminou os privilgios poltico-econmicos.
Capitalismo, transformao da natureza e a sociedade de risco
Como foi visto at aqui, as concepes tericas de uma civilizao moderna, racional, baseada na manuteno de uma suposta ordem social, poltica e cultural, efetivou-se de diferentes formas na histria mundial nos ltimos 200 anos. Cada racionalidade instaurada concretamente, seja a da Ilustrao, a do liberalismo ou a do socialismo, causou impactos positivos ou negativos na humanidade e revelou tambm as contradies da prpria razo, ou as insanidades da prpria razo humana. Mais do que isso, revelou-se incapaz de perceber que os males produzidos por essas concepes de razo e modernidade no trouxeram prejuzos somente para grande parte da populao humana a qual no alcanou nem liberdade, nem autonomia, nem segurana mas tambm causou prejuzos e riscos para a prpria preservao da natureza, na qual se inclui a preservao da espcie humana.
36
Modernidade, racionalidade e ordem
A natureza tem sua prpria histria, sua prpria dinmica, ordens e desordens. As alteraes e transformaes naturais que, em geral, ocorreram em milhares de anos, como as eras glaciais, o aparecimento e o desaparecimento de espcies de animais e plantas, dentre outros acontecimentos, existiram independentemente da ao humana. A interveno humana no curso da natureza comeou lentamente, h pouco mais de dez mil anos. Porm, sobretudo com o desenvolvimento do capitalismo nos ltimos 200 anos, a natureza passou a sofrer uma grande alterao dos seus ciclos biolgicos e a sua crescente explorao pelas atividades humanas gerou uma avassaladora destruio dos ecossistemas.15 Dentre as transformaes da natureza causadas pelo capitalismo, independentemente das caractersticas e feies que esse sistema socioeconmico assumiu em diversas partes do planeta, pode-se apontar o uso intensivo dos recursos e da energia encontrados na natureza (terra, sementes, madeira, vento, gua e animais) para satisfazer a crescente e complexa demanda da populao mundial. O uso da natureza primeiramente para alimentar, aquecer, vestir e transportar a populao humana gerou impactos sobre as florestas, as guas e os animais, ainda que fatores climticos, sociais e polticos no tenham conseguido at hoje erradicar a fome e a desnutrio de milhares de pessoas em todo o mundo. O aumento demogrfico, a urbanizao e a industrializao propiciaram a busca de novas tecnologias agrcolas e industriais que aumentaram ainda mais a presso sobre os recursos naturais a expanso da agricultura e da criao de gado, o uso de combustveis fsseis (lenha, carvo e petrleo); a explorao dos animais (plos, peles e a prpria caa como diverso cultural); a extrao de metais (matria-prima para indstrias metalrgicas); a construo de barragens e hidreltricas. Em conseqncia desse crescente progresso produzido pela modernidade, tudo que intrnseco histria da natureza a curva dos rios, a distribuio da fauna e da flora, a morfologia do solo, as ondulaes do relevo e at mesmo as variaes climticas foi submetido a procedimentos tcnicos, racionais e econmicos com conseqncias crescentes e indeterminadas para a natureza (diminuio da fertilidade e eroso dos solos, extermnio de espcies animais e vegetais, poluio das guas, chuvas cidas etc.) e para os seres humanos (acesso desigual riqueza e ao alimento, problemas de sade e de moradia, riscos de contaminao causados por acidentes nucleares etc.).
O mal-estar na modernidade
Desde o incio do sculo XX, vrios pensadores tm se referido ao mal-estar na civilizao, ao mal-estar na modernidade. Esse mal-estar tem se manifestado sob vrias formas na natureza (poluio atmosfrica, envenenamento do solo, alteraes climticas, extino de espcies animais) e na sociedade (guerras civis, terrorismo, corrupo nas instituies pblicas, depresso, sndrome do pnico etc). De certa forma, como se esse mal-estar fosse um ressentimento contra o modelo civilizatrio proposto pelo Iluminismo. O projeto iluminista, calcado nos ideais de raciona-
15
Um ecossistema constitudo por elementos vivos e inorgnicos como a flora, a fauna, microorganismos, solo, gua e atmosfera, os quais esto ligados entre si por um processo dinmico e interde pendente como as cadeias alimentares, os ciclos minerais e hidrolgicos e pela circulao de energia.
37
Sociedade Contempornea e Desenvolvimento Sustentvel
lismo, universalismo e individualismo de civilizao, prometia a emancipao do homem um salto para a felicidade eterna por meio do progresso econmico e social ilimitado e irreversvel. Como isso no aconteceu ou aconteceu de modo enviesado e com conseqncias positivas e negativas para a prpria humanidade e, de modo geral, negativas para a natureza , h uma tendncia regressiva ou um certo desconforto individual e social pairando sobre o mundo atual. De acordo com Rouanet (1993, p. 97), o universalismo foi sabotado pelos particularismos nacionais, raciais, culturais, religiosos. O racionalismo consistia em ter f na razo e na capacidade de estabelecer a ordem social a partir da razo, crena na cincia para transformar a natureza e satisfazer as necessidades humanas. Tanto a razo como a cincia poderiam emancipar o homem, libertando-o da religio, da tradio e dos valores herdados historicamente que tolhiam, na concepo dos iluministas, a liberdade do homem como produtor e consumidor de cultura, como agente econmico e como cidado. E, sobretudo, razo e cincia combatiam todos os preconceitos de raa, cor, religio, sexo ou nao que pudessem gerar a guerra e a violncia. O individualismo, que no significava egosmo ou satisfao dos interesses individuais sem limites, mas um desprendimento de velhas formas comunitrias de vida, em que o indivduo s existia como parte do cl ou da tribo, submerge cada vez mais no anonimato do conformismo e da sociedade de consumo. No lugar de um indivduo emancipado, que pudesse exercer a intersubjetividade e desenvolver laos de cooperao e objetivos comuns na sociedade da qual faz parte, h um indivduo que sente-se conformado em eleger seus representantes para assuntos dos quais no participa efetivamente, assim como o conceito de felicidade consiste em adquirir o ltimo CD que todos vo ouvir, assistir ao filme que todos vem ou comprar o novo modelo de carro que todos cobiam. A autonomia intelectual, por sua vez, est sendo subvertida pelo reencantamento, no sentido negativo do termo, como uma volta ao passado mgico, quando os homens acreditavam que todos os fenmenos ocorriam pela graa ou pela fria dos deuses. Redescobrem-se assim os poderes mgicos no culto a duendes, nos livros de auto-ajuda que se tornam best sellers, nos efeitos benficos da pirmide para equilibrar a energia espiritual. Enfim, esses so algumas sintomas do mal-estar na modernidade que revelam uma fria contra a razo, um repdio a uma promessa no cumprida de felicidade. O que no quer dizer que o homem no deva ter uma religio, se isso de alguma forma lhe torna menos infeliz, ou, como diz Rouanet, que consultar um baralho de tar seja to grave quanto incendiar uma aldeia croata. O que est em discusso aqui o colapso de uma forma de modernidade, da crena na razo como projeto civilizatrio, de um modelo de racionalidade que j no serve para compreender e viver o mundo do sculo XXI. No entanto, a velha pergunta feita por Kant e reeditada por Foucault continua atual: o que ser moderno hoje? E que modernidade serve para o mundo atual? Se estamos vivendo no limite entre a civilizao e a barbrie, se as noes de progresso e desenvolvimento colocam sob risco a natureza e a prpria humanidade, se os valores ticos e morais do Iluminismo servem ou no para a atualidade so questes das quais no se pode escapar se pretendemos continuar habitando o planeta Terra.
38
Modernidade, racionalidade e ordem
Feira de conceitos: a turma divide-se em vrios grupos que vo discutir e elaborar conceitos de modernidade, racionalidade, individualidade e sociedade para o sculo XXI. Em seguida, ser feito um debate na turma sobre as propostas elaboradas por cada grupo.
Filme: Powaaqatsi Diretor: Godfrey Reggio Durao: 90 minutos Produo: EUA, 1988
ESCOBAR, Carlos Henrique (Org.). Michel Foucalt: o dossier ltimas entrevistas. Rio de Janeiro: Taurus, 1984. GIDDENS, Anthony. As conseqncias da modernidade. So Paulo: Edunesp, 1991. ROUANET, Srgio Paulo. Mal-estar na modernidade. So Paulo: Companhia das Letras, 1993.
39
Sociedade Contempornea e Desenvolvimento Sustentvel
40
Você também pode gostar
- Luta pela Terra: Pedagogia de Emancipação Humana? experiências de luta da CPT e do MSTNo EverandLuta pela Terra: Pedagogia de Emancipação Humana? experiências de luta da CPT e do MSTAinda não há avaliações
- 01 - Mito e IndividuaçãoDocumento3 páginas01 - Mito e IndividuaçãoLIDIA LUELYAinda não há avaliações
- Das Sociedades Comunais Ao Modo de Produção FeudalDocumento64 páginasDas Sociedades Comunais Ao Modo de Produção FeudalflordelisclaraAinda não há avaliações
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Ainda não há avaliações
- A Decadência Do Ocidente de Oswald SpenglerDocumento7 páginasA Decadência Do Ocidente de Oswald SpenglerMoysés Maltta100% (2)
- A Lei da Floresta: poder e política na Inglaterra medieval (séculos XI-XIII)No EverandA Lei da Floresta: poder e política na Inglaterra medieval (séculos XI-XIII)Ainda não há avaliações
- Filosofia Política (Kevin Daniel Dos Santos Leyser)Documento350 páginasFilosofia Política (Kevin Daniel Dos Santos Leyser)kev_colmanAinda não há avaliações
- Proletários das Secas: Experiências nas Fronteiras do Trabalho (1877-1919)No EverandProletários das Secas: Experiências nas Fronteiras do Trabalho (1877-1919)Ainda não há avaliações
- Alem Do Pos-Colonialismo... Kapil RAJDocumento12 páginasAlem Do Pos-Colonialismo... Kapil RAJBianca FrancaAinda não há avaliações
- Cemitério Horizontal – Poluição do solo e água subterrânea: diagnóstico do meio físico para enquadramento nos parâmetros da Resolução do CONAMA nº 335/03No EverandCemitério Horizontal – Poluição do solo e água subterrânea: diagnóstico do meio físico para enquadramento nos parâmetros da Resolução do CONAMA nº 335/03Ainda não há avaliações
- As Fazedoras de Histórias Agosto - 2015Documento118 páginasAs Fazedoras de Histórias Agosto - 2015Érika OliveiraAinda não há avaliações
- Bento XVI - Sobre Santo Alberto MagnoDocumento5 páginasBento XVI - Sobre Santo Alberto MagnoCarlos Junior BarrosAinda não há avaliações
- Bibliografia de Michel FoucaultDocumento50 páginasBibliografia de Michel FoucaultSilas SampaioAinda não há avaliações
- BASARAB NICOLESCU A Evolucao TransdisciplinarDocumento3 páginasBASARAB NICOLESCU A Evolucao TransdisciplinardjairAinda não há avaliações
- Realidade Mito - e - HorrorDocumento14 páginasRealidade Mito - e - HorrorHenderson AndradeAinda não há avaliações
- PlatãoDocumento19 páginasPlatãoSicia Evangelista BarcelosAinda não há avaliações
- Alberto Magno Fe RazaoDocumento13 páginasAlberto Magno Fe RazaootavioufmsAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e CidadaniaDocumento36 páginasDireitos Humanos e CidadaniaIranildo Alves CunhaAinda não há avaliações
- O Conceito de Saúde Ponto-Cego Da EpidemiologiaDocumento17 páginasO Conceito de Saúde Ponto-Cego Da EpidemiologiapoetafingidorAinda não há avaliações
- Iluminismo e ProgressoDocumento9 páginasIluminismo e ProgressoVivianne ResendeAinda não há avaliações
- Introdução À Filosofia Da MitologiaDocumento11 páginasIntrodução À Filosofia Da MitologiaThiago Ponce de MoraesAinda não há avaliações
- Significado de FilosofiaDocumento3 páginasSignificado de FilosofiaIssenguel AntónioAinda não há avaliações
- Cap 2 O CONHECIMENTO E A REFLEXÃO LÓGICADocumento4 páginasCap 2 O CONHECIMENTO E A REFLEXÃO LÓGICAJosé ManuelAinda não há avaliações
- Peter Burke RenascimentoDocumento32 páginasPeter Burke RenascimentoWheriston NerisAinda não há avaliações
- Filosofia 1 Mito e RazãoDocumento11 páginasFilosofia 1 Mito e RazãosuamagiaAinda não há avaliações
- A Reforma Protestante e A ContrarreformaDocumento8 páginasA Reforma Protestante e A ContrarreformaHenriqueAinda não há avaliações
- REVISTA - Instituto Cultural ''Logos'' 2022Documento408 páginasREVISTA - Instituto Cultural ''Logos'' 2022Diego TenórioAinda não há avaliações
- A Ética AristotélicaDocumento28 páginasA Ética Aristotélicaglautonvarela6090Ainda não há avaliações
- O Ato de FilosofarDocumento4 páginasO Ato de FilosofarJosé ManuelAinda não há avaliações
- QUESTÕES Filosofia AntigaDocumento11 páginasQUESTÕES Filosofia AntigaMarceloAinda não há avaliações
- Fenomenologia 1 PDFDocumento9 páginasFenomenologia 1 PDFAnastaciaAinda não há avaliações
- A Invenção Da TradiçãoDocumento36 páginasA Invenção Da TradiçãoFlávia Martins100% (1)
- 713 2572 1 PB With Cover Page v2Documento14 páginas713 2572 1 PB With Cover Page v2Halef BonifácioAinda não há avaliações
- Escola de FrankfurtDocumento11 páginasEscola de FrankfurtTinho OoAinda não há avaliações
- Como Ser Um Conservador, Anti-Socialista, Não Liberal (Roger Scruton)Documento8 páginasComo Ser Um Conservador, Anti-Socialista, Não Liberal (Roger Scruton)italo9fabian100% (1)
- Antropologia ResumoDocumento5 páginasAntropologia ResumoEllen StefanyAinda não há avaliações
- 4 Os Traços Constitutivos Da PessoaDocumento5 páginas4 Os Traços Constitutivos Da PessoaSabrina Fiorotti CarolinoAinda não há avaliações
- 1º Ano - SÓCRATESDocumento13 páginas1º Ano - SÓCRATESTiago SilvaAinda não há avaliações
- CHAUÍ. Notas Sobre UtopiaDocumento6 páginasCHAUÍ. Notas Sobre UtopiaDiego MauroAinda não há avaliações
- Cultura Um Conceito AntropológicoDocumento16 páginasCultura Um Conceito AntropológicoIgor SantosAinda não há avaliações
- MALDONADO-ToRRES, Nelson - Pensamento Crítico Desde A SubalternidadeDocumento26 páginasMALDONADO-ToRRES, Nelson - Pensamento Crítico Desde A Subalternidadejuliana.fmeloAinda não há avaliações
- Carta Apostólica-NO SEXTO CENTENÁRIO DA MORTE DE SANTA CATARINA DE SENA, VIRGEM E DOUTORA DA IGREJADocumento11 páginasCarta Apostólica-NO SEXTO CENTENÁRIO DA MORTE DE SANTA CATARINA DE SENA, VIRGEM E DOUTORA DA IGREJAgabrielfsilvaAinda não há avaliações
- História Da FilosofiaDocumento14 páginasHistória Da FilosofiaKaiqueSantos100% (1)
- Questionários 1 Ao 4 Capítulo - Livro Filosofia - Danilo MarconiDocumento5 páginasQuestionários 1 Ao 4 Capítulo - Livro Filosofia - Danilo MarconiSávio Melo100% (1)
- SOCIOLOGIA Avaliando e ProvaDocumento21 páginasSOCIOLOGIA Avaliando e ProvaCamila E-Thiago VerydomarAinda não há avaliações
- Filosofia MedievalDocumento17 páginasFilosofia MedievalMárcio de Carvalho BitencourtAinda não há avaliações
- Estudos Sobre A Ética de AristótelesDocumento85 páginasEstudos Sobre A Ética de AristótelesDiego TalesAinda não há avaliações
- FILOSOFIA FGV - LiçõesDocumento113 páginasFILOSOFIA FGV - LiçõesAtlhon Asael67% (3)
- Platao PDFDocumento3 páginasPlatao PDFFabio Henrique Gulo100% (1)
- Resumo IdeologiaDocumento3 páginasResumo IdeologiaAlamir Ribeiro JangoAinda não há avaliações
- Filosofia - Resumo O Inicio Da FilosofiaDocumento23 páginasFilosofia - Resumo O Inicio Da Filosofialuiz antonioAinda não há avaliações
- Ética Da Libertação de Enrique Dussel Caminho de Superação Do Irracionalismo Moderno e Da Exclusão Social PDFDocumento17 páginasÉtica Da Libertação de Enrique Dussel Caminho de Superação Do Irracionalismo Moderno e Da Exclusão Social PDFGuilherme BittarAinda não há avaliações
- História Das CivilizaçõesDocumento18 páginasHistória Das CivilizaçõesMarcelina Gonçalves GonçalvesAinda não há avaliações
- História Da Historiografia - ProgramaDocumento11 páginasHistória Da Historiografia - ProgramaGlaydson José da SilvaAinda não há avaliações
- Filosofia e ÉticaDocumento27 páginasFilosofia e Éticasamuel limaAinda não há avaliações
- A Diversidade Cultural e o Direito À Igualdade e À DiferençaDocumento11 páginasA Diversidade Cultural e o Direito À Igualdade e À DiferençacamilaAinda não há avaliações
- Encarnação e RedençãoDocumento25 páginasEncarnação e RedençãohenriqueAinda não há avaliações
- Estamira e Lixo ExtraordinárioDocumento13 páginasEstamira e Lixo ExtraordinárioBarbaraCopqueAinda não há avaliações
- D'aubignac - A Prática Do TeatroDocumento9 páginasD'aubignac - A Prática Do TeatroPedroB240% (1)
- Análise O Abajur LilásDocumento10 páginasAnálise O Abajur LilásPedroB24Ainda não há avaliações
- Crítica Feminista IIDocumento2 páginasCrítica Feminista IIPedroB24Ainda não há avaliações
- Revista KriteriumDocumento5 páginasRevista KriteriumPedroB24Ainda não há avaliações
- Modéstia CristaDocumento163 páginasModéstia Cristavitorcruz7Ainda não há avaliações
- Direitos Sociais Não Caem Do CéuDocumento23 páginasDireitos Sociais Não Caem Do CéuRodrigo De SenaAinda não há avaliações
- Doutrina Luciferianum 2020Documento40 páginasDoutrina Luciferianum 2020Fabricio JordãoAinda não há avaliações
- Proposta de Uso Da Etica Hacker Na Formacao de Estudantes Do Ensino Fundamental WSL 2015Documento13 páginasProposta de Uso Da Etica Hacker Na Formacao de Estudantes Do Ensino Fundamental WSL 2015Cintia Ribeiro Alher De OliveiraAinda não há avaliações
- Determinismo e Liberdade Na Accao Humana IIIDocumento5 páginasDeterminismo e Liberdade Na Accao Humana IIIJoão RodriguesAinda não há avaliações
- Capítulo A Ideologia Secular de A Era Das Revoluções de Eric HobsbawmDocumento3 páginasCapítulo A Ideologia Secular de A Era Das Revoluções de Eric HobsbawmmilenaAinda não há avaliações
- The Zodiac Queen 01 - Aries - Gemma JamesDocumento128 páginasThe Zodiac Queen 01 - Aries - Gemma JamesMarcellynaAinda não há avaliações
- Filosofia Africana 2023. III. Trimestre. 2. MANYANGADocumento13 páginasFilosofia Africana 2023. III. Trimestre. 2. MANYANGAliria UamusseAinda não há avaliações
- A Inconstitucionalidade Da Terceirização Na Atividade-Fim Das EmpresasDocumento15 páginasA Inconstitucionalidade Da Terceirização Na Atividade-Fim Das EmpresasDeyvid VilelaAinda não há avaliações
- Recifezes 2020Documento15 páginasRecifezes 2020TheRafahell00Ainda não há avaliações
- Referencial - Ensino Religioso - Anos FinaisDocumento12 páginasReferencial - Ensino Religioso - Anos FinaisArmando Campos BeloAinda não há avaliações
- As 10 Dimensões Da CabalaDocumento13 páginasAs 10 Dimensões Da CabalaBabá Erik de OgunAinda não há avaliações
- Estrutura Pessoa HumanaDocumento10 páginasEstrutura Pessoa HumanaKarenSanxellAinda não há avaliações
- A Importância Da Liberdade Religiosa Como Pilar Fundamental Dos Direitos Humanos (Corrigido)Documento3 páginasA Importância Da Liberdade Religiosa Como Pilar Fundamental Dos Direitos Humanos (Corrigido)Rogerio SantosAinda não há avaliações
- Agostinho Da Silva A Ultima Conversa PDFDocumento69 páginasAgostinho Da Silva A Ultima Conversa PDFMécia Sá100% (2)
- Simulado 1 2024Documento63 páginasSimulado 1 2024alisson OliverAinda não há avaliações
- HOBSBAWN, E.J.. Hannah Arendt e A RevoluçaoDocumento2 páginasHOBSBAWN, E.J.. Hannah Arendt e A RevoluçaoJulianaAinda não há avaliações
- Fundamentos Venda 1Documento60 páginasFundamentos Venda 1Lauro FráguasAinda não há avaliações
- O Memorando de DeusDocumento6 páginasO Memorando de DeusSandro Garcia RomeroAinda não há avaliações
- 2 - Formação Do Estado ModernoDocumento10 páginas2 - Formação Do Estado ModernoJorge Alexandre Oliveira AlvesAinda não há avaliações
- Inteligência EmocionalDocumento115 páginasInteligência EmocionalHellen Silva100% (1)
- Lei N. 13/2006: Transporte Colectivo de CriançasDocumento5 páginasLei N. 13/2006: Transporte Colectivo de CriançasHugo CostaAinda não há avaliações
- A Ética Da PsicanaliseDocumento48 páginasA Ética Da PsicanaliseMarco Antonio SantosAinda não há avaliações
- Os Graus Do Conhecimento SuperiorDocumento32 páginasOs Graus Do Conhecimento SuperiorGLAS100% (2)
- Saber EsDocumento17 páginasSaber EsGabriele OliveiraAinda não há avaliações
- SagradoDocumento41 páginasSagradoLucas GonçalvesAinda não há avaliações
- Introducao Ao DireitoDocumento17 páginasIntroducao Ao DireitoAli Braz Momade MucopotoAinda não há avaliações
- A Escuta e A Fala em Psicoterapia PDFDocumento94 páginasA Escuta e A Fala em Psicoterapia PDFCarla Almeida100% (4)
- AD1 - Teoria Da História - FichamentoDocumento5 páginasAD1 - Teoria Da História - FichamentoAnonymous k0RfMrUdfDAinda não há avaliações